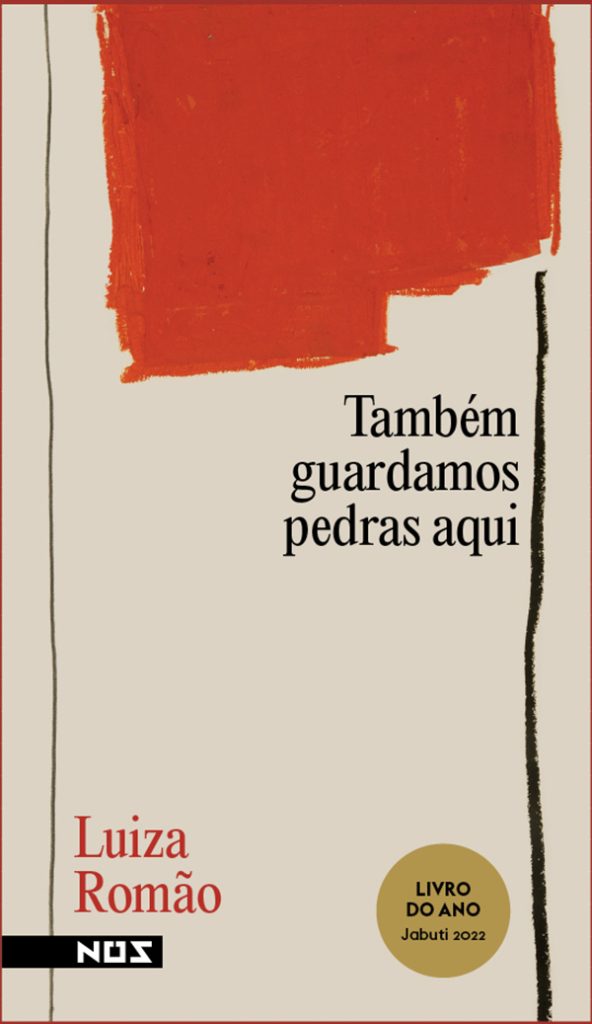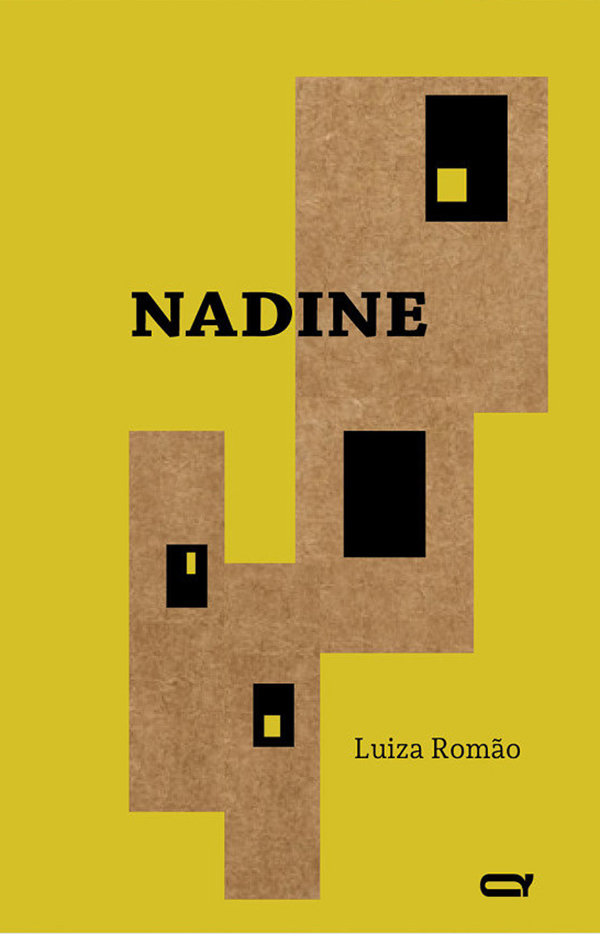No segundo canto do famoso poema O navio negreiro, do abolicionista baiano Castro Alves, personalidades canonizadas na história europeia, bem como na história da arte europeia, são lembradas. Temos ali mencionados feitos de Espanha, Inglaterra, França, Itália e Grécia. A estas duas últimas são dirigidas as menções às admiradas artes representadas em Tasso, poeta italiano, Fídias, escultor grego, e, claro, Homero, iniciador de toda uma tradição ocidental poética.
Esse é um momento no poema, publicado em 1869, em que as imagens dantescas do horror imposto contra negros africanos sequestrados e assassinados na travessia para o Brasil ainda não começaram a ser reveladas, algo que só ocorre do terceiro para o quarto canto.
O que vemos no quinto canto do Navio negreiro, depois de não mais restar dúvidas sobre a máquina de matar que movia a economia brasileira no período colonial, é um pedido de explicação à musa “Dizei-o tu, severa musa,/ Musa libérrima, audaz!”, como quem convoca a poesia para tentar entender a violência testemunhada em alto-mar. Por fim, no sexto e último canto o tom é de desolação e ira. Melhor seria não ter tido chegada de navegantes europeus aqui.
Nessa tônica, novamente ocorre uma menção à musa. A meu ver, uma ocorrência ambígua, pois a passagem faz ver que a musa chora e ao mesmo tempo sugere um desejo do poeta pelo choro: “Musa… chora, e chora tanto/ Que o pavilhão se lave no teu pranto!…”.
Se entendermos a musa não no sentido romântico que se convencionou no século 19, mas sim no sentido mais próximo dos gregos — a musa como o próprio artifício do poema, como quem dita os temas e os tons do poema — nos damos conta de que no texto do poeta abolicionista há uma fúria de desejo: o de que a própria poesia, junto com sua tradição helênica (entenda-se, a fundadora tradição ocidental), chorem, e por que não dizer?, sangrem, uma vez que testemunhas omissas do horror.
Mais de século e meio passado, vemos na poesia atual brasileira importantes nomes autodeclarando-se, ainda, poetas abolicionistas; é o caso mais deliberado de Ricardo Aleixo. Oras, está claro, é preciso se admitir ainda abolicionista porque estruturalmente essa história não ficou no passado, ela está aqui.
Nesse cenário, muita coisa tem acontecido em nossa literatura. Um crescimento do combate ético na esfera do estético tem pautado temas urgentes que passam pela denúncia ao racismo, ao feminicídio, à homo e à transfobia, à destruição da natureza e outros procedimentos assassinos ligados ao triunfo do capitalismo. E os prêmios literários também têm se revelado parte dessa percepção sensível e simbólica.
O livro do ano na premiação de 2022 do Jabuti foi o potente Também guardamos pedras aqui, da poeta paulista Luiza Romão. O livro venceu na categoria poesia e foi agraciado no prêmio principal.
A jovem poeta tem atuação num dos principais movimentos de poesia contemporânea do Brasil, o Slam, um movimento de poesia falada que implica os corpos, entenda-se o fisiológico e o poético, de pessoas da periferia de grandes cidades. A atuação de Luiza Romão enfatiza ainda mais a poesia falada por mulheres, numa declaração implacável de guerra contra a violência física e simbólica sofrida por elas.
Inteligência fina
Também guardamos pedras aqui, a exemplo de Navio negreiro, poema abolicionista do século 19, que tomamos de mote neste ensaio, evoca a musa para uma conversa, ou melhor, para um sarau. Todos os poemas do livro estão focados em alguma personagem da Ilíada, mitologia fundante da literatura ocidental.
Esse querer dialogar, gritar, chocar os corpos com o mito literário fundante, em tempos de fazer uma camada leitora branca e burguesa entender as importâncias das ancestralidades, revela inteligência fina de uma poeta que demonstra ter estudado uma dada história da arte não para apedrejar, antes, para fazer pensar, dançar, ver corpos negros, femininos, trans, poéticos. E quando menciono a fina inteligência não é para elogiar possíveis erudições, mas sim para tentar demonstrar o que sua poesia faz nesse sarau-livro.
As mulheres que viveram à sombra de Helena (mitificada em discurso masculino) são cantadas por Luiza Romão como num gesto não apenas de reconhecimento, mas também de cumplicidade. É como se a poeta soubesse de seus silêncios e as convidasse para gritarem juntas não apenas suas dores, mas também suas poesias, suas existências.
Ao apontar para o silenciamento dessas mulheres no mito fundante de nossa literatura, é a própria literatura ocidental que está em xeque. O livro começa com os seguintes versos: “a literatura ocidental começou com uma guerra”, sabemos, a de Troia. E mais adiante, no mesmo poema, “o livro permanece aberto vê/ é minha vez de contar a história”.
Artistas pulsantes sabem da força do simbólico em qualquer campo de batalha. Por isso Castro Alves se irrita com a musa e sua tradição; por isso Luiza Romão quer conversar e dar voz às mulheres preteridas pelos homens que estavam forjando um ideal de musa. Por isso ambos articulam poesia plástica e discursiva para criarem imagens do horror. No entanto, a força do livro da poeta contemporânea talvez esteja em não desejar que os mares fossem fechados. Antes, ela se esforça em estender as mãos para essas mulheres sangradas e caladas na edificação de nossa pretensa cultura. E faz isso, claro, colocando em suspenso ambas as histórias (que nunca são separadas), a do país e a de sua literatura.
Entretanto, quando lemos poesia feita por artistas que não cabem em um livro, mesmo que tentemos articular um bom argumento na esfera do poético-retórico — gesto confortável quando se lê de um lugar instituído como uma universidade ou jornal de literatura, por exemplo —, essas obras que falam sobre lugares de fala acabam explodindo, para leitores formados em tradição burguesa, o que poderíamos chamar de lugares de leitura. Ou seja, ao tematizar a tradição literária, com seus silêncios e violências, a poesia de Luiza Romão, por rebentar de um espaço-tempo que fissura o próprio lugar da literatura, acaba rearticulando não a história da literatura (pois esta não existe como uma entidade), mas sim a história da leitura.
Nossas formas de ler ao longo dos séculos é que determinam algo a que, ilusoriamente, chamamos de história cultural, e dentro desta a história da literatura. O que está em jogo hoje é o modo como lemos, mais do que a própria literatura (já que esta não tem uma essência). Prova disso é que vemos outras dores e outros problemas em textos já há muito consagrados por uma forma de ler que se voltava a outras questões.
Corpos estanhos
A poesia de Luiza é corpo ético e estético porque o transbordamento da performance das vozes ao texto escrito nos gera insegurança como leitores. As pedras guardadas deste lado do oceano são corpos estranhos a uma tradição literária pouco aberta a reconhecer-se falível e violenta também. As pedras do livro de Luiza são como as do meio do caminho (Drummond), bem como as que nos ensinam numa particular pedagogia (João Cabral), mas são também as que nunca atiramos contra nossas próprias janelas, ou tetos de vidro (como os do próprio modernismo brasileiro, outra construção fundante).
O verso que dá título ao livro vencedor do Jabuti ocorre em um poema intitulado (dedicado a) Andrômaca. Vamos a algumas passagens.
não conheci troia
ruínas a mais ruínas a menos
também guardamos pedras aqui
do outro lado do oceano
tudo que aprendi foi nesse alfabeto moderno
Embora a poeta reconheça não saber exatamente da dor de Andrômaca — personagem reduzida à esposa de Heitor, este, sim, herói virtuoso (ela, retratada como quem chora copiosamente a morte deste) —, dado que não pode saber da dor desse mito tão distante não apenas no tempo e no espaço, mas também na simbologia (diferente da personagem, a poeta é guerreira), a poeta adverte que também aqui, no Brasil do século 21, há histórias de ruínas, de cujos restos juntamos pedras para escrever outra história. Essas pedras, fica sugerido, são também das ruínas do modernismo (nossa mitologia) e da modernização perversa e igualmente excludente e assassina:
nossos despojos é troia
minhas amigas encurraladas
na mesa do chefe é troia
a jovem saco preto no rosto
festa de luxo é troia
as baratas roendo o cu
da guerrilheira comunista é troia
A ambivalência da palavra “despejos” nos leva a pensar na herança cultural grega, mas também em uma espécie de prisioneiro de guerra. É como se trouxéssemos Troia não apenas como herança cultural, mas também como um inimigo íntimo. Do qual reconhecemos a influência, mas precisamos nos livrar. As notas de atualidade da violência no proceder da polícia (saco preto na cabeça) e dos agentes do estado (torturas na ditadura civil-militar) apontam para o espólio do qual precisamos nos ver livres.
Espólio miserável
A pergunta que talvez resistamos a nos fazer é se conseguimos nos desfazer desse espólio miserável sem colocarmos no mínimo em dúvida nossa própria história literária. No entanto, sugerimos acima que a não existência de qualquer essência a que possamos chamar de literatura mostra que o que está posto em xeque, em verdade, é a leitura. Ou seja, somos nós mesmos com nossos procedimentos (burgueses) de criação de sentido no campo do simbólico que estamos em questão.
Vimos aprendendo com artistas importantes como Emicida que, na impossibilidade de mudarmos os dados do passado, podemos mover as peças do presente. Entretanto, também sabemos que não se inaugura uma história no presente sem esgarçarmos algumas matrizes sedimentadas de sentido no passado, ou seja, sem ajustarmos umas contas com o engodo simbólico que nos envolve.
Assim, o rapper encheu o Teatro Municipal de corpos negros para entendermos suas ausências no mítico movimento que supostamente modernizaria nossa cultura (a Semana de 22). Em chave parecida, o Slam vem articulando corpos narrativos poéticos em lugares onde esses mesmos corpos parecem figurar apenas como força de trabalho, a saber, os espaços públicos nos centros das grandes cidades.
Assim como o músico não faz de seu trabalho uma declaração de guerra contra o modernismo (ciente de que não se luta contra o que não está mais aqui), mas sim uma declaração de vida negra no centro da vida cultural do presente, aproveitando a oportunidade para mostrar em seu documentário que essas vidas negras já faziam coisas importantes pela cultura do Brasil no tempo do modernismo, Luiza Romão, que agora esgarça a cena poética contemporânea, mostra também que dentro e fora do teatro, ou dos lugares instituídos da história cultural, o corpo ontologicamente violentado das mulheres e das pessoas de vivência nas periferias inscreve-se como poesia combatente na esfera pública.
Essa chegada da voz (que é corpo) e da poesia (que também é corpo) aos espaços onde mulheres e negros são sangrados desloca em definitivo o lugar de leitura da poesia. E não me refiro apenas à possibilidade de encontrarmos uma garota falando seu poema de liberdade numa praça pública da cidade, refiro-me também a um necessário desconforto com o qual leitores críticos, sedimentadores de histórias, terão de lidar, uma vez que também fomos aculturados a nos pensar como filhos da Grécia.
É com peito aberto que precisamos admitir que ainda estamos aprendendo a ler artistas com essa explosão de vidas incorporadas em vozes as mais diversas. Diversidade essa que não aparece trabalhada apenas no recorte temático, mas também em firme proposição formal.
Tom narrativo
Vimos chegar em 2022 o quarto livro de poesia de Luiza Romão e ele é formalmente bem diferente do premiado Também guardamos pedras aqui.
Nadine se apresenta em tom bastante narrativo. E de um tipo de narrativa bastante particular, a policial. O livro pode ser lido como um grande poema em que a protagonista-eu-lírico acompanha as sondagens e especulações acerca de seu próprio assassinato. Este, sabemos já no primeiro poema, veio acompanhado de violência sexual.
A montagem do livro faz transbordar estratégias que seriam da ordem da literatura em prosa, como foco narrativo, tempo não-linear, narradora em primeira pessoa, investigação etc., na composição de um texto que mais uma vez chama para o corpo da mulher.
As especulações entorno das eventuais causas e procedimentos do assassinato revelam o machismo capilarizado no âmbito jurídico, representado aqui pelas hipóteses investigativas que sugerem ser a vítima culpada pela violência sofrida: “uma vítima não frequentaria bares tão duvidosos como esses”. Ou na passagem em que homens limpam a cena do crime apagando possíveis evidências de crime sexual:
a cena do crime é limpa
tão organizada quanto o set de Scorsese
não há camisinhas não há sêmen
os homens são tantos quanto invisíveis
Mas se engana quem pensa encontrar no livro uma prosa cortada em versos a esmo, sem sagacidade formal. Num soneto em nove sílabas poéticas, com esquemas regulares de rimas, a poeta parece colocar na voz de uma personagem, um vizinho punheteiro, a mais atroz concessão à imoralidade de todas as ordens.
ó coxas daquele apartamento
sua imagem em meu azulejo
é inspiração de vis manejos
sonhos ébrios sem ressentimentos
ó dona de tão formosas coxas
inesquecível pelo vermelho
no vídeo, saltam as unhas roxas
A forma poética conhecida pela cerimoniosidade é usada aqui na descrição da mais alta destruição de qualquer conduta moral ou ética. O vídeo da investigação (a seção em que o poema se encontra no livro se chama Investigação) parece ter parado em um site pornográfico e o morador do número 12 não hesita em se masturbar olhando imagens do corpo de Nadine falecido. Embora a voz poética narrativa que predomina no livro seja a de Nadine, neste soneto a impressão que fica é a de que a voz se mistura à do personagem P., que se admite atraído pelas imagens do vídeo.
Eis uma marca da poesia de Luiza Romão, vísceras da vilania sempre à mostra, sem meias palavras, afinal, toda a violência disparada contra o corpo da mulher também vem sendo feito sem a menor “cerimônia”. Aqui o tema do poema trai o decoro da forma. Uma bela mostra de poesia consciente.
Outro momento de intensa dureza e de poesia memorável em Nadine é o poema final, em que diante do corpo caído da protagonista juntam-se muitos outros corpos de mulheres violentadas.
me deito na transversal
lana sobre meus ombros
estamos furiosas
paramos
os primeiros motores avançam
permanecemos imóveis
[…]
uma mulher aparece do outro lado da calçada
tem o estômago perfurado por facadas
e se deita conosco
[…]
outra mulher surge
[…]
já somos mais de vinte
{…}
nossos corpos ocupam
todas as faixas
somos centenas
[…]
somos milhares
[…]
lidem agora
com os corpos
O espólio escancarado pela poesia de Luiza Romão passa pela tradição literária, cúmplice do horror (em consonância com Castro Alves), como se pode ver em Também guardamos pedras aqui, e desemboca nos corpos de mulheres assassinadas estendidos no asfalto, atrapalhando o trânsito, conforme música de Chico Buarque. Mas desta vez, ou seja, em Nadine, esses corpos parecem estar sendo colocados, sim, na responsabilidade de quem mata e de quem opera como cúmplice na sociedade do extermínio, a saber, uma dada sociedade que se acha burguesa e não passa de escravista ainda.
O trabalho de artistas como Luiza Romão, Emicida, Ricardo Aleixo, Castro Alves, Jaider Esbell, Edimilson de Almeida Pereira, Angélica Freitas e muitas outras vindas dos diferentes centros de forças urbanas e ontológicas problematizam e mobilizam não apenas um lugar de fala, mas também, consequentemente, um lugar de leitura, um lugar de escuta. Um lugar de corpos diversos.