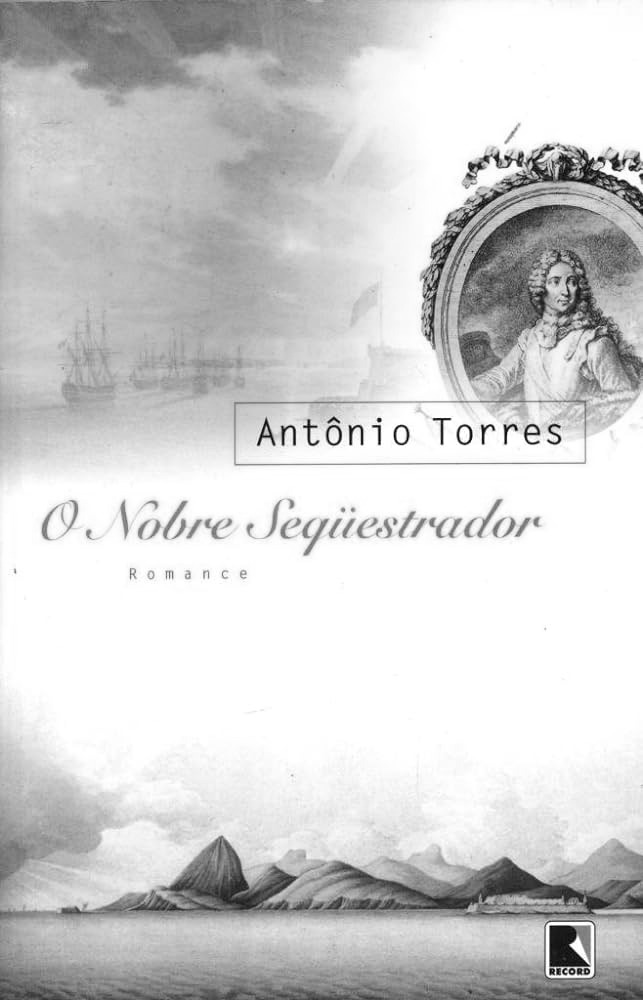Muitos escritores e leitores me cobram uma crítica que dialogue com o escritor sujeito à análise, no sentido de fazer com que ele não só perceba os possíveis defeitos da obra como também os corrija numa próxima vez. Há os que vão além e pedem para eu sugerir correções nos livros que analiso. Todos dizem que preciso fazer uma crítica construtiva. Não concordo.
Antônio Torres, autor de O nobre seqüestrador, cita como exemplo de crítica construtiva Edmund Wilson, que dava pitacos nas obras que analisava. Chama isso de parceria crítica. F. Scott Fitzgerald teria dito, à morte do crítico americano, que ele, o crítico, tinha sido seu melhor professor. Ainda assim, não concordo.
Não é teimosia. Acho simplesmente que a tal da crítica construtiva não tem razão de ser já que o livro analisado está pronto e não vai, sinceramente, ser rescrito e reimpresso só para que as ponderações daquele que o analisou sejam levadas a sério. Um livro é um produto acabado, sobre o qual o crítico tem de dizer alguma coisa. Ou melhor, uma entre duas coisas: é bom ou é ruim. E por quê, logicamente. Não cabe a quem analisa ficar ensinando escritores a não cometerem erros básicos.
Até porque eles vão cometer os mesmos erros, isso é inegável. Não conheço (e desde já peço desculpas pela possível, mas improvável ignorância) nenhum escritor que tenha levado a sério os comentários “construtivos” de seus críticos a ponto de não repeti-los em obras seguintes. Até porque aquele que fala mal de uma obra sempre recebe o qualificativo de detrator, algoz, carrasco e coisa e tal. E todo mundo sabe que escritor é um bicho orgulhoso, incapaz de dar a mão à palmatória e dizer, ainda que de si para si: “É, ele tem razão”.
Para que escrever crítica literária, então? Ora, ao leitor a crítica serve apenas para corroborar opiniões anteriores. Um leitor de O nobre seqüestrador não deixará de louvar a obra de Antônio Torres porque eu, crítico neste momento, aponto falhas aqui e ali e acolá. E aquele que porventura comprar o livro e achar que foi um mau negócio só fará encontrar na crítica negativa um alicerce para seu arrependimento.
Pelo que vocês puderam perceber, esta é uma crítica negativa a O nobre seqüestrador.
Mas vou tentar acreditar que o escritor de fato leva a palavra do crítico a um ponto tal que o faz perder uma noite de insônia revendo todos os pontos falhos, corrigindo aqui e ali, anotando em papeizinhos espalhados pela casa características que não devem — não devem! — ser repetidas nas obras posteriores e, no fim de tudo isso, liga para o crítico para agradecer o seu trabalho de “professor”. Repito: não acredito nisso. Vou apenas me deixar levar pela minha imaginação hoje. Será, no mínimo, divertido. Antes, no entanto, é preciso dizer que não acho, de modo algum, que este cenário de parceria seria o ideal da produção literária. O crítico, a meu ver, não deve satisfação ao escritor e nem tampouco o escritor deve satisfação ao crítico. Ambos devem satisfação somente ao leitor (o escritor) e ao livro (o crítico).
Neste trabalho de parceria, minha primeira atitude deveria ser deixar claro ao escritor (e ao leitor, por conseqüência) que nada tenho contra ele. Sei que parece meio cabotino dizer isso, mas o faço para o bem das palavras que se seguem. Antônio Torres é boa praça, como se diz. Um homem risonho, que me atende com a velha e apreciada simpatia baiana. É, além disso, um homem de expressão nas letras nacionais, a qual não se pode nem deve ser ignorada. Seu livro Um cão uivando para a lua é um clássico moderno, que mereceu inclusive reedição comemorativa a seus 30 anos. Essa terra, por sua vez, arrancou lágrimas e sorrisos de toda uma geração de leitores. Antônio Torres é, portanto, escritor digno de respeito quando se fala na moderna literatura brasileira. Pena que tenha se dado ao trabalho de escrever O nobre seqüestrador.
Uma dúvida tem me tomado de assalto nos últimos tempos. Às vezes estou tomando um banho ou escovando os dentes ou almoçando ou assistindo a um filme quando me pergunto: “Tem o escritor renomado, dono de uma Obra (com ó maiúsculo mesmo), o direito de denegrir aquilo que construiu ao longo dos anos?”. Claro que é uma pergunta retórica. Não poderia haver um júri capaz de decidir se esta obra é inferior ou não às demais. Seria autoritário de um modo plausível somente num pesadelo orwelliano ou kafkiano. Mas voltemos à pergunta: “Tem um escritor o direito de jogar para o alto, por descuido ou má vontade ou birra ou sei lá o que tudo o que construiu em sua trajetória literária?”. Na minha opinião, não tem.
Se me perguntarem por quê, vou ser sincero em dizer: não sei. Talvez porque fira meu orgulho de leitor (mais do que o de crítico, se é que ele existe). Afinal, eu aposto nas obras futuras baseado nas obras passadas, num trato que, dependendo do autor, é capaz de durar por décadas. Com que direito, me pergunto, vem o escritor e me desaponta?
Pois é justamente isso que faz Antônio Torres, o simpático, com seu O nobre seqüestrador: ele nos desaponta. Não há ali nem um pouco do autor de Um cão uivando para a lua ou Meninos, eu conto. Página após página eu tentei encontrar o escritor que recebeu o prestigiado Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Mas… nada. Desta vez, a pena saiu torta.
Aproveitem, leitores, para respirar enquanto eu faço a sinopse do livro, aos desavisados:
O nobre seqüestrador conta a história do corsário René Duguay-Trouin, que seqüestrou toda a cidade do Rio de Janeiro no início do século 18. Na primeira parte do livro, ele é uma estátua na ilha de Saint-Malo que fala aos turistas locais sobre suas aventuras. Depois, há o mesmo relato, só que na voz de um narrador onisciente, um dos integrantes da fragata do bandido; e, por último, é a cidade do Rio de Janeiro que conta sua história.
O primeiro problema do romance é justamente sua opção [do romance? do autor?] por se enquadrar tão perfeitamente no gênero histórico. Wilson Martins — crítico ao qual quase ninguém mais dá crédito, por conta de picuinhas político-literárias que não vêm ao caso — diz, com propriedade, que romance histórico, quase sempre, é sinônimo de falta de imaginação. Claro que a afirmação tem o peso de uma generalização — e Deus sabe o quanto as pessoas não entendem que uma generalização pressupõe as exceções de praxe —, mas no caso de O nobre seqüestrador se mostra verdadeira. Isso porque Antônio Torres se apegou ferrenhamente aos fatos que os alfarrabistas registraram. Vocês querem um contraponto? Pois bem, eu lhes dou um contraponto.
Que tal o livro A república dos bugres, de Ruy Tapioca? É romance histórico, sim, mas com inventividade de sobra. O autor, neste caso, dá de ombros para os historiadores e coloca Machado de Assis em sala de aula com outros aluninhos — isso para se ater apenas a um aspecto, o que me vem mais fácil à memória. Que tal, então, À mão esquerda, de Fausto Wolff? Neste romance, uma espécie de épico do self, o escritor usa os fatos históricos à revelia de sua imaginação. O escritor não se torna, assim, refém da história; por outra, é ele quem molda a história a seu bel-prazer.
Fazia tempo que eu não ouvia esta expressão “bel-prazer”.
Só mesmo no Brasil (ou eu estaria sendo injusto com nosso País varonil? Provavelmente…), onde o bacharelismo é uma verdadeira epidemia que assola o sistema nervoso central da nação, para os historiadores terem de dar o aval para este ou aquele romance. E para, conseqüentemente, os escritores se sentirem obrigados a dar algum tipo de satisfação sobre suas licenças poéticas. No caso de Duguay-Trouin, seria preferível vê-lo desfilar num entrudo anacrônico, bem no meio de uma Avenida Rio Branco inexistente, ou então vê-lo tomando um dry martini nos quiosques da Lagoa ou ainda dançando com as portuguesas esposas dos nativos foragidos nos salões do Copacabana Palace. Se a matéria-prima do escritor, por forças que não vêm ao ponto, é a história, que ao menos ele faça dela, da história, gato e sapato, que a submeta à ditadura da imaginação — a única aceitável, em literatura.
Seria louvável, pois, todo o apuro historicista de Antônio Torres na composição do romance, não fosse perceber nisso certa (ou total) subserviência àqueles que querem controlar a “verdade histórica” para além de suas teses ininteligíveis. Pergunto ao escritor (e, por extensão, ao leitor mais exigente): quem deu poder de veto aos historiadores para que vetassem sua liberdade de imaginação de modo tão autoritário e, por que não?, nocivo?
Eu é que não fui. Insisto: historiadores de um lado, escritores de outro. O rigor histórico, num romance, geralmente (sim, é uma generalização, com as exceções de praxe) faz dele apenas um relato um pouquinho mais interessante e quiçá mais instrutivo do que os contidos num calhamaço mofado numa biblioteca de universidade, intitulado “Uma interpretação lacaniana das invasões estrangeiras: o Rio de Janeiro violentado pelo corsário de Saint-Malo”. Ou coisa assim.
No caso de O nobre seqüestrador, entendo que a opção de Antônio Torres se deu pela ambigüidade inerente ao personagem. A começar pela profissão, por assim dizer, do homem. Era corsário, o moço, e não pirata, como podem imaginar alguns. A diferença está na submissão de Duguay-Trouin à autoridade real. Vamos pôr nestes termos: os piratas trabalhavam para a iniciativa privada, enquanto os corsários eram funcionários públicos. Há quem veja aí certa ironia na escolha do autor em ter como personagem de um romance que fala, na verdade, sobre a violência a que está submetido o Rio de Janeiro. Afinal, a cidade é tomada de assalto por um funcionário público. Um funcionário público! Eu rio.
Existe ainda um componente, como direi, existencial na escolha de Duguay-Trouin. Moço cujo destino primeiro era o sacerdócio, se tornou uma espécie de delinqüente juvenil e foi parar nos navios como castigo materno; fez o sucesso que fez saqueando cidades e abordando navios mercantes de outros países, aspirou a cargos na corte do rei e, por fim, morreu na miséria. Ascensão e queda, aquela coisa toda. Dou a mão à palmatória: qual escritor não viria neste personagem um épico pronto, à espera somente de uma mão abnegada?
Eu. Mas eu não sou um escritor, e sim um crítico.
Por trás da ambigüidade existencial, por assim dizer, do corsário René Duguay-Trouin, há um discurso bastante atual no romance de Antônio Torres. E eu olho para o homem que não consegue disfarçar certo sotaque baiano (eu não consigo disfarçar meu sotaque curitibano tampouco), que sorri fácil, que é fã de Thelonious Monk e pergunto, com todo o respeito que me é possível, por favor: “Por quê?!”.
Não entendo, realmente, a idéia de compromisso com a realidade embutida no paralelo traçado pelo autor entre o seqüestro de toda uma cidade no século 18 por um corsário armado até os dentes (com o perdão do lugar-comum) e o seqüestro desta mesma cidade, quase trezentos anos mais tarde, por traficantes não menos armados. Não faço concessões, por isso não vou aqui dizer que aceitaria o livro se ele fosse somente a história de Duguay-Trouin, sem o paralelo. Não. Acho a história em si bastante insípida, por causa do rigor histórico e tal, mas a tentativa de Antônio Torres de criar um fado para a cidade é a parte menos aceitável de O nobre seqüestrador.
Um escritor com um nome consagrado em qualquer compêndio de literatura brasileira do século 20 não pode denegrir assim sua obra, somente para ser inserido em certo grupinho que acha que o que faz, em literatura, é pensar o seu País. Ao usar o paralelo entre uma e outra violência, Torres abdicou de toda uma tradição de romances de cunho social que não descambam para o explícito. O explícito é vulgar. Ao explicar, em pormenores, que a violência (o saque, o seqüestro etc.) faz parte da danação do Rio de Janeiro, ele perdeu a chance de dizer isso com a elegância do silêncio, do escárnio, da galhofa, da ironia e da melancolia. Pôs tudo em palavras, umas após as outras. E ainda o fez usando a linguagem jornalística, o que empobreceu ainda mais o resultado final.
Qualquer pessoa que esteja atenta à produção literária brasileira atual (eu não estou, graças a Deus) sabe que parte do prestígio dela vem da exploração, explícita e vulgar (explícita porque vulgar) da violência, do discurso social, da mitificação do bandido. Mas é um prestígio falso, galgado num tempo efêmero, sustentado por aquilo que é passageiro e que não dirá mais nada aos leitores futuros (a não ser, claro, aos historiadores, mas isso é outra história). Antônio Torres não precisa se igualar aos escritores que debatem cidadania. Porque provou, em outros livros, que sabe produzir algo que zela pela perenidade.
Neste ponto, aliás, O nobre seqüestrador comete o equivoco de adequar a linguagem de seu narrador primeiro, o corsário, ao coloquial contemporâneo brasileiro. Caso a opção tivesse sido, desde sempre, a inventividade, isto é, tivesse o autor se libertado das amarras do romance histórico conservador, esta teria sido uma opção acertada. Como, no entanto, ele se apega a fatos e a datas e a exatidões de toda sorte, ouvir o corsário, na forma de estátua, falando como um brasileiro médio do século 20 é, no mínimo, risível, porque o livro, assim, se mostra indeciso entre o verossímil e o inverossímil. Trata-se de uma adequação, simplesmente. Verossímil como é o livro (apesar da personificação da estátua e, mais adiante, da personificação de uma cidade), deveria o corsário falar como tal.
Isso sem contar lugares-comuns que doem no ouvido algo mais treinado. Quando eu leio o personagem, homem do mar, dizer que deixou uma mulher “a ver navios”, sinto que há algo de errado no livro. Algo de muito errado.
Pronto. Cheguei ao fim. Mas, como é que se finaliza uma parceria destas? Tenho eu de fazer uma espécie de sumário final? A ele, pois: nada de romance histórico, a não ser que seja para brincar com a história; nada de discurso social, baseado em premissas questionáveis; nada de linguagem coloquial se a opção do livro é pelo verossímil; e, por favor, da próxima vez, nada de abaixar a cabeça deste modo para os historiadores. Eles não merecem (outra generalização com as exceções de praxe). Certo, parceiro?