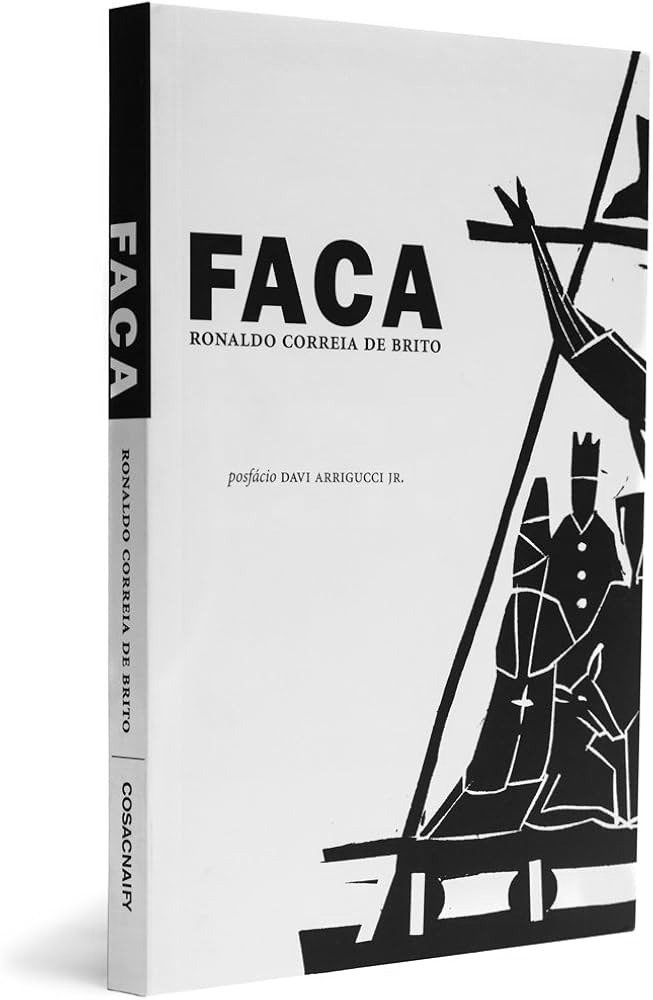Foi abrir o livro e sentir o ardido do sol e a secura no chão. Não que todas as histórias que Ronaldo Correia de Brito assentou em Faca fossem exclusividade do agreste. Poderiam, pelo contrário, acontecer em qualquer lugar do mundo. São histórias de amores frustrados, vidas frustradas, dor, solidão, perdas, vinganças. Coisas da vida. Comuns. Coisas que não têm terra natal. Não têm exclusividade geográfica. Mas calharam de cair ali pros lados do Ceará, terra natal do escritor.
Por força maior, as narrativas carregam no sotaque e no tom marrom-avermelhado. É que fica mais fácil escrever com cenários conhecidos. Com cheiros, cores e palavras familiares. Porque as palavras, mesmo bem escolhidas e aplicadas carinhosamente sobre a folha de papel, vão registrar, como o próprio Ronaldo Correia de Brito disse em entrevistas, nada mais do que a memória inventada.
Não há mais muita novidade, em literatura. As histórias são parecidas. Têm panos de fundo diferentes, mas, lá no fundo, se parecem. Sempre. Por mais que se fantasie e que se mude de cenário, elas estão lá. As mesmas histórias. Que refletem a vida. É isso. A arte sempre imita a vida, já se disse várias vezes por aqui. O que vai fazer a diferença — e toda a diferença, diga-se — é a forma como essas histórias, tão comuns, são contadas. É a escolha das palavras certas, com ritmo certo e corte no lugar exato, que dará o peso e a medida a uma obra. É isso o que diferencia as peças de Shakespeare das de Molière, ou as crônicas cotidianas e bem humoradas de Millôr Fernandes e de Luis Fernando Verissimo, ou ainda — comparação meio absurda, mas vá lá — as mulheres de trinta anos de Balzac e de Helen Fielding.
Também é essa escolha que diferencia os escritos de Ronaldo Correia de Brito e Dalton Trevisan, por exemplo. Os cenários são diferentes: um trabalha com o sol ardido, com o calor e a fala mansa de quem mora no Norte do País, com o vermelho; outro, com o sol brando, com o frio e o sotaque leite quente, com o azul. Mas os temas são os mesmos. Traição, abandono, apego, amor, saudade…
Os dois escrevem, por exemplo, sobre a dor de um amor não correspondido. Sobre a morte — como milhares de outros escritores. O cearense prende-se mais aos detalhes. […] “Livino olhou a esposa com paciência, possuído de uma ternura de marejar os olhos em lágrimas. Estirou a mão até seu rosto e virou-se para a sala, onde procurou o instrumento que daria fim àquela agonia. Na escuridão, decidiu-se por um dos dois rifles e duvidou se tinha feito a escolha certa. No segundo passo em direção ao terreiro pensou novamente se seria mesmo aquela arma a pôr fim ao seu calvário. Quis voltar, mas a escolha estava feita. Olhou para trás, achando que Aldenora estava a seu lado. A mulher ficara no quarto. […]” (A escolha, p. 95) Trevisan, ao contrário, vai direto ao ponto. “Bilhete deixado sobre a tevê: ‘Com esta faca que você me deu, hoje faço o que você queria. Vou de terno azul, assim você pediu, e gravata preta. Ao encontro do teu primeiro marido, que você matou igual a mim. Não fique sossegada. Eu volto, querida. Para deixar você louca e te levar comigo. Você me odeia. Eu te amo. João’.” (111 Ais, L&PM, p. 111) É isso. As memórias de cada um, inventadas a seu modo.
O livro do médico-dramaturgo-cineasta-escritor cearense reúne 11 contos. Bem escritos — mas, como em todos os livros de contos, alguns melhores do que outros. Com palavras escolhidas a dedo. Bastante visuais (por isso dá para sentir o ardido do sol e a secura do chão). É possível ver a pele morena das personagens. E sentir suas angústias. Começa com A espera da volante, que conta a história de um Velho calmo e bonachão que deu guarida a um fugitivo da polícia e espera, pacientemente, a visita da volante policial que procura o criminoso e deixa um rastro de sangue por onde passa. História simples, mas que prende a atenção. “[…] Ninguém sabia há quanto tempo o velho estava ali. Eram tantos os que passavam por sua porta, dormiam no seu alpendre, falavam para ele ouvir. O mistério de sua vida despertava boatos […]” (p. 14)
O conto seguinte é o que dá nome ao livro. É um dos mais fracos, no entanto. Foi dividido em duas partes, escritas de forma intercalada: na primeira, ciganos encontram uma faca numa casa que diziam ser amaldiçoada; na segunda, a história da faca. Há anos, um crime. Hoje, a casa e a faca amaldiçoadas. Idéia interessante. Mas que acaba se perdendo, nas idas e vindas do texto.
Em Redemunho, outro bom conto, o tédio e um segredo rondam a vida de mãe e filho em uma casa velha, cheia de lembranças. Uma das histórias mais conhecidas de Ronaldo Correia é Deus agiota, já publicado em jornais do nordeste brasileiro. Fala de João Emiliano, que ama Maria Madalena mais do que a própria vida ou a vida dos 11 filhos. Doente, Maria sobrevive graças aos insistentes pedidos de João, feitos diretamente a Deus. Mas Ele cobra suas promessas com juros.
O dia em que Otacílio Mendes viu o sol lembra bastante as histórias de Dalton Trevisan. Otacílio vivia ameaçando se matar. Mulher e filhos, só na espera do tiro fatal, que nunca chega. “[…] Não era de agora que Otacílio Mendes ameaçava se matar. — Pois morra de uma vez — instigava Dolores, duvidando da coragem do gesto. Qualquer morte é preferível ao suspense de teia de aranha em que vivo nessa casa. Não bastassem doze filhos para cuidar, doze machos que tomam café, almoçam e jantam, ainda tenho que ouvir ameaças.[…]” (p. 64)
Entre os contos, um é particularmente belo. Mentira de amor fala de esperança, mesmo que de uma forma meio torta. Juvêncio Avelar trancou a mulher Delmira e mais três filhas desde a morte de uma de suas meninas. Viviam em um mundo à parte, as quatro. Vestiam-se com roupas fora de moda e só sabiam do mundo exterior o que ouviam através do muro. Anos e anos viveram assim. Até que um circo se avizinhou da casa. “[…] — Senhoras e senhores! Respeitável público! Teremos agora a maior atração do Grande Circo Nerino. Com vocês, os irmãos Macedônios no tríplice mortal!
Sofrendo a ansiedade de quem só imagina os perigos, mãe e filhas fechavam os olhos, suspensas no rufar dos taróis. Um grito uníssono da multidão, seguido de aplausos frenéticos, indicavam que os irmãos tinham sido felizes no seu intento. Comovidas, a mulher e as três crianças também aplaudiam os Irmãos Macedônios. […]” (p. 105)
O conto que fecha o livro, Lua Cambará — que virou filme em 1975 —, é rodeado de mistérios, mortes, dores e angústias. Também, assim como A faca, é uma narrativa intercalada em dois tempos. Mas diferentemente da primeira, a história não se perde. Fala de Lua, uma mulher sertaneja forte e determinada, mas dilacerada por um amor não correspondido. “[…] De tão velha, Lua nem parecia a mesma mulher. Desde que morrera o único amor de sua vida cismava em silêncios, vestida de preto como uma viúva, os cabelos embranquecidos precocemente. O único hábito antigo que conservara era o de espancar um negro todos os dias até que desfalecesse. Convocava os outros infelizes para vê-la no seu papel de tirana. Não se sabia de que forças provinham seu poder. Uma mulher sozinha, sem um único parente, assistida por homens e mulheres que a odiavam e a temiam.[…]” (p. 159)
Pela história de Ronaldo Correia, mesmo depois de morta, Lua vagava pelas terras que um dia foram suas. Assim como a loira fantasma, que assombrava os taxistas curitibanos, em 1975, mesmo ano em que a história cearense foi lançada no cinema. A história da assombração curitibana também virou filme, em 1991. Arte feita de memórias semelhantes, registradas em lados opostos do mapa do Brasil.