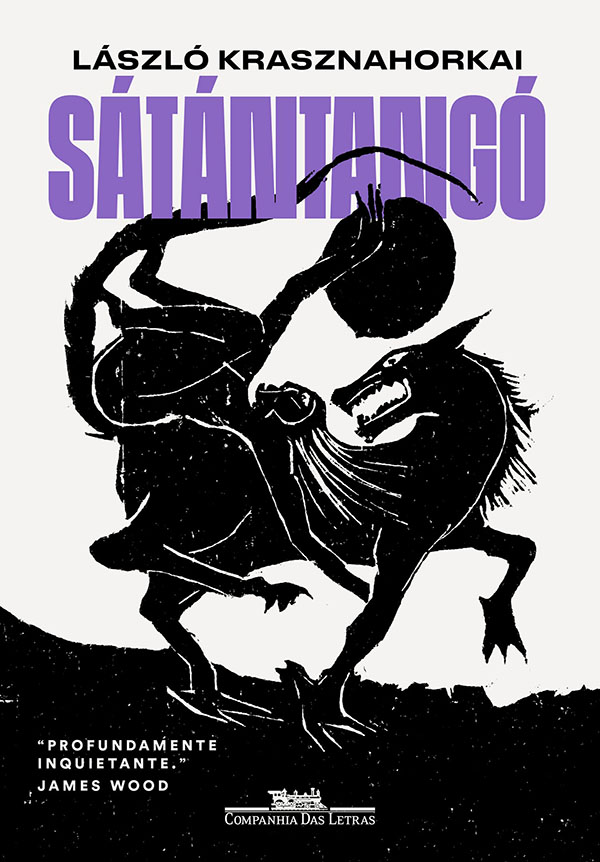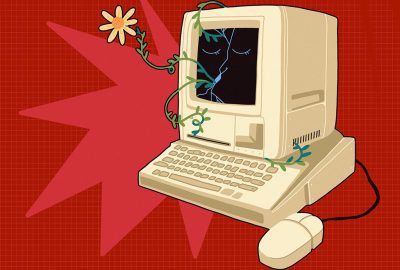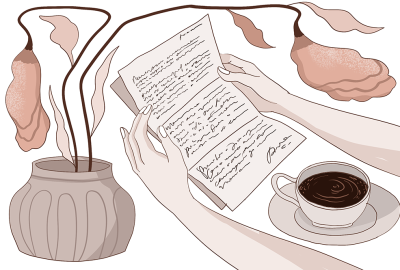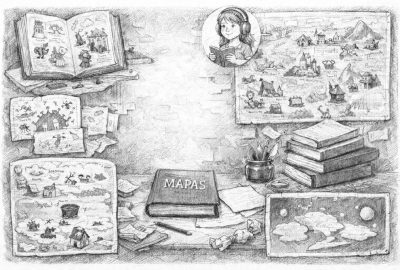Para Kafka, as primeiras horas do dia eram sempre as piores. Nesse momento, a existência paira entre o sono interrompido e a confusão de uma realidade abrupta. Não é de estranhar que A metamorfose e O processo comecem com seus personagens sendo jogados a um mundo caótico tão logo acordem — Gregor Samsa se transforma em um inseto monstruoso e Josef K. é acossado por dois policiais. Kafka traduz com perfeição o pesadelo da modernidade — as obrigações sociais, as relações familiares, os vínculos outros, a sensação de não pertencer a lugar algum — e, ao mesmo tempo, permite que o absurdo seja transformado em arte, abrindo caminho para autores como Samuel Beckett, Paul Auster, Haruki Murakami e László Krasznahorkai, vencedor do Nobel de Literatura em 2025.
Por sinal, Krasznahorkai é um discípulo do tcheco, talvez o último que tenha conseguido absorver a barbárie kafkiana e transportá-la para um universo próprio. Sátántangó, seu romance de estreia e obra mais conhecida, é a prova de que o húngaro havia entendido como poucos o espírito do mestre. O livro, que narra a história de um estranho que chega a uma aldeia inominada e passa a controlá-la, também começa com um personagem sendo acordado em uma cena caótica. O leitor, que é convidado a entrar em uma dança sombria, é também retirado de qualquer torpor e invade esse mundo cinza e chuvoso. Não existe indiferença na literatura de Krasznahorkai: é pegar ou largar.
Em termos estruturais, Sátántangó é composto de duas partes, cada uma com seis capítulos, formando um tango, com movimentos de expansão e retração. As ações vão adiante para que retornem ao ponto inicial. Irimiás, o visitante, é quem comanda a movimentação. Ao mesmo tempo sedutor e opressor, ele se vale das falhas morais dos aldeões para ir cavando seu espaço na vida pública e privada daquela gente. Em simultâneo, Irimiás é a síntese mais que perfeita da situação húngara do pós-guerra. Durante o conflito, o governo húngaro perseguiu judeus e os enviou aos campos de concentração; depois, passou a estar alinhado à União Soviética. Na prática, esse tango político rompe com as ideias identitárias e de liberdade do povo húngaro, dissolvendo a sua história em uma chuva ácida.
Como se vê, Sátántangó é um romance de metáforas, uma obra aberta ao melhor modo de Umberto Eco, que não se resolve de uma só vez ou numa única leitura. O seu ambiente opressor lembra o cenário de O sétimo selo, o filme de Bergman sobre a peste negra. Tanto a aldeia de Krasznahorkai quanto os vilarejos do longa parecem estar parados no tempo. Em Bergman, isso é um pouco mais nítido, já que temos a Idade Média como tempo cronológico. Já no romance húngaro, os tempos cronológico e psicológico se fundem em uma grande confusão. E, ainda que não tenha nem 300 páginas, é uma narrativa lenta e densa — não à toa, Béla Tarr a transformou em um filme de quase oito horas. Porém, não se engane pensando que Tarr tenta reproduzir no filme a sintaxe de Krasznahorkai. A experiência, penso eu, é muito mais sensorial. E o que o escritor e o cineasta criam é um elogio à melancolia radical — para usar o termo da professora Lúcia Monteiro — e que também está presente em outro Nobel, Jon Fosse. Brancura, por exemplo, é também uma viagem metafísica cujos movimentos e ações extrapolam o plano da realidade. Não há outra sensação que não o alheamento, o desejo insone de romper as amarras sociais e a tríade freudiana que nos ata à civilidade e à servidão voluntária.
Lentidão
Quando a violência é transformada em linguagem e a desumanização é vendida como resiliência, e a velocidade dilui as relações e o sentido das coisas, o que ainda pode nos chocar? A resposta só parece ser uma: a lentidão. Na era da hiperconexão e da superinformação, em que tudo é veloz demais, permitir-se demorar em coisas banais é uma afronta à produtividade. Se Benjamin, no seu texto clássico, já havia repudiado a reprodutibilidade técnica da arte, o que diria dos nossos dias, quando não só a arte, mas também o cotidiano, permitem a reprodução tão rapidamente que deixa tudo sem a menor provocação? Krasznahorkai busca o oposto. Sátántangó exige que os personagens se posicionem: seja como resistência, seja como anuência. Entretanto, como já dito, não pode haver indiferença.
Por isso, pequenos conflitos se tornam grandes armadilhas. O primeiro capítulo, em que camponeses se digladiam após um dos casais tentar fugir, é a prova disso. É um drama kafkiano que adquire proporções monumentais e um sentido imenso de solidão. E, sem exagero, a solidão é uma das maiores partilhas feitas entre os personagens. Mesmo aglutinados na aldeia, e depois em busca de outras terras, eles convivem e interagem, mas jamais conseguem congregar uma mesma fé. Todos sobrevivem como podem. E não porque querem.
Era como se a verdadeira ameaça os atingisse vinda de sob a terra, embora sua fonte fosse sempre imprecisa; em dado momento o silêncio parece assustador, não nos mexemos, nos encolhemos num canto onde esperamos por uma defesa, a mastigação se transforma em tortura, a deglutição, em sofrimento, e depois nem percebemos que tudo à nossa volta se torna mais lento, o espaço se restringe cada vez mais, e no recolhimento, enfim, se cumpre o que é mais aterrorizante: a imobilidade.
Krasznahorkai constrói imagens bonitas e tristes, bordando vidas amargas. A falta de sentido naquelas vidas é o que vai compondo o livro. Página a página, o escritor expande os limites do absurdo, como na parábola de Brecht sobre a ascensão nazista. É uma estratégia pós-moderna de composição. Tanto que o silêncio, assim como a lentidão e a imobilidade, são fundamentais para que a trama se desenvolva. E a ideia é exatamente essa: a contradição. Por isso, a dança é sombria e melancólica. De qualquer outro jeito, seria um livro comum, com arco narrativo como os mais rasteiros. Krasznahorkai busca sempre oposição — não que seja do contra apenas por ser, mas para maximizar o que tanto despreza.
E chamar essa experiência — de leitura e de escrita sobre — de tour de force é pouco mais que um clichê. Quando Joyce subverteu a interpretação literária com seu Finnegans Wake, o escritor irlandês colocava o significante em decomposição para que o significado pudesse ser alterado. Em Sátántangó, significado e significante são colocados à prova sem que a escrita em sua superfície seja propriamente radical. Forma e conteúdo são elevados para que possam ser desconstruídos pelo leitor mais atento. Na prática, o simples andar parece carregar um peso tão grande que qualquer ação, como andar, entrar em algum lugar ou abaixar-se, exige muita atenção. Nada é simples.
Circundou a edificação e ao lado encontrou uma minúscula portinhola, apodrecida, na parede gasta; deu-lhe um leve empurrão e ela, rangendo, se abriu. Abaixou a cabeça, entrou na capela: foi recebido por teias de aranha, pó, sujeira, mau cheiro, escuridão, dos bancos só restavam alguns pedaços quebrados, do altar nem isso, as pedras do piso partidas foram levantadas pelas ervas daninhas.
Paulo Schiller, tradutor do livro para o português brasileiro, foi quem resumiu melhor a atmosfera de Sátántangó. Segundo ele, o romance de Krasznahorkai é como Grande sertão: veredas, mas, em vez da seca, chove o tempo todo. (Ainda é possível fazer um paralelo com A fita branca, longa de Michael Haneke, que descreve o surgimento da semente nazista entre os jovens sem esperança dos vilarejos longínquos.) O apocalipse está sempre muito perto, assim como em Guimarães Rosa. Se, para o brasileiro, o fim do mundo era a fome, a inanição, o mundo árido; para o húngaro, o inferno são os outros. No final, tanto de um livro quanto de outro, o que resta é, como nas palavras de Conrad, apenas o assombro com o horror.