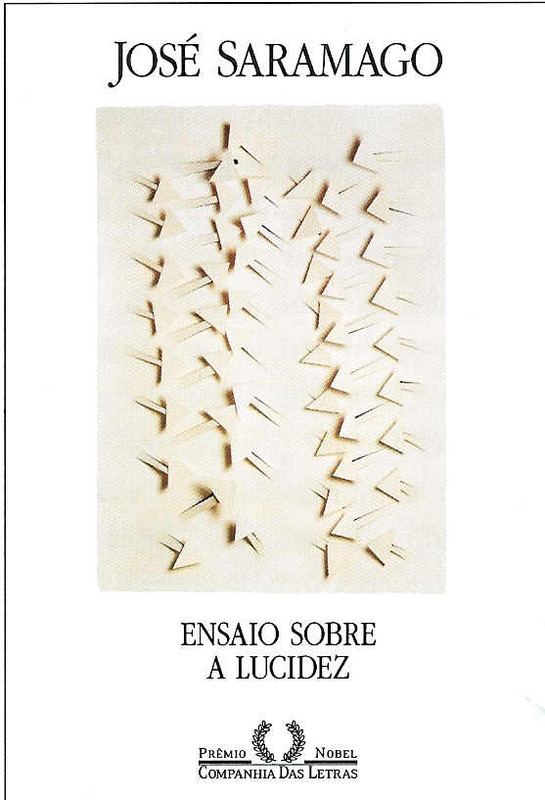Assim que se viram no chão as torres do World Trade Center, o governo norte-americano, pretensamente justificado pelo gigantismo da ofensa que lhe perpetraram, tratou de tornar pública uma lista de músicas populares cuja execução deveria ser imediatamente vetada em todo território nacional. Quanto à urgência que a medida exigia, não deixava de ser interessante imaginar que departamento estatal, àquelas trágicas alturas, podia dar-se ao luxo de desperdiçar sabe-se lá quantas tardes de trabalho a catalogar títulos de canções malvadas e supostamente subversivas. De qualquer forma, entre as diversas obras citadas pelos censores como passíveis de provocar surtos terroristas ou depressivos em ouvintes menos saudáveis, estava First We Take Manhattan, composta no final dos anos 80 por Leonard Cohen. O músico, poeta e romancista canadense reagiu serenamente à proibição dos versos que narravam um hipotético e heróico levante de losers nos arredores de Nova York. Na verdade, tamanha celeuma em torno da canção não lhe causava surpresa alguma. Para Cohen, o chamado edifício social dos estados democráticos modernos havia sido erigido em terreno arenoso; se enfim deixava entrever uma ou outra falha estrutural mais grave, alguma rachadura sorridente e preocupante, era porque reformá-lo tornava-se imperativo e inadiável, surgia como único expediente capaz de evitar rupturas ainda mais violentas no futuro. Na época dos atentados, contudo, preferiu-se tratar os norte-americanos como a uma nação de crianças traumatizadas, poupando-os do calor de qualquer debate que não fosse estritamente caseiro e unilateral.
Mas os barnabés que tão prontamente privaram os Estados Unidos da audição de First We Take Manhattan deixaram escapar Democracy, outra bela peça do mesmo autor. Nele, Cohen comparava a democracia contemporânea a uma embarcação algo fantasmagórica, quase uma Nau Catarineta, destinada, quem sabe?, a um fim igualmente épico e sinistro. “Veleja, veleja, ó poderosa Nau do Estado, rumo às costas da Carência, ao largo dos recifes da Avidez, ao sabor das ventanias do Ódio”, entoava o velho cantor, expondo, com o doce auxílio de um coro de moças, toda a sua insatisfação com um sistema que, a seu ver, fazia apenas cultuar meia dúzia de liberdades duvidosas que, na prática, resultavam inúteis ― principalmente para as camadas mais pobres e isoladas das populações/tripulações contribuintes.
Recentemente e de maneira semelhante, outro pensador da geração de Cohen ― se bem que de matiz absolutamente distinto, mais político e definitivamente polemista ― recorreu também a uma analogia náutica para descrever um possível e talvez bem-vindo naufrágio dos ideais democráticos que regem e guardam as riquezas ocidentais há mais de meio século. No recém-lançado Ensaio sobre a lucidez, nova alegoria produzida pelo cético José Saramago, governantes em pânico referem-se à sua bem-amada democracia, posta em xeque por uma insurreição insólita e silenciosa, como a uma majestosa nave traiçoeiramente atingida abaixo de sua linha de flutuação. Fazendo as vezes de torpedo, uma inexplicável onda de votos em branco provoca um colapso cívico no país imaginário que, ao romance do escritor português, serve de cenário fantástico, quase imaterial. Um excelente ponto de partida para um livro que se revela, por fim, razoável.
Antes, porém, de mais palpitar a respeito dos esforços de Saramago, é necessário inseri-los em outros contextos, bem pouco literários e quase nada fabulosos. É sabido que seu autor seja membro ativo do Partido Comunista Português e que, atualmente, apresente-se como candidato natural ao Parlamento Europeu, incongruência que ele próprio definiu como mera “contradição formal”. Seja como for, apesar de haver conquistado a simpatia de meio mundo consumidor ao receber o Nobel de Literatura em 1998, Saramago já aborreceu boa parte de seus novos leitores. Após apontar a fé humana como sendo, historicamente, a principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro, o escritor conseguiu irritar seu público cristão. Também sugeriu que o ateísmo que professa jamais produziria tantos genocídios quanto o fez, ao longo dos séculos, o cristianismo institucionalizado. Como querelas pseudo-religiosas parecem fazer-lhe bem ao perfil de boca-dura, Saramago acabou acusado de anti-semitismo por declarar que o povo judeu, em decorrência das políticas adotadas pelo primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, não seria mais “digno de sua simpatia”, nem poderia continuar vivendo impunemente “à sombra do holocausto”. Por essas e outras tantas ― aí incluído o apoio que costumava conceder ao regime totalitário de Fidel Castro ―, Saramago viu-se atolado numa cisterna de antipatias e inimizades declaradas. E nunca é demais lembrar: como era previsível, seu sucesso comercial vem despertando o desdém infértil de um número cada vez maior de críticos e literatos.
Portanto, aos que se animarem a ler este Ensaio sobre a lucidez, é aconselhável deixar tudo isso de lado, reservado, de preferência, para reflexões posteriores e oxalá descartáveis. São detalhes que impediriam uma apreciação mais apropriada da obra. Dados mercadológicos referentes à enorme tiragem de exemplares fabricados, preconceitos quanto ao bom rendimento do autor depois da premiação de seis anos atrás e quaisquer dúvidas acerca da validade de se misturar ideologia e literatura também devem ser sumariamente abandonados. Porque é justamente como obra política, como libelo ideológico independente, que o novo romance de Saramago precisa ser interpretado. O grande acerto do livro, afinal, é discutir, passionalmente, mas sem compromissos partidários aparentes, a profunda falta que a honestidade faz à democracia mundial.
Há poucos dias, em Lisboa, Saramago declarou, durante um debate com o ex-presidente português Mario Soares, que os governantes democráticos da atualidade não passam de “comissários do poder econômico mundial”. Em suma, idiotas mal-intencionados. É precisamente essa a idéia atirada por ele às páginas provocadoras de Ensaio… Uma eleição presidencial movimenta o tal país imaginário. Depois de apurados os votos, percebe-se que a quantidade de cédulas em branco depositadas nas urnas da capital ultrapassou a casa dos 70%. Sentindo-se rejeitada, a classe política, a um só tempo aterrorizada e azeda, atribui o incidente a uma série de infelicidades meteorológicas e outras baboseiras aparentadas. Convoca-se um segundo pleito e, desgraçadamente, candidatos, assessores e demais parasitas vêem novamente em cacos a sempre frágil violinha eleitoral: o montante de votos brancos salta para 83%. Julgam os poderosos que tamanho desgosto popular só pode ser fruto de uma revolução anárquica ou meramente bandida que, sabe Deus por meio de que artes mágicas, alastra-se discretamente entre o povinho fuleiro. Assim, na cidade revoltosa, decreta-se um vergonhoso estado de sítio. Ferido em sua vaidade, o governo transfere-se para o interior do país e mantém cercada e sob pesada vigilância a antiga capital da república, privada de praticamente tudo o que conferia cidadania a seus habitantes, inclusive de sua velha e corrompida administração municipal. O exército e o serviço secreto federal encarregam-se do interrogatório e da prisão de eventuais suspeitos. Mas nenhuma pista é levantada. Enquanto dura o impasse político, os sitiados, tomados por uma lucidez nunca antes registrada em seres humanos, descobrem-se capazes de tocar suas vidas sem interferências externas e/ou oficiais. É a essa descoberta que as autoridades ameaçadas, enfim, reagem muito mal e violentamente.
A primeira parte do romance é tratada por Saramago com um humor e uma inteligência que raramente se encontram na literatura política universal. Fosse o seu estilo um tanto mais coloquial, e o tom pomposo e redundante emprestado pelo autor às conversações entre ministros, secretários e jornalistas sensacionalistas e bajuladores certamente seria comparável às melhores alegorias criadas por Swift e Voltaire. Devido a essa irreverência cívica, aliás, o livro deve despertar reações bastante peculiares no Brasil pós-ditadura militar, país adepto de todos os tipos de correção, imensa nação esperançosa, católica e democrática onde, a cada eleição cumprida, o povo votante é constantemente parabenizado pela imprensa festeira. Assim, dá-se continuidade à tradição que diz estarem até os mais pobres eleitores no comando da nação e decreta que a mais alta função do cidadão, a mais gratificante delas, é ter o indivíduo o direito de servir ao Estado, escolhendo livremente os seus representantes ― desde que estes possuam um bom financiamento para suas campanhas.
O tema de Ensaio sobre a lucidez, enfim, é de uma relevância sem proporções. Mas, lamentavelmente, Saramago se perde a meio caminho do desfecho de sua fábula. Perde-se ao introduzir, numa história já bem engrenada, elementos do seu clássico e bem-sucedido Ensaio sobre a cegueira, de 1995. Contrariando o que costumava proclamar em antigas entrevistas, quando garantia que nunca iniciava um livro sem saber com antecedência como deveria acabá-lo, Saramago agora afirma ter subitamente “percebido”, durante a feitura deste romance, que a cidade que abrigava a Insurreição dos Brancosos seria “a mesma” que padecera atacada, anos antes, por uma sobrenatural epidemia de cegueira. Voltam à cena, então, alguns dos personagens do outro livro ― o primeiro homem a cegar, o oftalmologista que o trata e sua mulher imune ao mal, entre outros ― inseridos numa trama pequena e tediosa, que apela para recursos banais emprestados de narrativas policiais comuns. É quando o livro esvazia-se de interesse. Tudo gira em torno das crises de consciência de um comissário de polícia encarregado de investigar as ligações improváveis entre os dois fenômenos: o da cegueira e o dos votos em branco. O que antes parecia promissor esgota-se em meio à frustração de um desfecho pequeno, fatalista, quase infame. Em seu pessimismo romântico, o final torna-se demasiadamente simplório, trazendo à memória a ingenuidade constrangedora da última página de Incidente em Antares, de Erico Verissimo, ou mesmo a atmosfera infanto-juvenil de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.