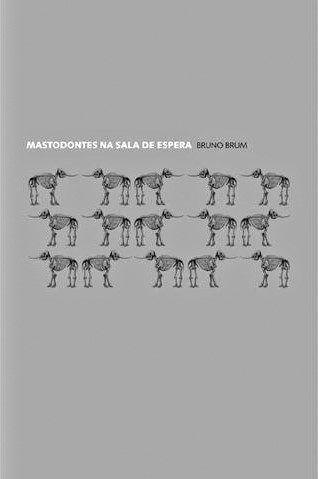Mastodontes na sala de espera, terceiro livro de Bruno Brum, carrega em si algumas heranças do modernismo que Antonio Candido chamava de heróico, ao discutir temáticas e procedimentos contemporâneos. Esta coletânea mostra uma carpintaria poética que dialoga com a visualidade gráfica. Parte de uma fonte concreta, a materialidade da palavra e do desenho gráfico que insinua significados em relação ao espaço que ocupa na folha em branco e na vida. A poesia, aí, define-se enquanto experiência de construção de sentidos e pesquisa de linguagens que possam favorecer a expressão.
São cinqüenta e um títulos distribuídos no livro e anunciados no sumário. Desenhos, fotos, poemas, alguns dos quais subdivididos em fragmentos diversos. Postais, por exemplo, é composto por quatro deles. A visualidade da construção de imagens negocia sentidos com a linguagem fotográfica dos postais. As figuras estéticas sugerem movimentos, ruídos e ritmos cinematográficos enquanto a linguagem verbal dá a primeira e a última palavra de cada cena. “Os olhos por perto./ Há coisas escondidas/ atrás de outras coisas.” Saber da existência dessas coisas escondidas dentro de outras e estas dentro de tantas outras não confere a ninguém capacidade de desvendar algum segredo substancial. Como uma cebola que se descobrisse camada por camada, o interior é vazio e inesgotável. Mas nem por isso nos cansamos de manter os olhos abertos, na busca de algo surpreendente.
Enquanto isso, em sequência, a rua, a cidade e seu cotidiano goteja a folha: “Os passantes ainda não/ se decidiram se vão, se ficam,/ se atravessam a rua, se fazem/ uma pausa para o café,/ se atende o celular”. Cinema, teatro, fotografia e palavras interagem para falar da poesia nossa de cada dia: “O movimento de rotação dos cata-ventos,/ as businas dos vendedores de algodão-doce,/ e o apito dos amoladores de facas/ não dizem outra coisa senão que as coisas/ estão exatamente onde deveriam estar”. Um cotidiano banal que, na concepção de Manuel Bandeira, representava a presença na sua poesia da nódoa suja de vida. Nem por isso, vida e poesia deveriam ser confundidas. As palavras ao se desenharem em imagens do cotidiano vivido, sobre o fundo branco da folha, ganha outra natureza, é literatura. Tem como matéria-prima a vida cotidiana, mas como arte é artifício de transfiguração, é aí que encontra seu lugar próprio de ser. A simplicidade no falar deste cotidiano não significa pensar na exatidão factual da realidade que se pretende registrar.
A poesia exige trabalho tanto do poeta quanto do leitor. Pensar, sentir, duvidar e questionar devem ser prática e permanente exercício de quem se aventura nesse “mergulho no desconhecido”, na expressão de Maiakovski, como bem lembra Bruno Brum. “A menina que chora cacos de vidro/ me parece triste e assustadora./ Suas órbitas estão vazias./ Não saberia bem por onde começar/ se acaso me pedissem alguma explicação. O cameraman só pensa em voltar para casa. Talvez eu troque de canal”. A cena televisiva descrita está longe do realismo ao pé da letra, mas envolve em solidariedade e em compaixão poeta, leitor, expectador e personagem. É ela a menina que sofre e se transfigura naquela cuja dor faz com que chore cacos de vidro. É esta transfiguração da dor da menina, através da imagem de lágrimas cacos de vidro, que potencializa a expressividade do poema.
O texto Noventa e nove blefes utiliza também o recurso da fragmentação. Cada tirada tem força própria, com conteúdos ora filosóficos, sarcásticos, quase publicitário, até confessional ou tudo isso meio misturado. O conjunto dos fragmentos ganha unidade se remetido ao título, que põe em dúvida a justeza de cada afirmação ou questionamento a partir da premissa de que podem ser blefes: “Não se cruza duas vezes a mesma porta”. Será? Nada garante que sim ou que não. “Atravesso a rua. A rua me atravessa”. Em meio à brincadeira com as palavras já ditas ou repetidas de outras formas, surge um sujeito lírico rasgado que se insinua para se ausentar logo adiante. “Come-te a ti mesmo.” A vã filosofia lançada a esmo, discute verdades cristalizadas a partir da ironia de quem sabe sorrir do próprio umbigo. É a ironia crítica do modernismo radicalizador que apregoa não bastar questionar o passado, o outro, mas também o presente em curso e a si mesmo. Carlos Drummond de Andrade é mestre de todos nós neste sentido. No seu primeiro livro, em Poema de sete faces, anuncia: “Meu coração é maior que o mundo”… ao falar de uma subjetividade transbordante do poeta. Mais adiante, faz autocrítica em Rosa do povo, numa perspectiva mais social e comprometida: “Não, meu coração não é maior que o mundo,/ Ele é muito menor…”.
Identidade
O último poema do livro Bruno Brum em ritmo de aventura (cronologia de vida e obra) simula uma autobiografia do autor, cheia de ironia e surpresas. Mesclado de textos, fotos, palavras e imagens, pistas inverossímeis de uma trajetória improvável do poeta. Em última análise, ao parecer se falar do autor, concedendo-lhe dignidade e, por vezes, imponência na sua identidade pessoal, entra-se em discussão o papel do poeta hoje, perdido em velhas formas e buscando, sem esperanças de redenção, novas perspectivas. O formato do poema é mesmo daquela cronologia que, tradicionalmente, acompanha as coletâneas, organizadas linearmente por datas e feitos do escritor.
A postura crítica e questionadora traz uma marca contemporânea, no que toca às concepções de tempo e espaço. A espacialidade ganha preponderância em relação à temporalidade, tanto em termos formais, quanto semânticos. As expectativas de um futuro redentor estão descartadas, assim como a segurança de uma territorialidade identitária. O acontecendo busca expressão e se desenha literalmente no presente em curso como num palco ou numa filmagem cinematográfica ou televisiva. Em O contrarregra vê dragões contra um fundo azul, “O caubói sentado, folheando uma revista, inclina levemente a cabeça, tomando o cuidado de não olhar para a câmera”. O último verso deste poema fixa o foco num movimento vivo: “O pássaro passa e volta para a caixa de ferragens”. O vôo de ida e o de volta são filmados, fotografados, rabiscados e descritos num espaço visual de imagens rasantes sobre o dia, o hoje, no presente que como paisagem se desenha. O poema tem força narrativa e distribui-se na folha como prosa poética. Outros retomam a organização em versos, com ritmos próprios, sem modelos generalizantemente estabelecidos. Isto não os impede de manterem o conteúdo prosaico. Vejamos o caso de Paisagem com dublê: “Carros passam em alta/ velocidade, agitando o/ mato na beira da estrada./ Recostada num Uno prata,/ uma pessoa vomita no acostamento”.
O sujeito lírico da maioria dos poemas busca um distanciamento estratégico do seu objeto, em cada recorte: “Afastar-se de um objeto qualquer/ até que se possa vê-lo por inteiro.// (…) Afastar-se, afastar-se,/ até que suma por completo.// Continuar se afastando/ e desaparecer lentamente”. Dentro desse projeto, a dicção poética se dá contida de sentimentalidades, enxuta, sintética, mesmo que, às vezes, se torne repetitiva em função de temáticas recorrentes. Voz de um sujeito que é mais olhos em perspectiva do que bocas a gritar.
O poema Contínuo, em seu único verso é categórico: “A casa, então, tornou-se um lugar distante”. Em Interferência, os deslocados mastodontes estão em trânsito: “(…) do lado da rua, um ônibus./ Um ônibus trazendo setenta e cinco passageiros/ E o pior: isso ainda não nos leva a nada”. Tanto o espaço privado de acolhimento, a casa e a interioridade do indivíduo, quanto o público, a rua ou o ônibus, não oferecem garantias para esse ser estrangeiro de si mesmo: o homem contemporâneo. Qual o seu papel na sociedade em que se movimenta e vive? Fica a pergunta sem esperança de uma resposta assertiva. Está em pauta enquanto discussão, tão incômoda e gauche quanto o poeta enquanto sujeito no mundo.