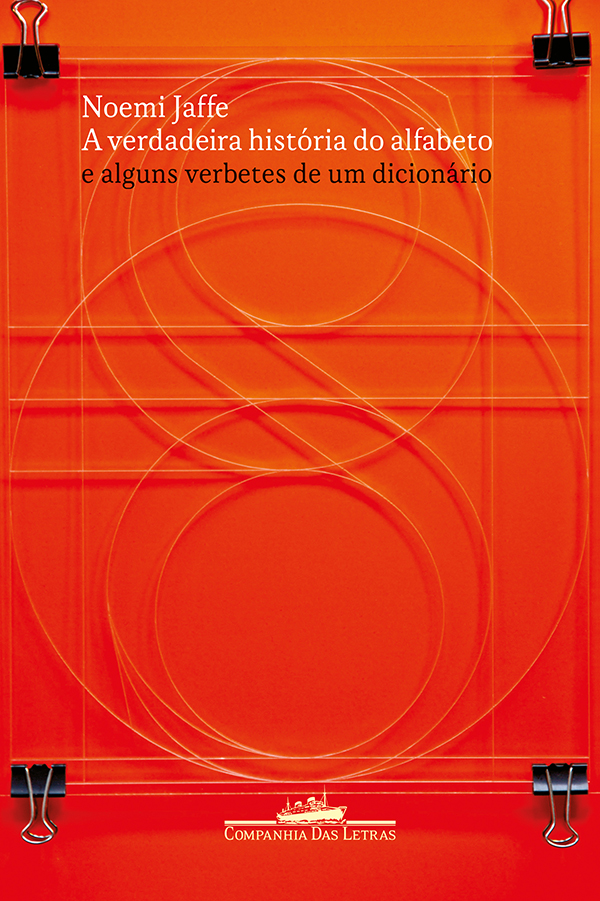Em sua Visão do livro infantil, Walter Benjamin escreve que “diante de seu livro ilustrado, a criança coloca em prática a arte dos taoístas consumados: vence a parede ilusória da superfície e, esgueirando-se por entre tecidos e bastidores coloridos, adentra um palco onde vive o conto maravilhoso”. Benjamin fala a propósito da festiva participação que as crianças conseguem ter com as histórias dos livros infantis. A leitura é, para elas, algo como ir a um baile de máscaras, como tornar-se cenógrafo. De um lado se está convidado a uma festa curiosíssima, de outro é preciso trabalhar para que ela aconteça.
Do texto benjaminiano, cito mais um trecho absolutamente necessário: “que se indiquem quatro ou cinco palavras determinadas para que sejam reunidas em um curta frase, e assim virá à luz a prosa mais extraordinária: não uma visão do livro infantil, mas um indicador de caminhos”. Antes, Benjamin tinha comparado as palavras que “revolteiam confusamente no meio da brincadeira como sonoros flocos de neve”; é com elas, penso eu, que as crianças leitoras aprenderão o caminho mágico do livro.
Brinquedo gracioso
A verdadeira história do alfabeto, de Noemi Jaffe, parece seguir um desses caminhos benjaminianos. Transforma-nos, seus leitores, em crianças para devolver-nos o prazer da leitura. Aquele prazer da imaginação de certo modo proibido em nosso contexto social e que, alcançado, permite a cada um inventar o seu próprio modo de sonhar. O sonho tornou-se prática impossível em tempos de atrofia da imaginação; a leitura como experiência despretensiosa é a salvação da liberdade de uma fantasia que nos torna mais felizes.
O livro de Jaffe surpreendeu-me como leitura graciosa. Digo “graça” porque é bem-humorado, mas de um humor infantil no melhor sentido, da ironia que só percebe aquele que sabe usar um brinquedo. Um humor que Jaffe compartilha com o Jorge Luis Borges de O livro dos seres imaginários, também ele organizado em ordem alfabética, como uma enciclopédia ou dicionário cujo objetivo é ser um brinquedo para adultos, ou mesmo para crianças que possam passear pela experiência de linguagem da idade adulta. Temos que lembrar que as idades (criança, adolescente, adulto, velho) nada mais são do que fantasias de intenção exata bancadas pela ciência — da medicina à psicologia — e pela moral.
Assim, enquanto Borges conta a história de seres imaginários como a quimera ou o mirmecoleão, dando-nos sua versão de quem sejam pela descrição, Jaffe, autora que pertence ao tempo da virada lingüística da cultura e das ciências humanas, transforma as letras em seres que transitam entre o cotidiano e o transcendental investindo no absurdo de “ser” alguma coisa num mundo orientado pelo “estar”. A letra é uma coisa que bate à nossa porta exigindo um lugar histórico muito especial, um lugar de ser e estar enquanto brinquedo. Ou seja, onde o sentido das coisas pode — e deve — ser inventado, senão não há brincadeira possível e a vida é tomada pela tristeza adulta, a tristeza que vem com a idade da razão, a tristeza de quem se tornou incapaz de sonhar.
Regra do jogo
A oposição — ou mesmo tensão — entre ser e estar — estes verbos de realidades muito abstratas — tem sua solução dialética e redentora na fantasia. O modo de ser dessa fantasia não é apenas o devaneio cujos limites são imprecisos. A fantasia de Noemi Jaffe é também “imagem” de uma palavra. Um desenho feito de palavras em um livro brincante. Assim, a letra é, em primeiro lugar, algo que cola os mundos do transcendental (as letras poderiam ser números) e o real mais imediato por meio da fantasia na precisão da imagem de um brinquedo, como se fosse uma ilustração infantil — só que para adultos.
Um exemplo nos permitirá compreender o “método” (ou o caminho) de Jaffe. Analisemos a história da letra B, em que o processo de composição do texto se expõe como que musicalmente. A autora nos conta que:
Em 1725, Johann Sebastian Bach se preparava para compor sua cantata número 1 em si bemol maior, na igreja luterana se São Tomás, em Leipzig, onde matinha uso exclusivo e solitário de um órgão adquirido pelo arcebispo de Leipzig, a seu pedido, dezoito anos antes, diretamente de um fabricante que por ali passara e comentara a existência do órgão, quando ocorreu um grave problema.
Tomados pelo “problema” como em uma história convencional, os leitores seguirão para ver o que acontece. Então, saberemos que Bach estava cego, que havia especulações sobre sua cegueira, mas, sobretudo, apesar da maldade dos homens, ninguém duvidava dos anjos presentes em seus ensaios. Problema mesmo será o si bemol que não soava para completar a composição de Bach até que Jaffe decide especular sobre a “esfera intermediária” onde habitam os anjos companheiros de Bach. O exemplo que ela nos dá para que saibamos a importância dessa esfera intermediária é que neste mundo os anjos não se ocupam de “assuntos propriamente celestes”, nem dos “estritamente mundanos, como doenças e afogamentos”. Percebi que o livro era um brinquedo logo que vi estes pequenos tópicos do absurdo, palavrinhas colocadas na intenção de nonsense que nos encaminham não à criação de um senso desejável, mas à aceitação de uma regra do jogo: às vezes não há sentido algum e essa é a parte mais importante da história. Se na esfera mundana assuntos mundanos são “doenças e afogamentos” sem que haja menção a afogamento algum…
Teoria da palavra
É então que Jaffe conta do encantamento de Bach com a teoria musical de Guido D’Arezzo e o Hino de São João Batista e nos faz saber que “Como em todas as outras vezes, o músico se emocionava com a precisão das palavras que praticamente justificavam a existência da música; um elogio claro à força e ao milagre de Deus e a mais perfeita absolvição de nossas impurezas”. Este é o momento bachiano do livro, auto-referencial (lembremos Hofstadter e seu sublime Gödel, Escher, Bach). Momento em que podemos vê-la como Bach, debruçada sobre seu dicionário, absolvendo as impurezas da nossa idade adulta e, como um anjo, nos dando a chance da experiência da linguagem da infância.
A solução para a história bachiana da nota silenciosa resolve-se com um pouco de heresia e paganismo para o compositor que, segundo Cioran, teria inventado Deus. Bach resolve a complicada notação com a nota B, ou si bemol maior, e é por isso que conseguimos entender que “com uma intervenção pitagórica das esferas cósmicas em meio à devoção piedosa das notas cristãs, nasceu a letra B, que se mantém até os dias de hoje em coisas e seres religiosos e profanos, como as bétulas, os bichos e as bolas”.
É assim também que, em segundo lugar, Noemi Jaffe transforma a história em fantasia. Mas, como dizia Adorno a propósito de Bacon e Leibniz, trata-se de “ars inveniend” que depende daquela “fantasia exacta”. A autora usa a ciência e a história enquanto ciência como um brinquedo, agindo nos detalhes mínimos sem desmontá-la. Assim, o “progresso da ciência” comprometido com uma idéia de verdade totalmente falsa dá lugar ao ser humano que imagina e encontra um outro estatuto da verdade. Este que nos permite saber da vida a parte de ficção.
Lendo com atenção, veremos que a cada letra cuja história é narrada o livro contém sua própria teoria. Chegando na letra M, por exemplo, teremos uma belíssima exposição do problema filosófico da verdade em Boécio, sujeito que escreveu o famoso A consolação da filosofia quando foi acusado de traição contra o império romano e também de magia, e que nos serve para entender o que pretende Jaffe com seu livro de areia: “o supremo bem possível consiste no conhecimento da verdade, na prática do bem e no deleite em ambos os tratados dos aspectos do significar”.O Boécio de Jaffe é salvo como não poderia deixar de ser neste livro que tem como esperança salvar o mundo pelas palavras. Penso que ela conseguiu.