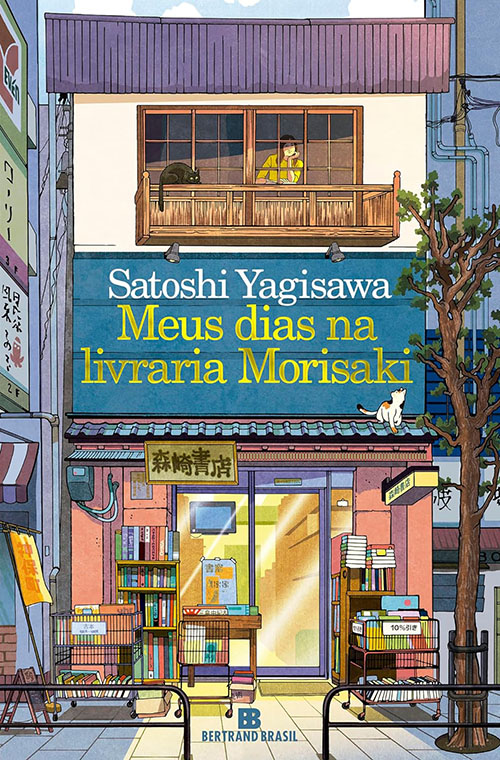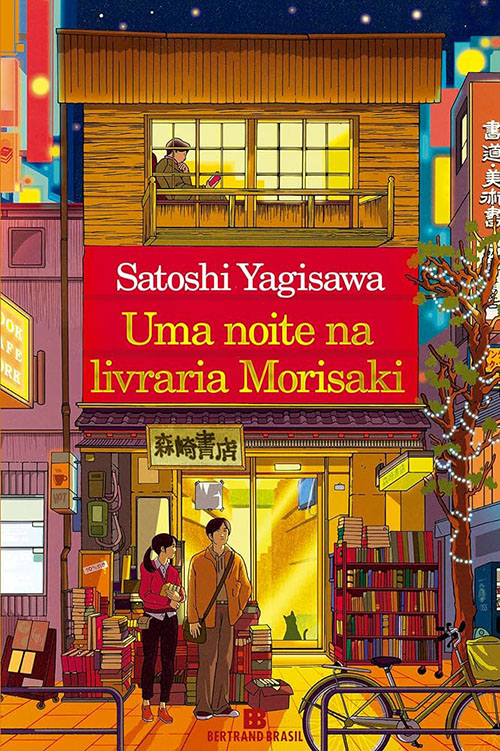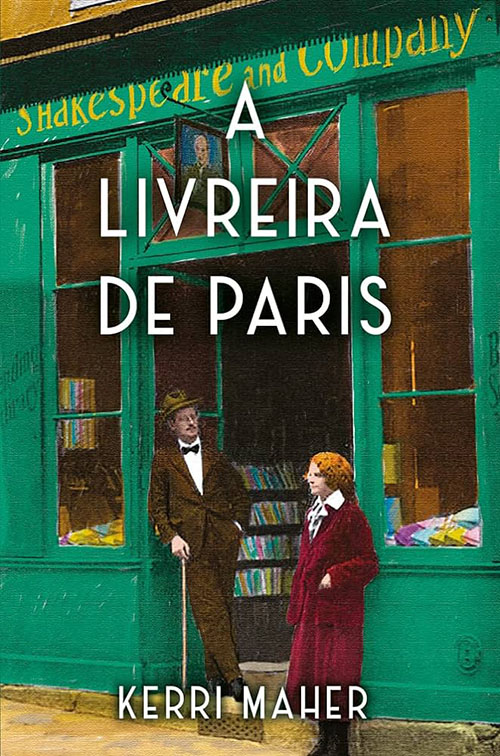Na espécie de dedicatória (A possíveis leitores) de A paixão segundo G. H., Clarice Lispector diz preferir que o livro fosse lido apenas por pessoas “de alma já formada”. Menos por alguma suposta superioridade do texto que será lido — ela abre dizendo se tratar de um livro como outro qualquer —, mais pela formação de alma leitora que sabe, pela prática, que o atravessamento de uma obra de qualidade se faz por uma aproximação gradual e penosa. Leitores que, portanto, não lerão com a brutalidade da rapidez, que não se intimidarão diante do esforço de enfrentar o incômodo.
Esse não é o tipo de leitor necessário para se ler um livro como Bem-vindos à livraria Hyunam-Dong, da sul-coreana Hwang Bo-Reum. O livro tem como protagonista a jovem Yeongju, que abre a livraria de rua, após difícil término de relacionamento, em busca de cura ou de encontrar-se por meio dos livros. O nome da livraria foi escolhido, porque “Hyu” vem de um ideograma chinês que significa “descanso”.
Para captar clientes, Yeongju elabora artifícios como utilizar o Instagram a fim de divulgar/recomendar obras, promover encontros de leitura/clubes de livro, colocar bilhetes dentro dos livros com a opinião da protagonista para criar uma conexão com os clientes que estiverem folheando pela loja. Os bilhetes — que na trama de fato promoveram engajamento dos leitores, vendo na prática fator diferencial da livraria independente — apresentavam tom bastante pessoal com impressões e sentimentos de Yeongju.
Do site da Intrínseca, para aguçar o interesse dos leitores, consta o seguinte: “Cercada por livros, ela encontra um novo significado para a vida à medida que a Livraria Hyunam-Dong se transforma em um espaço convidativo para que almas feridas descansem, se curem e descubram o que realmente importa”.
A livraria, portanto, se torna um espaço de cura para a protagonista. Aparentemente, há uma quantidade de histórias com enredo similar, em que o espaço físico tem função curativa para os desafios emocionais das personagens. Isso também é visto no livro Meus dias na livraria Morisaki, do japonês Satoshi Yagisawa. Nele, a jovem Takako se muda para a livraria administrada pelo tio (pertencente à sua família por três gerações), enquanto vive uma depressão após súbito término de um relacionamento. Ela vai morar em um quartinho em cima da livraria de usados em troca de ajuda com a loja. O livro é descrito como “mágico” e “comovente”. A protagonista, com pouco tempo de convivência com o tio, descobre o poder transformador da leitura como num passe de mágica, escapando da acídia em que estava.
Ficção band-aid
As capas, os títulos e os enredos, confesso, fazem sentir que se está lendo o mesmo livro — o mesmo previsível e superficial livro. Isso porque aparentemente existe um filão no mercado editorial chamado de healing ficction — também denominado “ficção band-aid” —, que abarca histórias com teor reconfortante, revigorante; narrativas cujos enredos abordam a empatia, a cura e a coragem.
Esse tipo de arte (?) que vai ao encontro do conforto do leitor parece coerente com a época em que vivemos, permeada de booktubers e bookgrams; a maioria feita por pessoas com pouca leitura que, em espécie de diário virtual, expressam suas rasas impressões. O meio virtual, cabe pontuar, não é de hoje, está imerso em linguagem coach que, junto a seu conteúdo pretensamente edificante, alastra-se também ao público geral e, vê-se, ao modo como este tipo de literatura é escrito. Uma literatura fofa, que promove o bem-estar aos leitores, a sensação de que tudo é possível se acreditarmos em nossos objetivos, uma literatura coach que não se coloca em uma condição terapêutica — que demandaria profundidade e coragem para os embates consigo mesmo por meio do que a literatura propõe —, mas confortável, emocionalmente estável.
Esta busca por uma arte pacificadora, cabe assinalar, não parece exclusiva à escrita, mas às plásticas — haja vista perseguições recentes a professores que expõem David de Michelangelo em aulas nos EUA e no Brasil —, bem como às audiovisuais — como exemplo recente as tantas críticas que o excelente filme Pobres criaturas, do diretor grego Yorgos Lanthimos, sofreu por parte do público chocado diante dos “excessos” protagonizados por Emma Stone.
A arte, para esses leitores, deve confirmar a sua zona de conforto. Nada de sujeira. Tudo muito limpinho, fofo, estéril, sem mínima possibilidade de contágio.
Em O direito à literatura, Antonio Candido afirma o papel central que o universo da ficção e da poesia tem sobre nós, de modo que deve ser considerado um direito, já que é uma necessidade universal que precisa ser satisfeita. A função da literatura, segundo o crítico, passa pelo contraditório a fim de ser humanizador (confirmar “o homem na sua humanidade”). Ele aponta, inclusive, que é humanizadora exatamente por ser contraditória. Lemos:
Isso significa que ela tem papel formador de personalidade, mas não segundo as convenções; seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Por isso, nas mãos do leitor o livro pode ser fator de perturbação e mesmo de risco.
Desnecessária
Ora, uma literatura que busca o apaziguamento não intenta transformação. Não há, nesses textos a partir dos quais comento, uma análise do humano enquanto contraditório. São literatura de manutenção do status quo. Esse tipo de literatura best-seller — que intenta somente manter engajado seu público best-seller — não é um direito, posto que não é necessária. Essa literatura fofa, coach, healing, como queiram, não arrisca nada, não questiona nada, não nos liberta de caos nenhum.
Então, retomamos Candido: “o valor de uma coisa depende em grande parte da necessidade relativa que temos dela”. Pergunto: Que necessidade temos dessa literatura? Que valor social ela tem?
Na distinção entre literatura erudita e literatura de massa, Candido parece ter inserido injustamente o saber popular no segundo tipo — em que a fruição da arte seria estratificada, já que um homem do povo estaria “privado da possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de Machado de Assis” por sua baixa escolaridade. Hoje em dia, a literatura best-seller parece ter ocupado esse segundo tipo, rotulado como “literatura de entretenimento”, ao passo que as belles lettres desceram do altar, alargaram o escopo, repensaram o cânone e se mantiveram apenas como “literatura”.
A diferença do pensamento de Candido acerca de tal dualismo para o que encontramos agora ocorre não por uma dificuldade dos leitores em enfrentar tais obras, mas exatamente por uma cultura que não busca o enfrentamento — sob pena de, ao fim e ao cabo, ter de enfrentar-se diante do espelho da página. Essas obras, ao contrário do que alguns defensores apontam, em larga escala não funcionam de escada, de trampolim para obras mais complexas, densas, transformadoras. Tampouco elas deixam de formar leitores, mas formam leitores que só são capazes de beber daquela água. Leitores caretas que buscam na leitura apenas entretenimento raso, um prazer que ratifica sua identificação com o estar no mundo em vez de questioná-la. “Um vida completa talvez seja a que termine em tal plena identificação com o não-eu, que não resta nenhum eu para morrer” — Bernard Berenson, epígrafe escolhida por Lispector para A paixão segundo G. H.
Quanto à fruição, lembremos Roland Barthes, em O prazer do texto:
Texto de prazer: aquele que contenta; (…) está ligado a uma prática confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta, faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem.
Que os leitores caretas encontrem uma Han Kang ou um Murakami pelo caminho e, mesmo que inadvertidamente, descubram um sabor de linguagem mais apurado, visto que a literatura deve ser anticoaching por princípio.