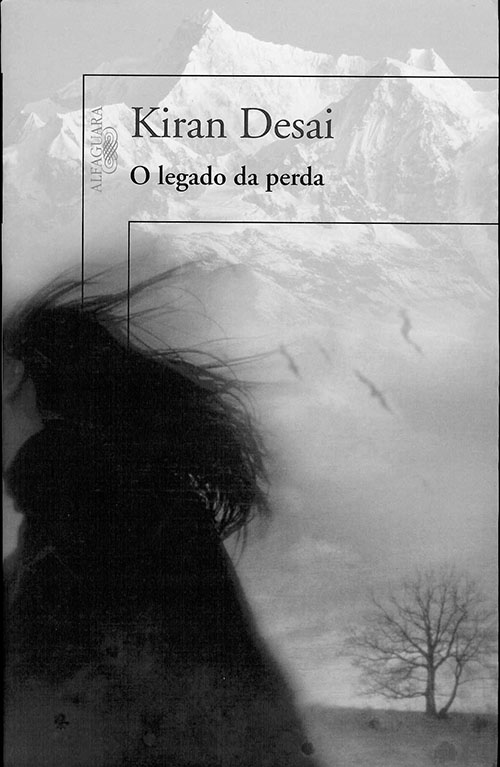Aos pés do Kanchenjunga, no sopé da cordilheira do Himalaia, “onde a Índia se dissolve no Butão e no Sikkim”, diz o narrador de O legado da perda, transcorre grande parte da história escrita por Kiran Desai, a jovem ganhadora do Booker Prize de 2006.
Em uma velha propriedade, cercada de árvores antiqüíssimas e distante de Darjiling e Kalimpong, os centros urbanos mais próximos, tudo está em decadência: além da escuridão e da umidade, escorpiões, besouros, ratos e cupins dividem a casa com um cozinheiro senil, uma cachorra medrosa, Mutt, o misantropo juiz Jemubhai Patel, aposentado do Supremo Tribunal, e sua neta, Sai, uma jovem de dezessete anos que perdeu os pais repentinamente e, obrigada a abandonar o colégio interno, foi acolhida pelo avô.
Descendo a colina onde se localiza a residência do juiz, a meio caminho das cidades, um pequeno grupo de ingleses, vivendo na Índia há décadas, forma o microuniverso que cultua as tradições britânicas: tio Potty, as irmãs Noni e Lola, e o padre Booty.
Na periferia de Kalimpong mora Gyan, contratado para dar aulas de matemática e física a Sai, por quem se apaixonará. E a milhares de quilômetros dali, em Nova York, encontra-se o ingênuo Biju, jovem filho do cozinheiro de Jemubhai Patel, saltando de emprego a emprego com uma única ambição: conseguir o green card.
Em torno desses personagens, Kiran Desai organiza sua trama, usando um narrador nem um pouco ingênuo, atento às diferenças sociais, às injustiças e ao conjunto de mazelas presente na história da humanidade, e não só no mundo globalizado: pobreza, doenças, ignorância.
Para o narrador, a lógica da subserviência foi interiorizada, graças em parte ao sistema de castas, pelos serviçais indianos; os preconceitos se manifestam nos atos e nos pensamentos de ricos e pobres, indiferentemente; e as desigualdades sociais imperam, formando a regra geral da humanidade, onde não há espaço para o exercício de compreender o semelhante.
Oferecendo como pano de fundo os dramas dos personagens — a solidão, o cinismo e os ódios do magistrado; a insegurança e a sinceridade de Sai; as agruras sofridas por Biju —, o narrador coloca no centro do seu relato as contradições da história, intensificadas pela globalização, e as titubeantes reações dos homens, lutando para se impor sobre os demais ou, apenas, viver suas próprias vidas, seguindo suas escolhas particulares. A fim de alcançar esses objetivos, nenhum meio é desprezível: a mentira, a adulação, a perfídia, a força e, claro, a fingida submissão — armas que, quando menos se espera, podem ser úteis.
Nada escapa à observação e aos comentários desse narrador. Os nepaleses radicados na Índia se revoltam, deflagram a guerrilha e isolam a região, acentuando as diferenças sociais e os preconceitos. Os pobres não sonham à noite com “símbolos freudianos […], mas com códigos modernos, os dígitos de um telefone […], uma televisão falsificada”, tamanho é o desejo de consumir. Em Kalimpong, diante de um laboratório de análises clínicas, a ameixeira é regada com sangue podre. Na fila para solicitar um visto de entrada nos EUA, os indianos se esforçam para
mostrar aos funcionários que eram um grupo pré-selecionado, numericamente restrito, perfeito para viajar ao estrangeiro, hábeis no uso de garfo e faca, não arrotavam alto, não trepavam no assento da privada para ficar de cócoras como muitas mulheres da aldeia estavam fazendo nesse momento mesmo não tendo nunca visto uma privada antes, despejando água para limpar os traseiros e inundando o chão com pedaços de merda molhada.
E na comunidade de imigrantes que conseguem chegar aos EUA, ali também há vencidos e vencedores, exploradores e explorados, enquanto palpita no coração de todos o mesmo desejo: o green card. Também para esses o narrador reserva sua ironia:
Para ir embora queria um green card. Era um absurdo. Como ele desejava a triunfal Volta ao Lar Pós-Green-Card, tinha sede disso, poder comprar uma passagem com um ar de alguém que podia voltar se quisesse, ou não, se não quisesse… Olhava os estrangeiros legalizados com inveja quando compravam nas lojas baratas de bagagem a miraculosa mala expansível do terceiro mundo, dobrada como uma sanfona, cheia de bolsos e zíperes para outras aberturas, a estrutura toda se abrindo num espaço gigantesco capaz de conter o suficiente para uma vida inteira em outro país.
Um narrador implacável, que aponta os erros e as culpas de todos, sem verdades prontas, sem receitas politicamente corretas, corajoso o suficiente para recusar as falsas soluções da esquerda ou da direita — mas nem sempre.
Tropeços
Em certos momentos, a inflexibilidade do narrador descamba para a crítica maniqueísta, demonstrando um esquerdismo às vezes dissimulado, às vezes ostensivo. Vejamos alguns exemplos.
Para as inglesas Lola e Noni, certos sentimentos só devem ser mencionados entre pessoas socialmente iguais. Certo dia, Kesang, a criada, relata às patroas seu casamento com o leiteiro, a grande paixão de sua vida, e chega às lágrimas. Essa incontrolável emoção choca as irmãs. Na opinião de Lola, “os criados não experimentam o amor da mesma forma que gente como elas duas”. A seguir, Lola reflete consigo mesma, concluindo que “nunca havia experimentado a coisa real”, essa “fé no mergulho da paixão”. Quanto a Noni, o narrador é taxativo: “Nunca amara de jeito nenhum. Nunca sentara em seu quarto silencioso e conversara sobre coisas capazes de fazer sua alma tremular como uma vela. […] Nunca desfraldara sobre sua existência a breve bandeira gloriosa do romance”. Assim, Noni chega a “sentir inveja” de Kesang.
Ora, a idéia de que somente os pobres podem ser capazes de um amor genuíno, sincero e profundo não é apenas melodramática, mas populista, quase demagógica. Esse exagero no enaltecimento dos pobres — sob o qual se esconde o objetivo de depreciar as remanescentes dos colonizadores britânicos — surge como uma saída excessivamente fácil e, portanto, inconvincente.
Nossa confiança no narrador se quebra quando ele não consegue manter uma distância respeitosa de sua história e decide intervir, fazendo críticas que vão muito além das digressões próprias de um narrador em terceira pessoa: “Said logo encontrou trabalho na Banana Republic, onde ia vender para os sofisticados urbanos a gola rolê preta da moda, uma loja cujo nome era sinônimo da exploração colonial e da rapina do terceiro mundo”. A conclusão não pertence a Said — aliás, um tipo engraçadíssimo, que não dá a mínima para a “exploração colonial” —, mas ao narrador onisciente. Este, perdendo o controle, abandona a necessária circunspecção e passa a exprimir julgamentos que remetem o leitor a uma autoridade colocada fora da trama: talvez a autora, talvez um deus ex machina. De qualquer forma, à medida que tal prática se repete, a verossimilhança lentamente se desintegra.
O narrador também dedica o mais absoluto desprezo aos indianos que, vivendo fora de seu país, fizeram fortuna e se ocidentalizaram, abandonando os costumes tradicionais. Há sempre um olhar de crítica para eles, descrições que beiram o sarcasmo, como se enriquecer e adquirir novos hábitos fossem atos impuros, pecaminosos.
Outro aspecto, ainda que menor, contribui para prejudicar a leitura: a autora abusa das onomatopéias, um recurso que, vez ou outra — na voz, por exemplo, de um personagem cômico ou de uma criança —, até pode ser sugestivo. Em O legado da perda, contudo, tais signos infantilizam a narrativa — “O tom abafado das rezas rolara pelas montanhas quando as mulas e cavalos passaram pocotó-pocotó saindo da névoa […]” — ou, além de tornar infantil, surgem como elementos completamente desnecessários: “Ia subir e descer a montanha em dias de mercado, com enfeites dourados, deuses em cima do painel, uma buzina cômica, PÓpumPOM pó ou TUÍI-dii-dii DII-TUÍI-dii-dii”.
Quem sabe híndi?
A edição brasileira de O legado da perda oferece alguns obstáculos ao leitor. Há centenas de palavras, às vezes frases inteiras, escritas, aparentemente, em híndi, que não mereceram notas de rodapé explicativas. É estranho que o editor tenha optado por traduzir ou tornar compreensíveis os títulos de canções e as expressões idiomáticas de língua inglesa, esquecendo do leitor brasileiro no que se refere ao híndi. Assim, aprendemos, por exemplo, que Let’s B Veg é uma “brincadeira lingüística com Let’s Be Vegetarian — Vamos ser vegetarianos”, mas jamais saberemos o que um motorista de táxi está dizendo ao perguntar: “— Oi, koi hai? Khansama? Uth. Koi-hai? Uth. Khansama?”.
O que significa laddus? E puris? E salwar kauriz? E to sunao kahani? E ghas phus, ekdum bekaar, bidis, kakas-kakis-masas-mais-phois-phuas? Tais expressões pululam em quase todas as páginas, chegando, algumas vezes, a comprometer a leitura. Uma mulher pergunta pela esposa do juiz Patel e insiste: “— Não tem nenhuma história de purdah, espero?”. Na página seguinte, o problema se repete, aparentemente acentuado, na voz de outra mulher: “— O senhor tem uma swaraji bem debaixo do nariz”. A reação de Patel é de indignação e revolta contra a esposa, e até supomos, parcialmente, qual é o problema, mas as lacunas permanecem, insuperáveis.
Os leitores até podem correr ao Google ou a dicionários em busca de um e outro significado, mas tal quantidade de palavras merecia uma atenção especial. Se o editor optou por não encher as páginas com notas de rodapé — decisão, aliás, compreensível —, um glossário, colocado no final do volume, resolveria o problema.
A verdade
Voltando ao texto de Kiran Desai, se deixarmos de lado as irregularidades, ele oferece bons momentos. Há ótimas descrições da cachorra Mutt, humanizada graças ao amor incondicional que o juiz lhe devota. O personagem Gyan cresce no transcorrer da narrativa, dividido entre a guerrilha — luta que lhe parece uma opção concreta diante de sua vida banal, sem possibilidades de mudança — e o amor por Sai, a jovem ocidentalizada e, exatamente por esse motivo, difícil de amar e compreender, já que ela parece ter assimilado os “vícios” dos colonizadores ingleses. E também os trechos em que o juiz mergulha no passado, a fim de reencontrar as razões de todos os seus ressentimentos: apesar de poucos, são notáveis.
O melhor, no entanto, fica para Sai, talvez o alter ego da escritora. Só ela encontra a redenção. Só ela descobre que, diante da covardia, do medo, dos costumes desumanos ou da mediocridade, o homem deve reinventar a vida acreditando em seus próprios valores. E que, para os espíritos realmente livres, a verdade está sempre próxima.