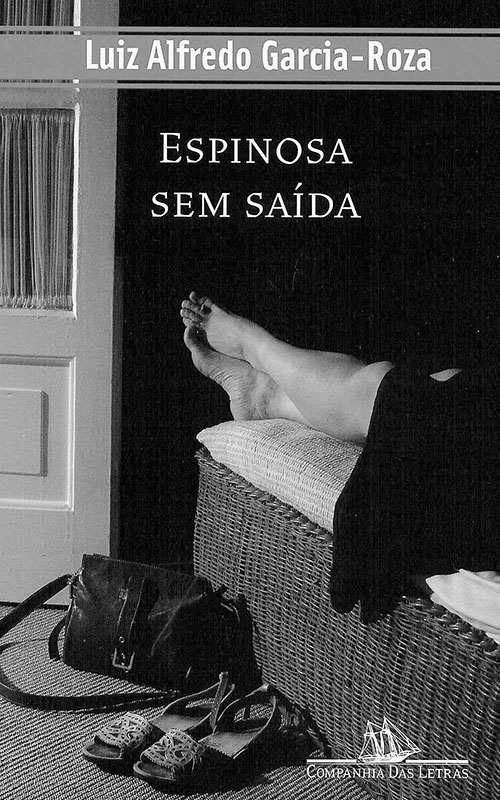Para Luiz Alfredo Garcia-Roza, a morte e o assassinato, numa novela policial, devem ser encarados como enigmas, e não como simples problemas. Problemas pedem soluções racionais, devem ser devidamente equacionados e esclarecidos. Enigmas, por sua vez, exigem decifrações infinitamente mais interessantes e enriquecedoras. “Um assassinato é muito mais complexo do que a pura dedução que nos leva à descoberta de um assassino”, disse o escritor carioca, em novembro passado, por ocasião de sua participação no Paiol Literário, em Curitiba. “A novela policial fica muito mais rica quando perde um pouco dessa coisa cerebral, dessa sua característica cartesiana. Não me agradaria, nunca, fazer um romance policial cartesianamente.”
Professor e autor respeitado na área da filosofia e da teoria psicanalítica, Garcia-Roza soube, como poucos, unir seus conhecimentos acadêmicos à prática da escrita ficcional, criando, numa curta década de produção, uma série invejável de tramas originais e de personagens a um só tempo complicados e carismáticos. É indiscutível o poder de atração que o seu famoso delegado Espinosa — um policial ético, gentil e apaixonado pela boa literatura — exerce sobre seus aficionados. Um “decifrador de signos”, segundo a definição de seu criador, Espinosa sabe que o mundo que habitamos não é o da racionalidade, e sim o das ambigüidades, o da mais perigosa e desregrada confusão. Por isso, quando investiga um caso, ele procura fugir dos raciocínios lógicos, engessados. Prefere lançar mão de seu imaginário, expediente poderoso, quase incontrolável. Como o próprio personagem declarou, certa vez, ele não usa sua imaginação: é “atropelado” por ela. Dessa forma, a investigação policial, para ele, seria como a psicanálise para Garcia-Roza: um processo sem fim visível ou mesmo desejável, impossível de se solucionar completamente e que, à medida que vai sendo dissecado, só tende a crescer em força e complexidade.
Que nunca se espere, portanto, de algum dos bons livros de Luiz Alfredo, um final confortável, que bajule os leitores ávidos por respostas fáceis. Espinosa pode até resolver e encerrar — no sentido legal do termo — os vários casos que lhe caem no colo, mas nunca consegue explicá-los ou mesmo compreendê-los em sua totalidade. É impossível entender todos os terrores, caprichos e motivações de um criminoso, afinal. E essa impossibilidade, na literatura, está longe de ser uma deficiência. Pelo contrário: tais lacunas talvez sejam o grande trunfo da escrita de Garcia-Roza (além, é claro, do debate ético e necessário que discretamente permeia cada uma de suas narrativas).
Mas, mesmo a par disso tudo, nada impede que o leitor de Espinosa sem saída — sétima obra ficcional de Luiz Alfredo Garcia-Roza, sexta protagonizada pelo policial — fique um tanto decepcionado com o desfecho deste novo caso. A novela, cujo ponto de partida é sem dúvida estimulante — algo comum na obra do autor —, desenvolve seus mistérios de maneira satisfatória. Mas realmente incomoda pelo excesso de incongruências que lhe botam um ponto final. Para apontá-las, porém, será preciso revelar aqui, neste texto, muitos dos segredos da trama. Assim, os que não quiserem conhecê-los antes de ler o livro, devem interromper a leitura desta resenha.
Começo promissor
Em Espinosa sem saída, o delegado da 12.ª DP de Copacabana se debruça sobre o assassinato de um sem-teto de aproximadamente 50 anos de idade, conhecido somente pela triste alcunha de Magro. O homem tomara um único tiro no coração durante uma madrugada de chuva forte no Rio. Encontraram seu corpo no alto de uma ladeira bastante íngreme do bairro onde atua o delegado, num cul-de-sac — daí a referência para o título do livro — rodeado por moradias elegantes. A vítima não tinha nome, casa, dinheiro, trabalho, família, existência civil ou rede de relações considerável. A única coisa que lhe conferia certa identidade, além da magreza que lhe rendera o apelido popular, era a ausência da sua perna direita, amputada por causa desconhecida.
O mistério de Magro praticamente aprisiona Espinosa. O morto usava muletas, era fraco e desnutrido. Como e por que subiria aquela ladeira — que desafiava até mesmo os pedestres mais atléticos e dispostos — numa noite de tempestade? E por que alguém balearia um mendigo no coração? Gastar uma só bala, aliás, não condizia com o modo de operar oficialmente adotado pelo tráfico ou por outros bandidos, muito menos econômicos em seus crimes. Não obstante esses detalhes, ninguém dera atenção àquele homicídio. E a insignificância do defunto acabou atestada pelo total desinteresse da imprensa sensacionalista pelo assunto. A morte de Magro não ganhou a atenção dos jornais. Nenhuma linha.
Mas Espinosa sentia que devia insistir no caso. E não somente por uma obrigatória questão ética. No seu ímpeto de descobrir o assassino de Magro, também havia um segundo componente, de difícil identificação. É que o cadáver do mendigo fora encontrado no mesmo cul-de-sac onde, décadas antes, Espinosa, ainda criança, costumava divertir-se com seus amigos de infância. Com esforço, sua turma subia até lá para, após admirar a incrível vista do mar e de Copacabana que se captava do alto da rua, atirar-se de bicicleta ladeira abaixo. Devido a uma série de novos edifícios erguidos nas imediações do local, o cul-de-sac, uma representação geográfica da inocência e da tranqüilidade perdidas, já não oferecia um panorama tão privilegiado da cidade. E agora, para piorar, aquela ladeira, outrora idílica, fora maculada por um homicídio covarde, cujos desdobramentos revelariam, na melhor das hipóteses, os conflitos sociais tão comuns ao Rio de Janeiro e ao Brasil de hoje.
Essas premissas já bastariam para despertar a curiosidade dos leitores de Espinosa. Mas outros detalhes aumentam a boa expectativa. Abre-se o livro com uma cena em que se misturam flashback e sonho. Um menino de oito anos, sereno e contemplativo (e inocente, podemos arriscar), sentado na calçada, observa o pouco movimento na rua em frente ao portão da casa onde mora. Ao mesmo tempo, um homem não identificado o observa de uma janela alta nas proximidades. De repente, surgem três outros garotos, adolescentes, visivelmente mais pobres que o menino. O maior deles agride gratuitamente a criança. Esta, perplexa, nem se defende. Apanha em silêncio, enquanto o homem à janela, angustiado, tenta gritar, sem sucesso. O grito sai fraco, o que corrobora a impressão de sonho. Depois da surra, o guri, humilhado, abre o portão de sua casa e se recolhe. É o fim da sua inocência. O nascimento do trauma.
O trecho é interrompido pelo despertar de Espinosa, às seis e meia da manhã de uma sexta-feira de chuva. Durante aquela madrugada, Magro havia sido assassinado. O que acorda Espinosa, aliás, é o telefonema de outro policial, dando conta do crime recém-cometido. Algumas páginas depois, Garcia-Roza habilmente nos permite acompanhar outro despertar: o do “arquiteto de interiores” Aldo Bruno. Ele — que logo identificamos como o menino surrado do início da novela — também acorda às seis e meia da manhã de sexta. Os leitores ainda não sabem, mas Aldo é o assassino. E essa coincidência de horários sugere aos leitores uma espécie de ligação — psíquica ou meramente dramática — entre os dois personagens: policial e criminoso, investigador e homicida. Ou seja: o livro promete. Assim como Espinosa tem razões obscuras para investigar aquele caso, Aldo, ao balear Magro, também estaria motivado por questões íntimas, desconhecidas, inconscientes. Os lapsos de memória que o afetam desde o início da narrativa confirmam essa possibilidade.
Grandes mulheres
Em Espinosa sem saída, Welber e Ramiro, os leais assistentes do delegado, assim como sua namorada, Irene, desempenham papéis relevantes, mas desprovidos de intensidade. O livro pertence a duas personagens femininas novas, ambas muito bem construídas: a psicanalista Camila, mulher do fraco, irritante e apático Aldo, e a arquiteta Mercedes, funcionária e amante do assassino. Este, inclusive, vive perseguido por uma torturante sensação de culpa, que atribui tanto à traição conjugal quanto às mentiras que conta à polícia durante a investigação da morte de Magro. (Para os investigadores, Aldo sempre foi um dos suspeitos do assassinato do sem-teto. Estava presente à cena do crime e na hora suposta do homicídio. Ele saía de um jantar realizado em sua homenagem, numa casa das redondezas, e estacionara seu carro justamente no cul-de-sac).
Camila percebe as culpas que afligem o marido, mas não consegue identificá-las. São dela as melhores tiradas do livro. Consoladora, diz a Aldo que todos somos culpados de algo, e que, entre sentir-se culpado e ser efetivamente culpado, existe uma diferença apenas sutil, quase incorpórea. Nesse sentido, ela — assim como o faz o próprio Garcia-Roza — relaciona as funções de um padre às de um policial ou psicanalista. Para ela, é impossível decifrar os enigmas do próprio marido, pois quanto maior a intimidade entre duas pessoas, mais fortes os esquemas defensivos criados entre elas. Ao se referir à profissão de Aldo, a decoração de interiores, Camila também sugere que a magia daquele trabalho reside em fazer os clientes achar que as idéias do decorador foram, na verdade, deles próprios. Verdade e ironia que podem ser aplicadas igualmente a várias profissões — inclusive à do escritor policial.
Assim como algumas de suas pacientes, Camila Bruno também demonstra possuir um evidente desinteresse sexual pelos homens. De fato, ela acaba se envolvendo sensualmente com Antonia, uma portuguesa bela e misteriosa, com raízes tanto na Argentina quanto no Brasil, por quem é seduzida em seu consultório.
Já Mercedes tem outro tipo de pegada e inteligência. Uma esperteza predadora e vulgar, apesar de aguda. É uma destruidora de lares experiente, que envolve Aldo numa situação de estresse profundo, principalmente após o estranho assassinato de Camila, ocorrido no último terço do livro. Mercedes quer forçar o viúvo a tornar público o seu caso amoroso com ela. Insatisfeita com a depressão silenciosa que parece começar a atormentá-lo, ela pergunta como era o seu relacionamento com a esposa morta: “Sexo sem conversa? Ou conversa sem sexo?”. Questões centrais no livro. Para a egoísta Mercedes, o seu desejo é a lei, é o elemento que decide o que é moral ou imoral em sua conduta. Para Camila, no entanto, mulher de extrema sensibilidade, a traição não era a pior das tragédias conjugais: péssimo seria uma “vida de casada feita de silêncios” e “comportamentos evasivos”.
Até esse ponto, já temos dois assassinatos. Duas histórias paralelas, mistérios sem ligação perceptível, a não ser pelo que suas vítimas — um mendigo aleijado e uma bela psicanalista rica — têm de mais antagônico. Assim, Espinosa investiga os casos com ardor e, ao mesmo tempo, tenta ler o sugestivo Palmeiras selvagens, de William Faulkner. Um belo achado.
Em aberto
Alguns segredos da trama, porém, deixam-se desvendar muito depressa. Isso não seria problema se eles não fossem protegidos até o final do livro para, ali, serem apresentados como revelações surpreendentes. É o caso da dupla (ou tripla) personalidade de Mercedes. Ela também é Antonia, a paciente com quem Camila mantém um caso. Na página 63, o autor nos apresenta Mercedes como uma argentina “dona de um sotaque portenho encantador”. Na 72, surge Antonia, portuguesa que passara a infância na Argentina e tinha um leve “sotaque encantador”. Difícil não ligar os pontos logo de cara.
Problema mais grave diz respeito à identidade do sem-teto assassinado. Resumindo muito a novela, Aldo teria matado o mendigo por tê-lo confundido com Nilson, o tal garoto que o agredira na cena de abertura do livro. O arquiteto crescera assombrado por aquele fantasma das ruas, a ponto de deixar que aquilo se transformasse numa loucura violenta e galopante. Traumatizado, ele nunca falou sobre Nilson com ninguém. No entanto, ao acusar Aldo pelo assassinato de Magro (que, na verdade, se chamava Elias), Espinosa comenta que, sabe-se lá por que motivos, o criminoso achava que sua vítima se chamava Nilson. Mas como o delegado poderia saber disso?
Sobram outras dúvidas. Os policiais dizem a Aldo que, durante meses, Mercedes fora paciente de Camila, sem nunca contar a ela que era funcionária de seu marido. Mas os policiais não tinham como conhecer as minúcias daquele relacionamento, até então oculto. Já Mercedes explica que só trocara de identidade porque amava Camila e queria ser paciente dela, anonimamente. Mas como poderia amá-la se ainda não a conhecia? E se ela tiver mentido, simplesmente, trata-se de uma mentira estúpida, que não condiz com a personagem. Ela também alega ter se envolvido com Aldo apenas para descobrir algo sobre a morte do sem-teto. Por quê? Isso também não combina com sua inteligência ou com seus métodos. Por fim, Mercedes declara que usar um nome falso numa sessão de psicanálise não é algo ilegal. Pode não ser. Mas ela usou outros dois nomes diferentes, um na faculdade e outro no trabalho. Como Aldo fez para contratá-la, se nem sabia o seu nome verdadeiro? Todos estariam mentindo? Ou essas questões são detalhes menores?
É possível que sejam. Pode-se dizer que tais lacunas não precisariam ser preenchidas com respostas fáceis. Mas são muitas. E causam, por isso, a sensação de que houve um certo descuido do autor em relação ao desfecho de seu novo livro. Infelizmente, é difícil não se frustrar ao final da leitura. Por outro lado, essa frustração só é relevante devido ao fato de ser Luiz Alfredo Garcia-Roza um grande escritor policial brasileiro. Grandeza igual e merecidamente conquistada pelo seu ético e carismático Espinosa.