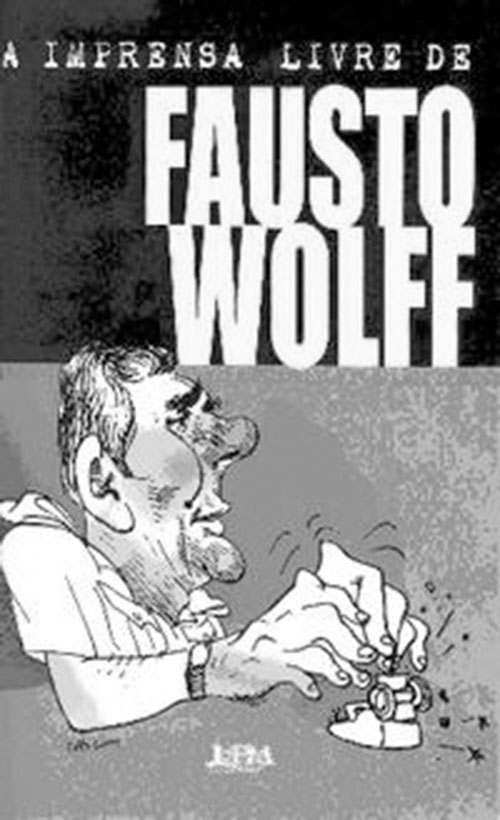Eis aí os textos de Fausto Wolff, um jornalista que faz tudo ao contrário do que os estudantes de jornalismo aprendem na escola. Em primeiro lugar, não existe, em nenhuma linha de seus artigos, a tão propalada virtude magna da imprensa moderna: a (pretensa) imparcialidade. Seus parágrafos são mísseis devidamente disparados contra aqueles que considera serem os maiores algozes do povo brasileiro: a elite econômica cínica e insensível, os políticos corruptos, a mídia subserviente, as grandes corporações multinacionais, às quais se refere, sem meias palavras, como criminosos.
Em segundo, não poupa adjetivos, quando é necessário qualificar devidamente a roubalheira, a exploração e a destruição sistemática de camadas da população (a maioria, diga-se de passagem) às quais a sociedade (leia-se: poder político e econômico) nega os mínimos direitos.
Em terceiro, não há neles, os textos (embora sejam muito bem escritos), aquela falsa elegância do estilo, características de um jornalismo bem comportado e posudo que nada mais é que uma forma pragmática e esperta de se obter notoriedade sem incomodar os poderosos de plantão. Aquele que denuncia sem nunca ultrapassar a conveniência — e que, portanto, nunca vai às questões verdadeiramente importantes que envolvem essa negociata, devidamente maquiada com o honrado nome de democracia.
Estamos falando de um jornalista à moda antiga, de um tempo no qual, antes que o jornalismo descontextualizado, superficial e/ou espetaculoso dominasse as páginas dos jornais e as telas das tevês, ainda havia um sentimento de indignação expresso com a devida ênfase, com a devida sinceridade. Não é sem razão que Wolff, logo no início do segundo artigo do livro, diz estar (isto ainda em 1978, na época do velho Pasquim, do qual foi fiel colaborador, imaginem hoje!) estarrecido por termos perdido “a capacidade de nos estarrecer”. E se você, caro leitor, formular a pergunta “nos estarrecer com o quê?”, é porque tudo está realmente perdido. Ou quase.
Quase, sim, porque, longe dos holofotes da Globo (desejados por nove entre dez aspirantes a jornalistas) e das prestigiadas páginas dos grandes jornais, há, ainda que semelhante a melancólicos dinossauros, autores de livros como este A imprensa livre de Fausto Wolff. Temperado por meio século de militância jornalística (em sua maior parte na outrora chamada imprensa alternativa), além de escritor com vários livros publicados, ele não hesita em assumir-se como um marxista — ou melhor: como um homem que acredita no “humanismo da filosofia marxista, que vê no homem um fim e não um objeto”. Que acredita (“oh, ingenuidade”, dirão os cínicos), “que o homem nasceu para ser livre e feliz”, e que, “se conquistar a liberdade, poderá usar todo o seu potencial para a arte, a cultura, a cordialidade e o amor”.
Aí está, portanto, no velho humanismo, tão desconstruído nesses tempos pós-modernos, a trincheira da qual o velho “jornalista pobre e homem de esquerda” lança seus petardos. Exemplo: no artigo Nem tudo que reluz é ouro, publicado na época do escândalo do painel do Senado, referindo-se a uma peça de Edna Saint Vincent Milay, Wolff lembra “(…) que nem tudo que é legal é certo e que numa sociedade justa, na qual o homem e não o lucro fosse o fim que dá significado à vida humana, muitas coisas hoje consideradas legais seriam consideradas crimes. O salário mínimo (40% da população brasileira sobrevive com menos) é legal mas é um crime. A previdência social para a qual todos pagamos é legal mas seu serviço é criminoso. Homens como Sarney, Barbalho, Antonio Carlos Magalhães, que são donos de uma oitava parte das terras brasileiras, podem ser chamados de senadores mas em verdade são criminosos. Por outro lado a prostituição e o roubo são crimes e entretanto a televisão os incentiva ininterruptamente”.
Em Cadeia para FHC!, ainda na época do governo tucano, ao referir-se a políticos tais como Ciro Gomes, Garotinho e Serra, afirma:
“Essa gente deve se divertir muito conosco. O que eles não dizem pois ainda não têm certeza da nossa total loucura, alienação e subserviência é o seguinte: ‘Política é para nós. Política é para profissionais. Não se metam nisso. Vocês não entendem a regra do jogo. O papel de vocês é votar e tanto faz votarem num candidato ou noutro, pois se nós não somos exatamente iguais somos parecidos. Não acreditam? Pois então digam onde está a esquerda, a direita e o centro, seus trouxas. Onde estão os ladrões e os honestos? Botamos tudo num liquidificador e está cada vez mais difícil distinguir os mocinhos dos bandidos, não é mesmo? Não importa em quem vocês votarem, pois ganhando ou perdendo o nosso partido, estando ele no governo ou não, nós os políticos estaremos no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Oposição ou governo, não mudamos nunca. Somos essencialmente os mesmos e é claro que só insultamos uns aos outros porque essas foram as falas que recebemos. Eventualmente, entra algum novato mas é sempre mulher, filho, sobrinho, neto, primo, cunhado de algum dos nossos. Preferiríamos que Lula não ganhasse, pois o partido tem alguns elementos incorrigíveis e o PT é ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas mesmo que ele vença, nada mudará substancialmente, pois temos o dinheiro, os demais partidos e temos a matriz, o Coiso.’”
Ou, ainda, no contexto internacional, a respeito do frisson criado em torno dos atentados do 11 de Setembro, diz, no artigo The american way of death:
“Um dos grandes aliados do poder nessa história de guerras é a hipocrisia divulgada pelo seu grande sócio, a imprensa. Logo após a queda das torres pediu-se um minuto de silêncio pelos mortos dos terroristas que ainda não se sabe quem são. Como o meu amigo o jovem editor Rafael Goldkorn, estendo o pedido: 13 minutos de silêncio pelos 130 mil iraquianos assassinados em 1991 por ordem de Bush pai; 20 minutos para 200 mil iranianos mortos pelos iraquianos com armas e dinheiro americano; 12 minutos pelos 120 mil japoneses mortos pelos americanos em Hiroshima e Nagasaki. Você já está em silêncio há uma hora. Faça mais uma hora de silêncio pelos vietnamitas mortos pelos americanos. Finalmente, chore pelas mortes que os Estados Unidos causam todos os dias nos países atingidos por sua política expansionista. Como o Brasil, por exemplo.”
Há outros excelentes artigos, dentre os quais destacam-se Todo mundo com cara de bunda!, no qual, em torno da celeuma criada sobre o assassinato do casal Von Richtoffen, explicita a hipocrisia da sociedade a respeito dos crimes considerados hediondos; e Vai começar a verdadeira novela da Globo!, em que não hesita em ser a única, ou uma das poucas vozes destoantes, na louvação generalizada das “virtudes” do dr. Roberto Marinho, na época de sua morte: “(…) uma unanimidade não atingida ainda por Jesus Cristo, pois temos muitos ateus, budistas, judeus e hinduístas entre nós”.
Para se apreciar devidamente esta coletânea de artigos de Wolff, publicados em grande parte na nova (e já extinta) versão do Pasquim, é necessário que o leitor tenha em mente que o jornalista, inclusive o repórter, pode (e deve) expressar sua opinião (quando a tem, coisa cada dia mais rara). E desde que, obviamente, esteja ancorada numa análise madura e em dados, como os arrolados por Wolff, muitos deles incontestáveis. Vejam aqui Fausto Wolff como um antídoto ideal ao pseudo-jornalismo praticado por um, digamos, Pedro Bial.
É preciso, sim, alguma dose, mínima que seja, de indignação. Num tempo em que o Mercado coopta artistas e intelectuais (ou pseudo-intelectuais) para bobagens como Faustão, Sílvio, Casa dos Artistas ou o famigerado Big Brother, é necessária a existência de profissionais que não estejam preocupados apenas em engordar a sua conta bancária.
Para concluir esta resenha — que, fiel ao livro resenhado, não se pretende “objetiva” e “imparcial” — transcrevemos um trecho do artigo Os assassinos da esperança”:
“Outro dia vi um filme inglês. Num pub, um policial diz ao outro:
— Nossos ícones, nossos modelos são vaidosos, vazios, cruéis, corruptos e prepotentes. Somos policiais e deveríamos estar protegendo o povo contra essa gente. E que fazemos? Defendemos a canalha e botamos nossa gente na cadeia.
E isso se passou na Inglaterra. Imaginem o diálogo de dois policiais brasileiros:
— Estou preocupado.
— Por quê?
— Se liberarem a droga vamos perder 900% do salário.
E a nossa grande imprensa continua comentando esse verdadeiro banquete no pântano como se fosse alguma coisa para valer. Pergunto: tem salvação? Ei, você aí, que está vendo a Casa dos Artistas, estou perguntando: tem salvação?”