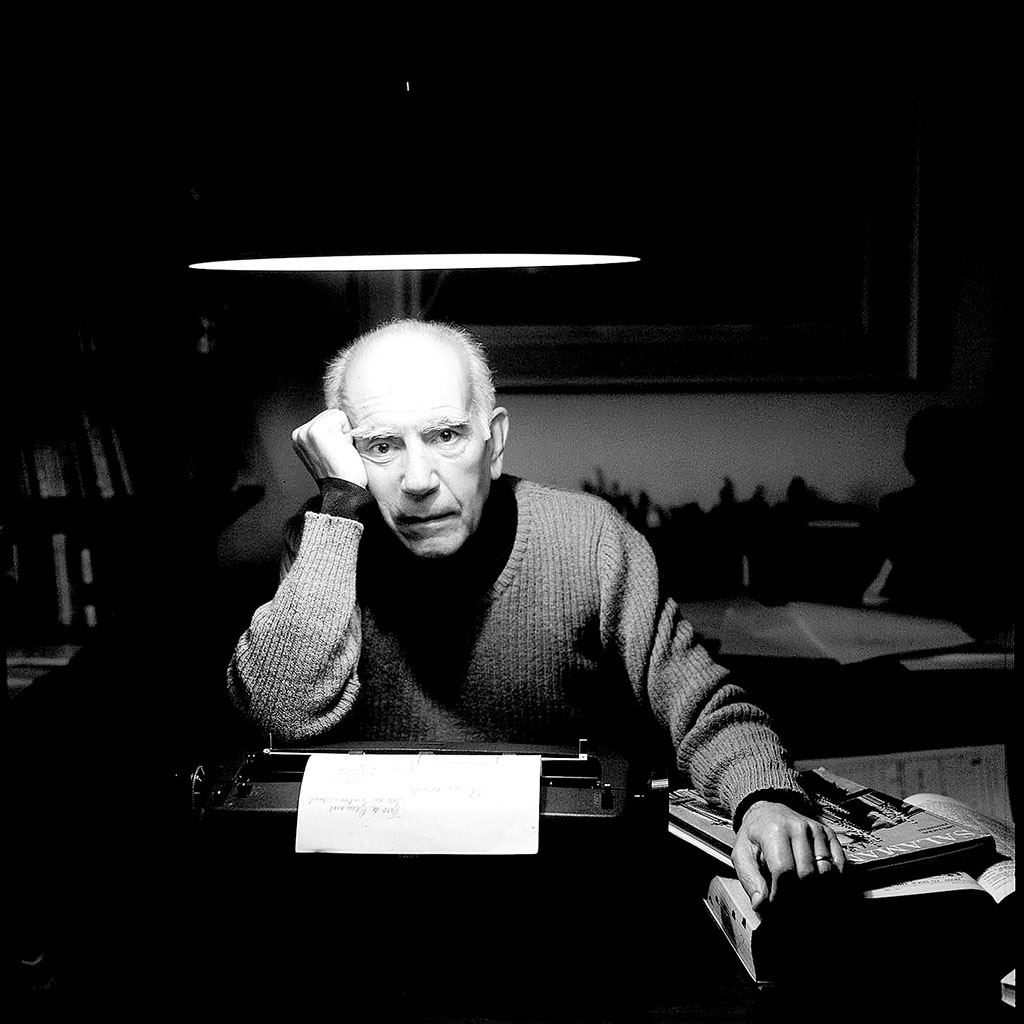Em sua primeira temporada nos Estados Unidos, Erico Verissimo proferiu uma série de conferências sobre a literatura brasileira. Das notas dessas lectures, dadas em 1944, o escritor redigiu uma leitura panorâmica da história da literatura de nosso país, afinal publicada em inglês em 1945 e traduzida ao português apenas 50 anos depois[1], com o título de Breve história da literatura brasileira. Vamos avaliá-la situando-a no quadro do debate crítico e historiográfico nacional de seu tempo. Estamos diante de material de grande interesse para a compreensão não somente da obra ficcional de Erico; trata-se de um ensaio que merece ser pensado no quadro amplo do debate crítico da geração literária e intelectual de Erico.
A Breve história ocupa o exato ponto médio entre o que tem sido chamado de “primeira fase” e de “segunda fase” na carreira literária de Erico. Antes dela, haviam sido publicados os romances de tema urbano mais significativos (centralmente Caminhos cruzados, em 1935; Olhai os lírios do campo, em 1938; e O resto é silêncio, em 1943); depois dela, apareceriam os vários volumes de sua obra máxima, O tempo e o vento, que começam a sair à luz em 1949 e terminam em 1962.
Já daqui uma observação pode ser apontada: a Breve história funciona como um intervalo de reflexão ampla sobre o país e sobre a literatura que ele produzira até então, intervalo que é muito mais do que mera freqüentação dos livros da tradição, já que se trata de texto relativamente extenso sobre o conjunto da história da literatura. Não custa acentuar: Erico poderia haver feito apenas palestras sobre temas da literatura e da cultura de seu país, sem preocupação sistêmica ou visada totalizante; da mesma forma, ele poderia ter deixado a imaginação andar à frente da preocupação reflexiva, fazendo falar mais os traços gerais da cultura brasileira do que as marcas históricas que procurou detectar em cada um e em todos os momentos da história da produção de literatura do Brasil. Quantos outros escritores brasileiros já não ocuparam postos em universidades estrangeiras, sem que jamais lhes tenha passado pela cabeça qualquer pretensão historicizante sobre o país e a literatura?
É como se a Breve história tivesse sido realmente uma parada para balanço e aprendizado, entre os dois momentos de sua obra, parada que terá proporcionado a Erico uma visada de conjunto, de largo fôlego, capaz de dispor o autor a tarefas mais ambiciosas no plano de sua prática romanesca. Nós, seus leitores de hoje, capazes de enxergar em conjunto sua obra, temos facilidade de entender tal cronologia. Mas é preciso lembrar que o Erico que estava nos Estados Unidos dando suas honestas e empenhadas aulas não sabia que seria capaz de escrever O tempo e o vento. Vamos atentar para o detalhe de que aquele escritor já de sucesso mas ainda bastante jovem (nascido em 1905, tinha menos de 40 anos quando dessa sua estada americana) está experimentando, está ousando, está realmente desempenhando sua prerrogativa racional de pensar sobre o que se lhe apresenta, com as armas de sua inteligência, mas sempre sem saber do que lhe reservava o futuro.
Lembremos também que Erico saíra do Brasil no calor da ditadura do Estado Novo (iniciado em 1937), que ele repudiava ativamente, e à sombra da Segunda Guerra Mundial (iniciada em 1939), a respeito da qual Getúlio mostrara e cultivara ambigüidades insuportáveis para quem, como Erico, era claramente antifascista, e na qual o Brasil finalmente entrara, com tropas e tudo, apenas em 1942, pelo lado dos Aliados, liderado pelos Estados Unidos. Na temporada norte-americana, nosso escritor está vivendo um momento vivo e indecidido da guerra, cujo desfecho ocorrerá apenas em maio de 1945 no continente europeu (as bombas assassinas serão jogadas sobre cidades japonesas em agosto deste mesmo ano). Tudo somado, isso significa que Erico não sabe o que vai acontecer nos tempos próximos — nem ele, nem ninguém sabia.
Acrescentemos mais dados sobre aquele momento, agora no plano da produção literária do Brasil. Do que hoje temos como o melhor da literatura brasileira, Erico e o mundo todo não tinham ainda visto nascer nada da obra de Guimarães Rosa nem praticamente da de João Cabral (que, estreado em 1943, chamara a atenção apenas de uns poucos). O magnífico teatro de Nelson Rodrigues era ainda matéria de pura controvérsia, sendo poucos os que o conheciam, e menos ainda os que o levavam a sério como autor. O concretismo e o conto moderno brasileiros jaziam no ventre do futuro; as sucessivas florações da crônica e das memórias, área híbrida da literatura em que o Brasil se especializou e de que Erico conhecia então apenas Rubem Braga, também só apareceriam dos anos 50 e 60 em diante; a televisão, que tanto lugar veio a ocupar no Brasil e que acolheu talentos literários e paraliterários, nem havia começado suas operações no país (apenas em 1950 foi inaugurada a primeira estação de televisão no Brasil); analogamente, pode-se dizer que o parto da canção brasileira de matriz popular ainda não tinha ocorrido, se aceitarmos a razoável tese que atribui à bossa nova tal condição, bossa nova que brotou em 1958, quando os três gênios seus pais, João Gilberto, Vinicius de Moraes e Tom Jobim, chegaram ao disco conjuntamente; sem a bossa nova, estava Erico também sem tudo o que dela dependeu, em maior ou menor grau, por exemplo a magnífica obra de gente como Chico Buarque de Holanda e Caetano Veloso, sem ir mais longe.
Tomemos ainda outra referência, que pode ser de grande valia. Erico está proferindo suas palestras na universidade americana, em Berkeley, para público não-especializado e, pior ainda, para gente que sequer estudava sistemativamente o Brasil, ou a América do Sul. Tratava-se de gente talvez culta, leitores adultos a quem seduzira a promessa de um passeio, talvez pelo exótico, talvez pelo selvagem, oriundos daquele grande país ao sul com quem os Estados Unidos mantinham, então, uma relação de crescente estreitamento. Era o tempo da “Política de boa vizinhança” do presidente Roosevelt, para quem o Brasil era um interesse prioritário naquela quadra decisiva da mudança da sede do império capitalista, que deixava a ilha inglesa para ocupar sede no largo território do Grande Irmão do Norte.
Na universidade norte-americana, bem entendido: a universidade regida pelo pragmatismo protestante, que não presta muita atenção aos babados, às formalidades, aos punhos de renda e aos atestados em três vias que eram (são) a regra de ouro da universidade brasileira. Se por aqui Erico tivesse pretendido dizer alguma coisa, o faria em qualquer parte, menos na vetusta universidade, porque ele não era doutor, não tinha o anel; era apenas um sujeito que sabia escrever a ponto de ser lido por dezenas, centenas de milhares de leitores num país de analfabetos. Mas era pouco mérito, para o padrão brasileiro. Que valor poderia ter isso para uma universidade formalista e, mais ainda, sem tradição no ensino de Humanidades fora das faculdades de Direito? (Num episódio futuro, em plena ditadura militar, Erico recusará um “honoris causa” alegando que não queria ser agraciado por uma universidade que cassava professores.)
Somemos ao quadro um outro dado, que hoje pode passar despercebido: a Faculdade de Filosofia da UFRGS, maior universidade da terra de Erico, foi criada apenas no ano de 1943, exatamente quando nosso escritor viaja para a América do Norte, ano em que se criam os cursos de graduação em Filosofia e História, além da licenciatura em Letras. Quer isso dizer que Erico nem que quisesse teria podido usufruir o ambiente e o estilo acadêmicos aqui no Brasil para levar a efeito o estudo e a redação de sua Breve história, salvo alguma hipótese totalmente estranha, como seria a de uma estada sua na também jovem Universidade de São Paulo, matriz de boa parte do pensamento crítico moderno no país, que abriu seus trabalhos em 1934.
USP onde, pela mesma época em que Erico está nos EUA, um jovem professor e pesquisador formado na área da Sociologia, Antonio Candido, está trabalhando num texto de história da literatura brasileira que entraria de pleno direito para o repertório dos clássicos da interpretação do país. Diz Candido, no prefácio à 1ª edição de Formação da literatura brasileira, que preparou e redigiu o livro entre 1945 e 1951, submetendo-o a revisões e retomadas para editá-lo apenas em 1956, o primeiro volume, e em 1957, o segundo. A lembrança do livro de Candido não é gratuita e, pelo contrário, serve como ótimo ponto de referência para o comentário: enquanto um jovem nascido em 1918, Candido, habilita-se na estufa acadêmica para a tarefa de sistematizar uma interpretação da literatura brasileira, um escritor um pouco menos jovem, nascido em 1905, que vive diretamente do e para o mercado de leitores (num país de poucos leitores), Erico, está no estrangeiro, mais precisamente na sede do novo poder mundial, sistematizando sua leitura da mesma tradição.
Sendo, por esta época, um crítico literário militante no jornalismo, Candido faz sua visitação à literatura centrado em um conjunto sólido de conceitos claramente científicos, como o de “formação nacional” — filiando-se, com ele, a uma distinta linhagem de analistas do país. (A família formativa é larga, começando com a geração de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior e alcançando a geração de Candido, Raymundo Faoro e Celso Furtado.) Erico, de sua parte, tem em vista uma idéia de formação do país mas sem a rede conceitual científica de Candido. Mas não será demasiado aproximar os dois casos no empenho comum de pensar o país, que parecia encaminhar-se positivamente a uma nova e positiva etapa de sua vida, naqueles anos de fim do Estado Novo e da Segunda Guerra.
Erico teve como leituras decisivas, no que respeita à concepção de sua história da literatura brasileira, outros três ou quatro textos, dos quais o último realmente será decisivo. Erico leu com grande proveito, como se deduz de seu livro, três histórias abrangentes da literatura brasileira (a de Sílvio Romero, História da literatura brasileira, cuja primeira edição é de 1880, revisada em 1902; a de Ronald de Carvalho, publicada em 1919 e reeditada muitas vezes, Pequena história da literatura brasileira, “uma verdadeira obra-prima no seu gênero”; e a de Nelson Werneck Sodré, a História da literatura brasileira — Seus fundamentos econômicos, publicada em 1938, obra também valorizada por Erico). Mas parece ter sido mais marcado, em sentido amplo, por um ensaio relativamente breve, que é citado abertamente já no primeiro capítulo do livro — “Vianna Moog, um brilhante ensaísta, escreveu que literariamente o Brasil não é um continente, mas um arquipélago em que ele discerne pelo menos sete ilhas, cada uma com seu clima e paisagem intelectual peculiares”.
Breve história da literatura brasileira consta de um prefácio e doze capítulos, que dispõem em ordem cronológica a história da literatura no país, dos começos ao presente do autor. O prefácio tem relevo por relatar o clima das conferências: tratava-se de público estrangeiro ao assunto e, ademais, não especializado, pelo que o autor meteu de vez em quando uma anedota para colorir a exposição; depois, faz questão de uma declaração de humildade — “não tomei o lugar de Deus; contentei-me com o de um leitor comum” —, reconhecendo-se não como crítico, mas um “contador de histórias”, epíteto este que acompanhou Erico por todo o tempo, muitas vezes como um escudo contra as exigências eventualmente feitas pela crítica, que alguma vez quis dele narrativa experimental, quando ele, segundo ele mesmo, só tinha histórias para relatar.
Quando chega a vez de Machado de Assis, o leitor de hoje vê de corpo inteiro tanto as virtudes do leitor Erico quanto as limitações do crítico Erico. Sabe que ali está o grande escritor, mas não tem a menor idéia de como explicar tal condição. Ou melhor: tem, mas ela é apenas a reiteração dos clichês e equívocos de época: Machado como um “puro homem de letras que não se importava com política ou problemas sociais” (pág. 75), opinião que hoje ninguém mais sustenta mas que fez história; Machado como o sujeito que, vindo de baixo, alcançou posição social estável, casou com a mulher que escolheu e mesmo assim era pessimista, pelo direto e puro motivo, diz Erico, de ser epilético. Para quem renegou, nesta mesma obra, o determinismo racial e social, trata-se de uma posição desconfortável.
Ao avaliar o modernismo paulistocêntrico (o adjetivo não é de Erico, mas deste ensaio aqui), Erico compra a visão modernista das coisas, enxergando nela a expressão mais adequada do tempo, que já não era o do soneto mas o do aeroplano e do rádio. Vêm os anos 30, anos em que o próprio autor já atua; não há mais distanciamento crítico, que se substitui pelo empenho em entender as forças vivas. O que mais salienta é a chegada do que o autor chama de “maioridade” à literatura brasileira, com o romance dos anos 30. Erico defende a tese de que o retrato do Brasil está sendo feito coletivamente, por causa da variedade da nação e porque cada escritor tem se concentrado em sua cidade, ou região ou grupo social. Conclui-se o capítulo e o livro com uma profissão de fé no futuro do Brasil, um otimismo típico da geração, que pensava bastar a resolução dos problemas mais sérios e urgentes, “o analfabetismo, a pobreza e a doença entre as classes mais baixas”, para encaminhar um tempo melhor. Coisa que se deve acompanhar de um governo democrático e progressista, num regime que, segundo a síntese do escritor, seja “capaz de atingir o máximo de bem-estar social com o máximo de liberdade individual”. Não é outro o espírito da frase final do texto, que declara terem os escritores brasileiros saído da torre de marfim, para pisarem em terra e darem as mãos ao homem comum “nessa cruzada universal por um mundo melhor de paz, fraternidade e liberdade” (pág. 153).
Colocado na perspectiva do debate crítico daquele tempo, o livro de Erico parece crescer de interesse. Admirando a escrita e a visada cosmopolita de Ronald de Carvalho, Erico prefere, claramente, o trabalho de Sílvio Romero, “uma obra notável do ponto de vista da pesquisa e do método”, animado de uma apreciável perspectiva sociológica. Tal é a filiação intelectual de Erico, que como escritor também se interessa pelo desenho da sociedade, desde pelo menos o segundo romance, Caminhos cruzados, de 1934, até o último, Incidente em Antares, de 1971, quando põe em cena um sociólogo propriamente dito, o professor Martim Francisco Terra. Por tudo isso, sua Breve história merece ser lida ao lado de sua ficção, como uma reflexão empenhada, também ela, na organização crítica da formação social e cultural brasileira.
Nota
[1] Brazilian literature — an outline (Nova York: The MacMillan Company, 1945); Breve história da literatura brasileira (São Paulo: Globo, 1995, tradução de Maria da Glória Bordini).