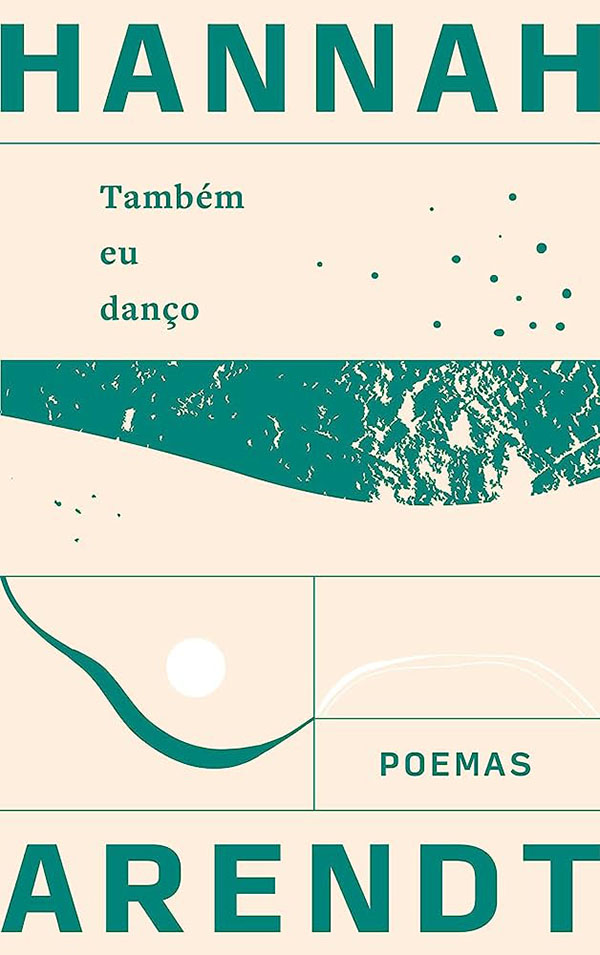Era poeta? Esta é a pergunta que se fazem aqueles que ouvem falar de Também eu danço, de Hannah Arendt (em boa tradução de Daniel Arelli — ele mesmo poeta e filósofo — a levar em consideração aspectos linguísticos desses textos, em especial suas paronomásias e fluidez). Esses versos foram ou não foram feitos para chegar à esfera pública? E agora que chegaram, como ler esses textos?
Há pelo menos três dimensões que se tensionam quando um poema surge. Tradição (os mortos), técnica (a mão) e expressão (o diafragma, ou vá lá saber o que é que inspira, expira e projeta algo para dentro e fora de nós). Em outras palavras, poetas precisam de ouvido, destreza e fôlego. Pelo menos uma dessas coisas. Do primeiro tipo surgem os elegíacos, os arquivistas e os literatos; do segundo, os formalistas e os experimentais; do terceiro, os sentimentais e os de língua ferina. Às vezes se misturam duas ou três dessas dimensões e surgem os mais estranhos e inclassificáveis.
O que dizer sobre a poesia de Hannah Arendt, quando tanto já tem sido dito por seus leitores mais dedicados, que relacionaram esses versos com sua filosofia política e sobretudo com seu pensamento sobre a obra de arte (como o posfácio de Irmela von der Lühe, que acompanha a edição brasileira também)? Dizer que eles têm ou não têm técnica? Que colhem ou não colhem de uma determinada tradição lírica e romântica? Que têm ou não têm fôlego?
Tenho seus versos diante de mim como se se interpusesse entre eles e minhas mãos uma cortina de véus — é difícil não ler essas páginas e procurar, nelas, o que já sabemos sobre Hannah Arendt.
Como ler?
Mas só começamos a ler um poema verdadeiramente quando ocupamos uma posição de não-saber. Por quê? Ao invés de respondê-lo, retomo a questão “era poeta?” transmutada na seguinte: como ler Hannah Arendt para além de Hannah Arendt? Como ler essa poesia apesar do que conhecemos de sua teoria?
Começo de um ponto qualquer. Começo do que escuto. O eco nos poemas de juventude (1923-1926), que marca uma presença mais tímida nos de maturidade (1942-1961). Como no poema Sonho [Traum], em que a dança se repete por suas duas estrofes, transmutando o brilho da poeta por todo o percurso. Quando um eco acontece? Quando podemos escutar a reflexão das ondas sonoras. Quer dizer, em espaços amplos e vazios.
Pés flutuando em brilho patético. [pathetischem Glanze]
Eu mesma,
também eu danço [ich tanze]
livre do peso
no escuro, no imenso.
Espaços cerrados de eras passadas
distâncias trilhadas
solidões dissipadas
começam a dançar, a dançar. [zu tanzen, zu tanzen]
Eu mesma,
também eu danço.
Irônica e destemida
de nada esquecida
eu conheço o imenso
eu conheço o peso
eu danço, e danço
em brilho irônico. [ironischem Glanze]
Hannah Arendt canta desde algum lugar relativamente vazio. O que leio nesses poemas é uma imensa distância. Sozinha, na caixa torácica, ela dança ao som de algum ritmo. Que ritmo é esse? O do coração. O coração marca tudo com um eco. Tun tun. Tun tun (“câmara oblíqua e escura do meu coração”). Cabe dizer que o coração é um dos dois grandes temas de seus poemas. Mas o que isso quer dizer?
Escuto Hannah Arendt como quem lê cartas. Esses poemas, essas cartas, deveriam ser publicadas? Era poeta? Esses versos chegaram até nós principalmente por correspondências e pelos diários (uma forma de correspondência consigo mesma, afinal). Mas é como se os destinatários desses poemas-cartas nunca estivessem presentes. Esses versos não encontram seus destinos, as pessoas morreram, estão longe, ficaram no passado, coisas do tipo.
Escuto Hannah Arendt sozinha e seu coração batendo (“Imensurável, amplo, só,/ quando tentamos medir/ o que, aqui, só o coração toca”). No poema Sonho, esse coração bate como um ritmo do verbo “dançar” e do substantivo “brilho”. Está sozinha. Dança para levar o patético até outra posição, onde possa brilhar irônica.
Com quem Hannah Arendt dança? Algum par? Alguma força a toma? Algum intermediário se interpôs aí. Algo fez mover o brilho de um ponto a outro. Algo trabalhou com a distância. Quem é o sujeito das distâncias? Quem quer alcançar é movido por que força? Eros. Eros é o deus das distâncias. Ou daemon das distâncias, como queria a Diotima de Platão.
Luz projetada
É estranho. Hannah Arendt não se tematiza eroticamente. As pessoas sequer aparecem inteiras em seus poemas. São relances. Uma mão. Uma luz projetada sobre uma face. Um tom de voz. Mas não é o outro que importa aqui, exatamente. É Arendt ela mesma, tentando alcançar alguma coisa (“deixem-me dar-lhes a mão, dias etéreos”). O que Hannah Arendt tenta alcançar? Lembro do fragmento de Safo (ela mesma sempre-tomada de eros) em que a poeta fala de uma maçã alta, no mais alto galho, que os coletores não alcançaram…
Tentar alcançar é, em si mesmo, erótico e formador. É quando tentamos alcançar que tomamos forma, porque percebemos os nossos limites. Hannah Arendt escreve e tenta alcançar alguma coisa, alguém, tocar um outro corpo, e é assim que escuta o eco de seu próprio coração.
Leio Hannah Arendt e seus mortos, para além de Hannah Arendt e de seus mortos. De onde começo? Os véus se interpõem. Penso na herança que nos chega sem testamento (entre passado e futuro). E penso que devo, de novo, afastar esses véus com as mãos. Seus mortos não aparecem nos poemas, não são nítidos, sabemos deles apenas pelos títulos ou pela ocasião em que foram escritos nos seus diários. Seus versos se destacam deles. Leio seus poemas e ignoro os nomes nos títulos. Por exercício de leitura. O que aparece quando esquecemos que é Hannah Arendt? Quando esquecemos que são os seus mortos?
O que restou de ti?
Uma mão, apenas
teus dedos apenas, tremendo tensos
ao pegar uma coisa, ao apertar outra mão.
Pois esse aperto resta, como rastro
em minha mão, que não esquece, que
ainda sentia quem eras, quando há muito
tua boca e teus olhos cediam.
(Morte de Erich Neumann)
Ler Hannah Arendt apesar de Hannah Arendt. Mas em todo lugar encontro pensamento, logopeia. Ela está pensando quando escreve com o coração. Está pensando mesmo? Ezra Pound foi quem postulou que a poesia é uma “concentração”, uma “condensação” do sentido a partir de três dimensões. Melopeia, a dimensão mélica, melódica, sonora, o mel do som que nos envolve. Fanopeia, a dimensão fantasmática, aquilo que aparece, a imagem que se forma no poema. E logopeia, a dimensão de pensamento, logos, a dimensão discursiva e intelectiva. É isso, logopeia, que Hannah Arendt faz?
Como, no entanto, entender as imagens que ela mobiliza? Mãos, flamas, folhas, luz e treva. Há todo um jogo de luz e sombra, e cores, e fragmentos de mundo e de corpo. E sons, ecos, barulhos, cacos de linguagem.
A tristeza é como uma luz em nosso peito acesa.
A escuridão é como um brilho na nossa noite espessa.
Só temos de acender a pequena chama do luto
para voltar à casa como sombras no escuro.
Clara é a floresta, a rua, a árvore e a cidade.
Feliz quem não tem pátria e a vê em sonho em toda parte.
Imagem? Som? Pensamento? Algo de curioso aconteceu aqui. A dimensão logopaica, do logos, se projetou sobre as outras duas, a das imagens e a dos sons. As imagens estão pensando. Os fragmentos de som, que escapam à dimensão comunicativa da linguagem, tentam articular alguma coisa.
“O meu coração bateu em retirada/ por um mundo estranho.” Ao bater em retirada, duplicou-se, num eco. Hannah Arendt estende a mão. Quem está do outro lado? Hannah. Sem sobrenome. Incógnita. Poesia é também uma experiência de si. Ao duplicarmo-nos, tornamo-nos estranhos a nós mesmos, tornamo-nos outra coisa. Eu é um outro (Rimbaud). Projetados para fora, é sempre chance de nos vermos diferindo.
Mas Hannah Arendt sequer se vê. Vê um brilho aqui ou ali. No claro ou no escuro, esse brilho, essa luz. O que está brilhando? Para que raio estende Hannah a sua mão?
Hannah tenta alcançar a si mesma. Seu coração se projeta para “fora” nesses escritos. Há uma ferida aí, como em tudo, e imensa tristeza. Mas como disse Leonard Cohen, é pela ferida que há nas coisas que a luz entra.
(…) Luz à treva se entrelaça
no claro, também no escuro (…)
brilha o claro, brilha o escuro —
um arco raia no céu
nosso olhar, nosso mundo.