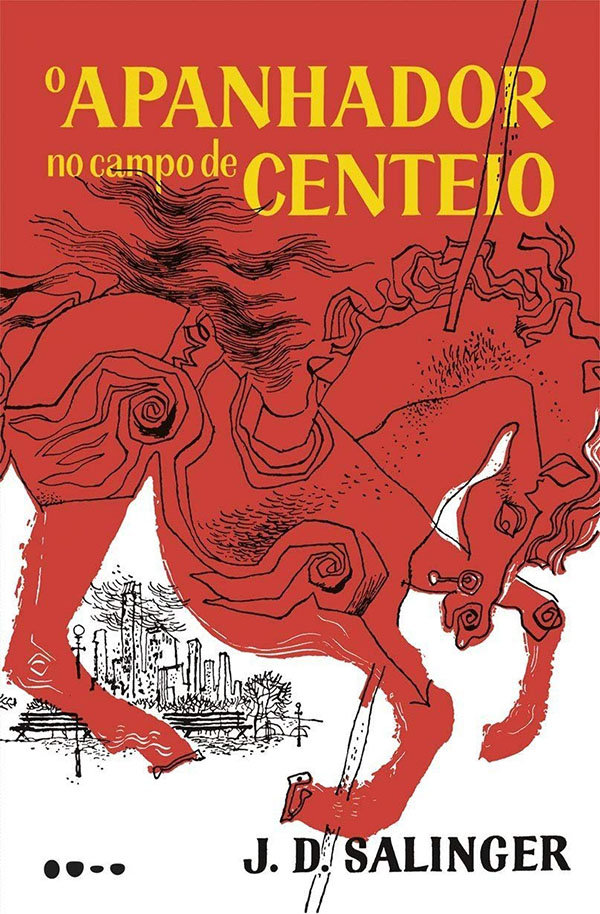O norte-americano J. D. Salinger (1919-2010) construiu sua obra literária por meio da ausência, do silêncio, da fuga. Como tantos outros autores que preferem a própria companhia, feito Thomas Pynchon, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca, Salinger — que ao abreviar seus dois primeiros nomes, Jerome David, já parece esconder algo do leitor — fez das lacunas a matéria-prima para uma das produções literárias mais febris e interessantes de todos os tempos.
Entre a mitologia da sua vida pessoal — uma existência de esquivas e saídas pela tangente — e gênese dos seus personagens, o escritor conseguiu uma arquitetura narrativa que só poderia ser sua — como um evangelho íntimo — e deu voz a uma legião de jovens párias, esmagados pelo peso do sonho americano e do fardo do fracasso em alcançá-lo. Desde seus primeiros contos, publicados aqui e acolá e depois reunidos em Nove histórias (1953), Salinger criava a genealogia da moral americana — principalmente através da família Glass, cujos membros povoam boa parte da sua obra — e escancara as feridas deixadas, sobretudo, pela Segunda Guerra Mundial.
Quando publicou O apanhador no campo de centeio (1951), Salinger produziu na época o mesmo efeito que Pais e filhos (1862), de Ivan Turguêniev: tirar a juventude de uma espécie de paralisia que parece se instaurar a cada geração. Se para o russo era preciso uma dose de descrença para viver, para o norte-americano era impossível se deixar levar pelas obrigações sociais e bons modos de uma sociedade envernizada e anestesiada. Holden Caulfield represente o rebelde sem causa, o Zeitgeist que, pouco mais tarde, daria fôlego para a representação dessa mesma angústia e desespero na figura de outro jovem atormentado, o ator James Dean.
No momento em que Holden decide abandonar a escola e não voltar para a casa dos pais, a narrativa passa a flertar com o romance de formação, um gênero que explora, acima de tudo, a construção do caráter de toda uma geração. Recheando o texto com palavrões e expressões da baixa cultura, Salinger rompia com o status quo da literatura até aquele instante — que ainda parecia viver em uma Belle Époque tardia.
Esse processe de ruptura, um acordo com o leitor, é traçado desde o primeiro parágrafo:
Se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci, e como que foi a porcaria da minha infância, e o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal, e essa merda toda meio David Copperfield, mas eu não estou a fim de entrar nessa, se você quer saber a verdade.
A partir daí, O apanhador no campo de centeio se tornaria um manual de sobrevivência, um rito de passagem da adolescência para a vida adulta. De mais a mais, o livro é a metáfora para a perda da inocência. Suas insinuações — como o trecho em que Holden encontra um professor e acredita que o velho vai molestá-lo — são a síntese perfeita de uma sociedade doente, que esconde seus desvios sob uma fina camada de gelo prestes a rachar. E Salinger explora essas falhas em cada um dos episódios dessa fábula de um menino à beira de um ataque de nervosos. Como se fosse possível escapar do seu próprio destino, Holden conduz a si mesmo até a beira do precipício, ansiando por uma queda livre.
Todos esses aspectos fazem d’O apanhador no campo de centeio uma obra singular, um divisor de águas dentro da tradição. Ao mesmo tempo, esses elementos de ruptura e cisão são os que transformaram o livro em cânone universal. Aquela rebeldia que dava o tom em cada página e a força-motriz que o leva diretamente ao centro de uma literatura universal e universalizada. Como se a herança fosse, por vezes, também a maldição.

Exegese do sublime
E essa deia de um jogo de dados entre vícios e virtudes parece percorrer a obra de Salinger. O conto que abre Nove histórias, Um dia perfeito para peixes-banana, é um mergulho nas feridas de Seymour Glass, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Calado ao longo de todo o relato, quem dá voz às angústias do personagem é sua esposa, Muriel, que ao telefonar à mãe tenta uma exegese do sublime, mas acaba atolada em um grande lamaçal de sentimentos confusos. Influenciado enormemente por Hemingway, e citando T. S. Eliot, Salinger fragmenta o tempo narrativo, que oscila entre o cronológico e o psicológico, refletindo exatamente a instabilidade emocional de Muriel e Seymour — cada qual alijado da consciência plena de mundo.
O conto seguinte, O tio Novelo em Connecticut, volta aos ditos e não ditos da vida conjugal para traçar uma Quadrilha, de Drummond, nas entrelinhas de uma prosaica conversa entre duas velhas amigas, Mary Jane e Eloise. Nesse espelho de ilusões — cujo vértice proeminente são os amigos imaginários da pequena Romona, filha de Eloise —, Salinger traça uma régua entre o delírio e a glória. Da mesma maneira, em Logo antes da guerra com os esquimós, novamente um encontro duas amigas — agora colegiais —, o autor demole as ideias e os ideais da classe média norte-americana ao colocar o leitor frente a frente com os valores ultrapassados de uma burguesia de fachada. Salinger usa o banal — uma bolinha de tênis — para escancarar a ganância e a pequenez que passa de pai para filho.
O gargalhada, um conto quase gótico dentro do universo urbano do escritor, esconde uma releitura de O homem que ri, de Victor Hugo (1802-1885). Aqui, o homem deformado é personificado na figura de uma criança sequestrada por uma gangue chinesa. A história se torna uma espécie de lenda dentro do Clube Comanche, uma associação de jovens para o desenvolvimento de esportes, e passa a habitar o imaginário daquelas crianças.
Desconhecidos desviavam de pronto ao ver o horrendo rosto do Gargalhada. Seus conhecidos o evitavam. Mas curiosamente os bandidos permitiam que ele ficasse pelo seu quartel-general — desde que mantivesse eu rosto coberto por uma leve máscara cor-de-rosa, feita de pétalas de papoula. A máscara não apenas poupava os bandidos da visão do rosto do seu filho adotivo, mas também os deixava capazes de sentir seu paradeiro; nessas circunstâncias, ele fedia a ópio.
Essa imagem de um Robin Hood canhestro — um arquétipo capaz de conquistar e dar medo — é, mais uma vez, a tentativa de Salinger de chegar à exegese do sublime em que as falhas podem ser compensadas por um único elemento. E é assim em Lá no bote, historieta que esconde traços autobiográficos do escritor e que coloca na mesa a questão do fascismo escamoteado no cotidiano. Escrito no verão de 1948, o conto ecoa o perverso estrutural — aquele que está presente sem se fazer visível, algo bastante comum na obra de Salinger.
A partir da ideia do fascismo estrutural, Salinger constrói Para Esmé — Com amor e sordidez. No relato, o Sargento X relembra a jovem que conheceu pouco antes de ser enviado à Europa para lutar. Como um conto de vingança, o autor cria um debate cínico entre realidade e interpretação. Anos mais tarde, Susan Sontag (1933-2003) partiria dessa mesma ideia — de interpretação da memória através da fotografia — para criar um de seus livros mais interessantes, Sobre a fotografia (1977). Ao invés da imagem, o que Salinger encontra são os dessabores de um homem acovardado, e caído de rancor, tentando esquivar-se do abandono em uma carta endereçado ao noivo de Esmé.
Mas mesmo assim, esteja onde estiver, não acho que eu sou o tipo de pessoa que não mexe uma palha para evitar que um casamento faça água. Por isso mesmo, acabei rabiscando umas poucas notas reveladoras a respeito da noiva, como eu a conheci quase seis anos atrás. Se as minhas notas gerarem para o noivo, que eu não conheço, um ou dois momentos de incômodo, tanto melhor. Ninguém está aqui querendo agradar. Na verdade, é mais para edificar, instruir.
Em simultâneo, a oferecer qualquer matiz sobre o narrador ao afirmar que “ninguém está aqui querendo agradar”, Salinger parecer fazer uma síntese da sua própria literatura. Assim como o homem misterioso que conta sua história atrás de uma cortina de fumaça, J. D. Salinger usa do mesmo artifício como escritor. Ambos, autor e personagem, sem fundem na elucubração de uma narrativa que cai bem apenas para si mesmo.
Quando publicou O apanhador no campo de centeio, Salinger produziu na época o mesmo efeito que Pais e filhos, de Ivan Turguêniev: tirar a juventude de uma espécie de paralisia.
Machado e Deus
É interessante pensar que o corpus literário de Salinger gira em torno de um mesmo centro: as relações. Linda boca, e verde meus olhos é uma tentativa de compreender os laços afetivos capazes de unir e desunir. Diante do impasse — há sempre um abismo a separar seus personagens —, e aqui Salinger está às voltas com a dúvida clássica machadiana acerca da traição, o conto coloca em suspenso a questão da confiança. Talvez, dizem alguns estudiosos, o texto seja o expurgo — mais uma vez a vingança — da dilaceração pessoal do escritor ao ser trocado por Charles Chaplin.
O período azul de Daumier-Smith — cuja tradução brasileira não consegue manter a informalidade do título original, De Daumier-Smith’s blue period, e nem mesmo ambiguidade de blue —, possivelmente o conto mais fraco de Nove histórias, é a síntese da busca de Salinger por uma resolução mística para o imperialismo norte-americano.
Esses são os mesmos temas que percorrerão o conto que fecha o volume, Teddy, e que representa, mais uma vez, a perseguição pelo sublime, mas termina de forma insólita e deslocada. Inspirado pelo Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, texto místico da cultura hindu, evoca os conceitos que fariam, pouco depois, parte do ideário hippie, mas falha ao tentar colocar em xeque os valores materialistas e individualista.
Parte de ímpeto reverso advém, justamente, do final controverso, uma peça estranha dentro do manual de sobrevivência de Salinger. Anos mais tarde, David Foster Wallace (1962-2008) revisitaria, ainda que simbolicamente, o conto ao escrever Para sempre em cima. Teddy guarda também uma suntuosa memorabilia literária.
Força centrípeta
Em Franny & Zooey (1961), reunião de um conto e uma noveleta, Salinger termina de construir seu evangelho particular — ainda que dois anos mais tarde fosse incluir Carpinteiros, levantem bem alto a cumeeira & Seymour, uma apresentação [na tradução da L&PM Pocket], uma espécie de adendo ao conjunto, principalmente devido ao fato de fechar a mitologia que cerca e dá fôlego à família Glass. Por sinal, em Seymour, uma apresentação, Buddy Glass — irmão mais novo do personagem que dá nome à história — afirma ser o autor de muitas das narrativas de Salinger.
De volta a Franny & Zooey, o elo que une os dois textos — e os dois irmãos Glass — é o tédio juvenil e o desajuste, a sensação intermitente do outsider, aquele cuja presença é puramente física. Enquanto Franny atravessa a frustração de uma decepção intelectual pelo namorado, Zooey tenta reatar seus laços sentimentais com a família através de uma carta escrita por Buddy. Ambos são figuras que escondem uma certa fragilidade diante do mundo. Salinger explora essa ideia nas sutilezas da construção de uma sintaxe que espelha a grandeza de uma confusão.
Se em O apanhador no campo de centeio a inadequação leva à fuga — bem como em alguns dos contos de Nove histórias —, em Franny & Zooey o movimento é contrário, centrípeto. Esse é o retrato perfeito não somente da infância que termina, mas da inocência que acaba logo ali adiante. Os irmãos Franny e Zooey simbolizam uma geração perdida à espera de um resgate. São também maximização do desespero que levou Holden para longe — como se o descompasso e o desconsolo pudessem ser materializados em corpos.
Nesse grande mosaico de lacuna, Salinger foi capaz de criar uma obra completa, que ajuda a elucidar o abismo que jamais foi transposto, mas que serve de abrigo para que a banalidade do mal se reproduza livremente.