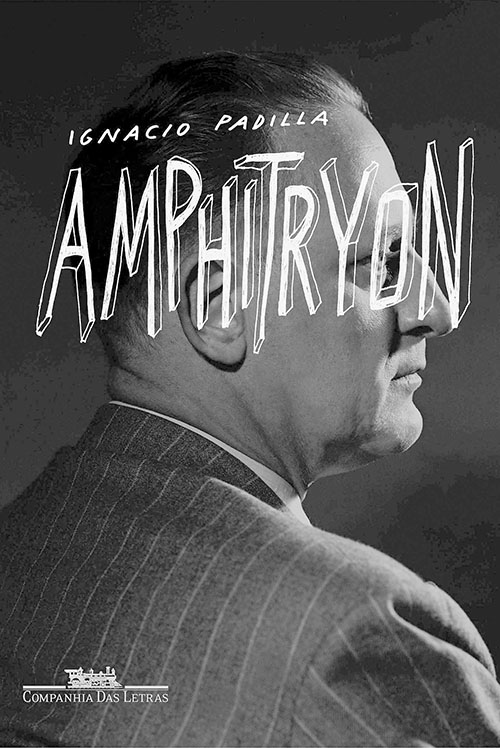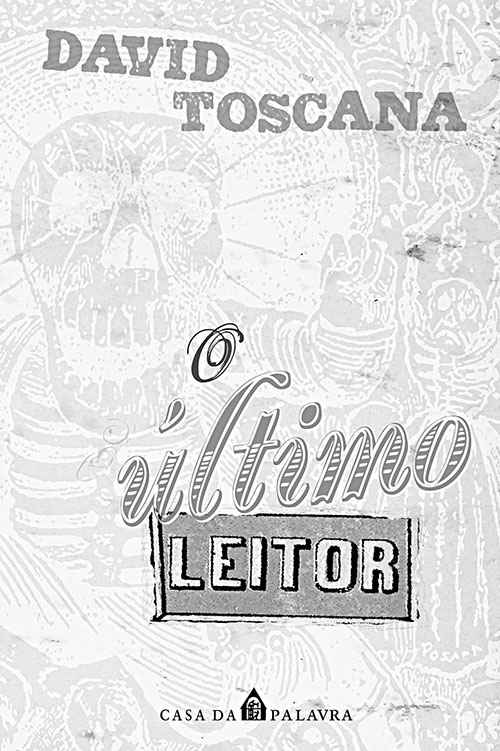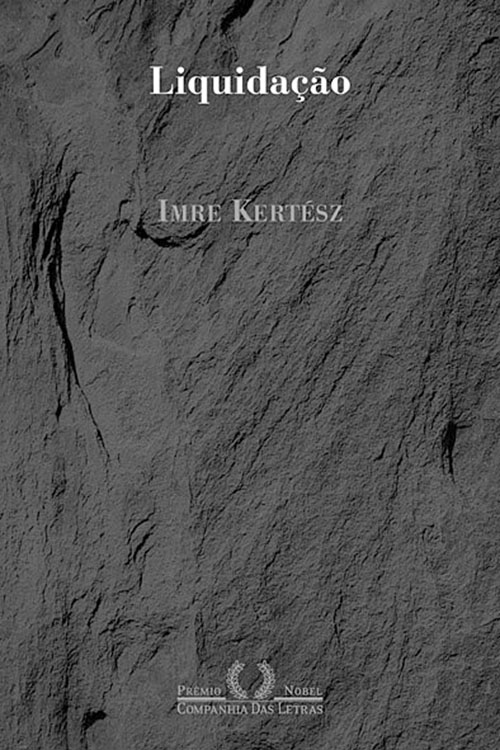Os romances Amphitryon, de Ignacio Padilla, e O último leitor, de David Toscana, saíram da pena de dois jovens escritores mexicanos (o primeiro tem 38 e o segundo, 45 anos); apresentam personagem de destaque portando o improvável nome de Remigio; e foram recentemente elogiados pelo mesmo New York Times Review of Books. Mas, além dessas coincidências, há algo mais os unindo de modo irresistível.
O que salta aos olhos é que ambos oferecem uma moderada trama de mistério, que, aos poucos, transforma-se num simulacro de enredo policial, até porventura frustrar os leitores mais desejosos de uma conclusão simples, fácil, inequívoca. À semelhança de alguns contos de Jorge Luis Borges e Julio Cortázar, Padilla e Toscana parecem menos interessados em seguir as regras do jogo investigativo do que em suscitar questões referentes à identidade existencial e social do homem; menos aptos a entreter do que a fazer pensar; menos convictos, em suma, de que devem proporcionar soluções e não apenas formular as perguntas.
Digamos que cada um saiba da importância de conquistar o interesse do leitor — tão mais rapidamente fisgado quando os elementos da velha e boa história tradicional de mistério agitam seus tentáculos como os cabelos da Medusa. Mas há algo mais ali. Trata-se de uma questão quase epistemológica, ligada não só ao estágio em que a ficção se encontra hoje, mas também ao ponto de desencanto a que o homem chegou na sociedade atual; decepção esta que a literatura de um modo ou de outro acaba refletindo. É como se, de certo modo, os romances de Toscana e Padilla, em seu pessimismo apocalíptico ou pós-apocalíptico, fossem impedidos de conceder as respostas.
Tomemos o caso de O último leitor. O corpo de uma menina é encontrado no fundo do poço de uma pequena propriedade de Icamole. Quem o descobre é Remigio, filho do bibliotecário local. Mas os habitantes do vilarejo mexicano não se preocupam muito com o desaparecimento da garota, que, aliás, nem é dali, e sim de Monterrey. O que aflige a população é a seca. Há um ano não chove. Por isso, os moradores vêem-se obrigados a servirem-se da água da vizinha Villa de García, trazida numa carroça puxada a mula. Com medo de ser responsabilizado pelo crime, Remigio oculta o cadáver, e procura a ajuda do pai.
Diretor de uma biblioteca fechada pelo governo por absoluta falta de leitores, Lucio passa dias e noites apreciando os volumes que lhe foram enviados, armazenando os que julga bons, e lançando os que considera esteticamente indigentes a um quarto de despejo cheio de formigas e baratas. Nesse “inferno”, como ele o denomina, a polpa nutritiva dos livros serve de alimento aos insetos, numa lenta e excruciante agonia literária. Abastecido também, por assim dizer, do melhor material, Lucio tende a explicar a realidade com base na ficção. Dessa forma, ele não só arranja um nome e uma personalidade para a menina, senão também ensina ao filho a desfazer-se do corpo e ajuda a polícia a capturar o suposto assassino.
Demiurgo de um mundo alucinatório constituído de um inferno auto-reflexivo (as baratas digerem a matéria livresca como o bibliotecário reelabora o conteúdo textual; com uma diferença: o primeiro é exclusivo enquanto as primeiras são inclusivas) e uma realidade tirante à ficção, ou seja, àquilo que a população de Icamole associa à mentira, a coisas que não existem. Lucio, por exemplo, está convencido de que a região é cenário dum romance estrangeiro, que conta a história de um casal de alemães que ali se estabelece quando topa com um terreno tomado por “conchas marinhas, caracóis, fósseis de trilobites e náutilos”. Embora ninguém acredite que Icamole possa ter inspirado a literatura do Primeiro Mundo, um mar pré-cambriano de fato ali existiu, emprestando à área um ar fantasmagórico, como se peixes e monstros oceânicos ainda percorressem o solo seco e estriado.
À pré-história alia-se a história. Foi em Icamole que as tropas rebeldes do futuro presidente Porfírio Díaz foram dizimadas pelas forças federais. Se os livros de história preferiram relegar a batalha de Icamole às notas de rodapé, segundo a versão engendrada por Lucio, a operação militar terminou por salvar a pátria, cujos governos e revoluções efêmeros haviam conduzido à beira da extinção. E salvou-se a nação justamente pelas mãos do derrotado Díaz. O povo de Icamole não depara apenas com os fósseis que lá abundam, mas com antigas balas e também com restos mortais dos combatentes enterrados. O subsolo da região, portanto, posto que árido, é rico de memória literalmente recalcada.
Esse opíparo subterrâneo repercute na fértil imaginação de Lucio, o portador da luz bruxuleante da ficção que, como o solo, revela e oculta terríveis segredos. Por isso, não causa espanto quando o bibliotecário, contaminado, é claro, pelas idéias dum romance, aconselha o filho a enterrar o cadáver entre as raízes de um abacateiro. Assim, os fluídos corporais da menina poderiam ser sugados pela árvore, que, por meio deles, produziria mais e melhores frutos. A imaginação alimenta a realidade assim como o assassinato engendra a vida. No mesmo sentido, não estranha que suas teorias logo comecem a vacilar: o assassino pode ser ou não aquele sugerido por ele; o homicídio pode ter ou não ocorrido do modo como ele concebeu; o fim do criminoso pode ou não se dar assim como ele traçou. Seria a realidade concebida pela imaginação sempre alucinatória e esquizóide?
Vampiros de almas
Em Amphitryon, a situação é bem mais intrincada, e envolve só tangencialmente a realidade latino-americana. A intriga começa, grosso modo, quando um soldado chamado Thadeus Dreyer, enviado para lutar pelo exército austro-húngaro, durante a Primeira Guerra Mundial, enfrenta o guarda-chaves Viktor Kretzschmar numa partida de xadrez. Ao ganhar a disputa, obtém o direito de trocar de identidade com o funcionário da linha ferroviária. Viktor se apresenta como Thadeus na suicida frente oriental, enquanto o segundo adota o nome do outro e torna-se guarda-chaves da linha Munique-Salzburgo. Trata-se da primeira troca de identidades do romance; a primeira de que o leitor tem notícia, pelo menos, pois, depois ficamos sabendo, Viktor na verdade seria o judeu Jacob Efrussi. Efrussi/Viktor/Thadeus morre na guerra, mas sua identidade é incorporada pelo diácono Richard Schley, que, na infância, foi amigo do judeu.
Por sua vez, afundado na existência monótona de seu posto ferroviário, Viktor acredita que Thadeus lhe concedeu a vida, mas, traiçoeiramente, roubou-lhe a alma. Amargurado, faz questão de tornar-se funcionário exemplar, enquanto, nas horas livres, constrói, no anexo ao chalé onde habita, uma imensa maquete de linhas de trem. O narrador desta parte do livro, seu filho Franz Kretzschmar, chama o modelo de “maquete do mundo” e seu criador de “demiurgo apócrifo e sem nome”. Ao ler a notícia de que Thadeus, agora promovido à condição de tenente-coronel, iria a Salzburgo como convidado de honra do partido nazista da Áustria, Viktor vê a chance de se vingar. O resultado de seu plano, porém, urdido na tal maquete do mundo, é não somente calamitoso, como também desde o início inócuo em relação à pessoa que se pretendia assassinar. Viktor não teria como saber que Efrussi, com quem de fato barganhou a identidade de Kretzschmar, já está morto, e que seu lugar era ocupado pelo ex-diácono Richard Schley.
A intriga, nessa altura já intrincada, complica-se ainda mais com o passar dos anos, a entrada de outros personagens e o estabelecimento de novas trocas de identidade. Aos poucos, também, conforme sugerimos, adquire a aparência de trama policial, com assassinatos e um complô nazista (ou antinazista), denominado projeto Amphitryon. Essa figura da mitologia grega, mais conhecida em português pela alcunha de Anfitrião, foi objeto de comédia de Plauto, além de auto de Camões. Anfitrião foi vítima do ardil de Zeus, que, tomando-lhe a forma, seduz sua fiel esposa Alcmena, que posteriormente dá à luz Héracles ou Hércules. Como também dissemos, a resposta ao(s) mistério(s) proposto(s) pelo romance é, no mínimo, bastante ambígua. Ao contrário de O último leitor, porém, em que a solução encontrada aos poucos vai sendo minada até que deixamos de confiar em sua eficácia elucidativa; diferentemente deste romance, por conseguinte, o leitor até pode chegar a uma possível explicação, mas ela não é exposta numa bandeja de prata. Há várias hipóteses e indícios que caminham para um hipotético desenlace, mas este, longe de constituir um desfecho satisfatório, é impreciso, equívoco, especioso — e, de mais a mais, nem é admitido como tal: o autor antes o sugere do que o descreve.
Estamos, em Amphitryon, num mundo bastante particular, artificioso, formado por cambistas de identidade, vampiros de almas, multidões de sósias, falsificadores, enxadristas dispostos a transformar a realidade num vasto tabuleiro. Veicula-se a idéia da vida como jogo ou a algo sujeito às leis de um jogo misterioso, do qual o ser humano participa sem saber ao certo quais são as regras. Os patronos desse mundo são Anfitrião, é claro, mas também Jacó, chamado de “senhor dos impostores”, lembrado decerto por ter trocado de lugar com Esaú por um punhado de lentilhas (a acepção popular de seu nome aproxima-o do verbo aqab, que significa suplantar ou enganar). A analogia com a lenda de Anfitrião é igualmente produtiva. Usurpar a identidade confere ao usurpador a qualidade divina pela associação com Zeus, que tomou a forma de Anfitrião para deitar com a esposa do grego. É esse atributo divino que busca Viktor, o demiurgo espúrio, com sua “maquete do mundo”. Mas a aliança é maligna: Efrussi/Thadeus, com seu “cadinho de almas”, é descrito como figura mefistofélica. Adiante, cita-se um trecho do Evangelho de Marcos: “Meu nome é Legião, porque somos muitos”. Legião, sabe-se, é o nome do demônio ou dos demônios exorcizados por Jesus no território dos gerasenos.
Como em O último leitor, o resultado das ações ou deduções por meio das quais os personagens procuram atingir status sobre-humano, sempre é traiçoeiramente diferente do resultado pretendido: a estratégia de Viktor na linha de trem provoca a morte de dezenas de pessoas, mas não de seu algoz; Efrussi/Thadeus vai à guerra, enlouquece e mata seus próprios companheiros; o complô nazista que se transforma em golpe antinazista acaba com a morte de (quase) todos seus integrantes, mas não de Hitler e seus asseclas. A tarefa é inadequada para o ser humano, comparado, a certa altura, a roedores na “exasperante maquete do cosmos”, enquanto o mundo seria composto de homens e nações que se esmeram “em não ser nada nem ninguém”.
Alterar a realidade à maneira de Deus, brincar com o destino, é, verdadeiramente, um ato diabólico. Não é à toa que o bibliotecário de O último leitor chama-se Lucio, nome que o identifica ora com a luz, ora com Lúcifer (etimologicamente: o que leva o archote). Também não é sem razão que o único local em que exerce domínio é o inferno. Tanto em seu universo quanto no das criaturas de Amphitryon, a verdade é esquiva. “Talvez estejamos todos condenados a sempre continuar procurando uma verdade absoluta, sem nunca nos conformamos com esses pequenos e eventuais motivos oferecidos como consolação, pelo amargo arquiteto que rege este labirinto sem fim”, lamenta um dos personagens.
O herói cômico na era das catástrofes
Sentimento de desolação semelhante se acha em outro romance, que, por sinal, também alinhava um arremedo de trama policial. É a novela Liquidação, do húngaro Imre Kertész. Aqui, a morte por suicídio do personagem B. suscita uma série de questões: por que esse escritor teria se matado? Haveria alguma ligação com um manuscrito misterioso, no qual, fazia anos, ele vinha trabalhando? E aonde foi parar esse texto? À medida que Amaro, editor de B., procura deslindar o enigma, mais a verdade se torna remota, obscura, inatingível. O livro de Kertész se estrutura de forma mais ousada do que a escolhida pelos mexicanos. Parte da ação é vista por meio de uma peça de B., chamada Liquidação, em que os personagens, como sua amante, sua ex-mulher, além de Amaro, surgem discutindo a morte de B. e o destino dos manuscritos.
O próprio Amaro é um personagem concebido a partir de um nome: “Chamemos o nosso homem, o herói da história, de Amaro. Imaginamos o homem e, para ele, um nome. Ou ao contrário: imaginamos o nome e, para ele, um homem”. Nesse contexto, a realidade não passa dum “conjunto duvidoso e confuso de imagens, palavras e fatos existentes na memória de Amaro”. Como o bibliotecário de O último leitor, açodado pela debacle das letras, ele tem consciência de que é um “editor literário numa cidade onde a literatura aos poucos de tornava desnecessária”. Mas, fosse ela necessária, seria moralmente aceitável ou uma “armadilha que nos aprisiona”, já que ela ou, mais exatamente, a leitura, consistiria num “narcótico que apaga agradavelmente os cruéis contornos da vida que nos governam”?
A liquidação do título se refere tanto ao fechamento da editora onde Amaro trabalha, quanto à liquidação (fim) das nações ou da civilização ocidental (de tradição grega) e também à liquidação como barateamento para a venda expedita de valores do passado. O herói desses novos tempos, dessa “era das catástrofes”, em que o “princípio” gerador é o “Mal” (como no romance dos mexicanos), não é mais o homem trágico. É uma figura reduzida, um “sobrevivente”, um homem “cômico, porque não destino” (embora viva com a “consciência trágica do destino”), que “não tem qualidades, não tem caráter”.
Kertész é judeu e esteve preso, quando rapaz, em Auschwitz. Mesmo assim, uma das personagens, que também sobreviveu ao campo de concentração, diz: “Eu estive lá. Eu vi. Auschwitz não existe.” Ela não quer dizer que esse campo de extermínio, que liquidou entre três e quatro milhões de prisioneiros, não exista como núcleo descaroável da experiência, mas que os meios de que o homem dispõe para descrever essa realidade a tornam banal, falsa, inenarrável (Kertész detesta A lista de Schindler). Quando a ficção, por intermédio de suas afiliadas mais ladinas — o slogan político e religioso, a indústria do entretenimento e a propaganda —, torna-se moeda corrente; quando tudo, enfim, inclusive a história, é ficção, então nada mais soa verdadeiro. Alijados de nosso destino e de nossa essência, somos figuras cômicas numa peça patética. Nosso nome pode nos facultar a existência, como os personagens de Padilla, que trocam de identidade como quem troca de roupa, mas quem nos garante a essência? Nenhum desses personagens “desalmados” são figuras que ficariam de pé, se submetidos ao teste da realidade, caso se vissem fora das páginas do livro: ocos, podem ostentar sentimentos, angústias ou pensamentos humanos, mas tais elementos não formam um ser único; funcionam mais como peças desencontradas a compor um mosaico histérico e sem contornos. Por isso também a recusa de cada um desses autores de fornecer uma solução satisfatória aos mistérios que brotam de seus textos. Como dar uma resposta unívoca se esta daria a impressão de que a conclusão é possível, de que podemos descansar felizes com o universo de volta aos eixos, com os heróis tomados pela hybris finalmente castigados? Mas, se nada faz sentido, se a verdade se mostra inalcançável como entidade absoluta (mas não como “pequenos e eventuais motivos oferecidos como consolação”), como poderiam vir com as respostas? Seria uma traição ao pessimismo epistemológico que emana desses textos. Seria incluir um procedimento de uma literatura muito mais confiante num discurso que duvida de si mesmo como produtor de sentido, e que precisa aventurar-se com as engrenagens à mostra, de certo modo desarticulado, misto de peça, ficção e texto de ensaio, para conseguir, escassamente, dar conta de uma idéia. Seria incluir uma canhestra tentativa de ordem naquilo que, por princípio, pende para o caos.
Tanto Liquidação quanto Amphitryon mencionam a Segunda Guerra. Teria a realidade bruta desse conflito, sangrentamente ancorado na maior das ficções mefistofélicas do século passado, condenado o homem a vagar sem destino pela terra desolada, como sobrevivente cômico? Ou será que as ditaduras, como as que prosperaram no Leste Europeu de Kertész ou nas nações periféricas como a de Padilla e Toscana, seduziram o mesmo homem, com “a força de atração dos redemoinhos vertiginosos” até que nele estourasse “o caos como gêiser fervente”? Fazendo a morada nesse caos, o ser humano perde todas as certezas: de seus ideais, da realidade e, por fim, de si mesmo.
Como em O último leitor nada mais resta senão fósseis e balas perdidas de um passado remoto. A única coisa que faz frutificar a árvore é o sangue dos assassinatos, é o mal tornado matéria viva não de uma verdade absoluta, mas, aí sim, de uma ficção absoluta. E quem quiser, que conte outra.