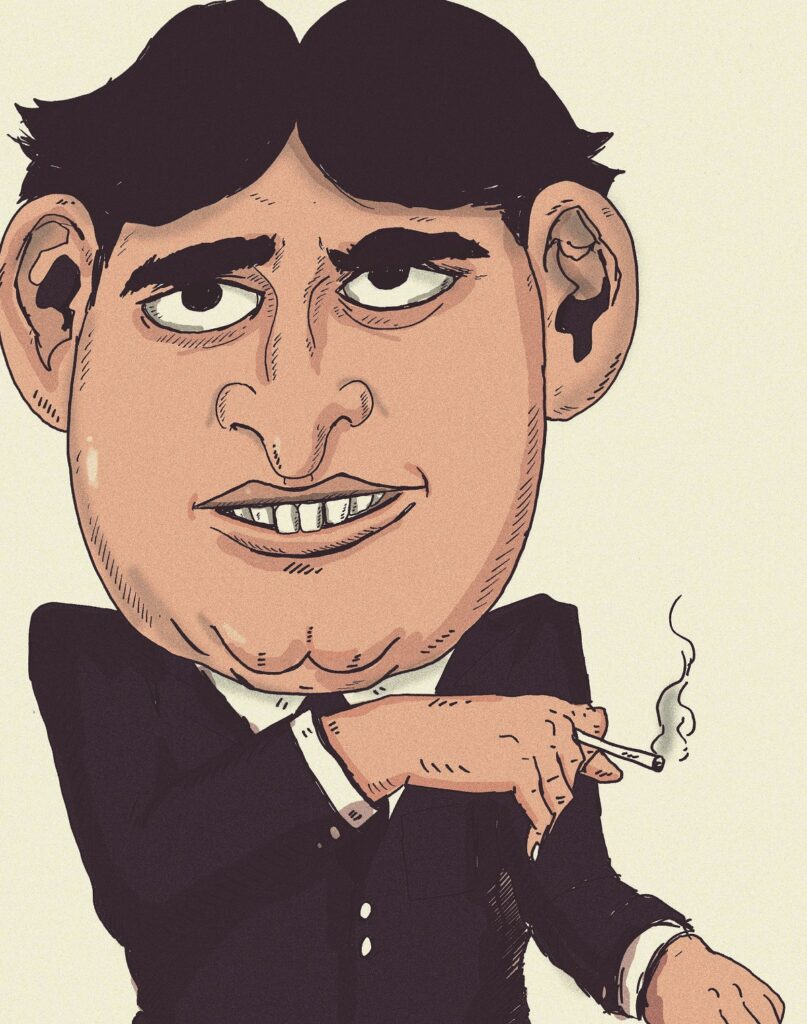Publicado em 1933, Serafim Ponte Grande é a tentativa de levar ao paroxismo o que Oswald de Andrade fizera em Memórias sentimentais de João Miramar, de 1924. A receita da prosa experimental está completa nas aventuras do funcionário público paulistano: narrativa fragmentada, mudança abrupta de narradores, mescla de gêneros literários, automatismo, neologismos, subversão da linguagem por meio do sarcasmo desbragado.
Ao radicalismo do experimento, contudo, corresponde a realidade da recepção literária: ninguém lê Serafim Ponte Grande, a não ser os mestres supostamente iluminados que, à semelhança de Haroldo de Campos, comemoram, com seu característico espírito revolucionário, a existência desse “grande não livro”, fórmula risível, que ganha ares realmente humorísticos quando nos deparamos com os elogios encomiásticos utilizados pelo concretista no estudo que abre o volume das Obras completas de Oswald. De fato, um “não livro” ou um “fragmento de grande livro”, como Antonio Candido definiu o romance, aceita qualquer classificação, pois o que é amorfo pode ser uma obra genial ou tremenda enganação.
Comparar Serafim Ponte Grande a um Bildungsroman — mais um alinhavo de Haroldo de Campos — só revela absoluta ausência de senso de proporção; e a tentativa de amenizar o descalabro, utilizando a expressão “molde residual”, serve para comprovar que, na retórica dos que endeusam Oswald de Andrade, qualquer elogio é aceitável, ainda que se tenha de dourar a pílula.
Na verdade, a porfia haroldiana humilha o leitor inteligente: se é preciso tanto esforço, tanta lucubração, para provar que Serafim Ponte Grande merece ser lido; se uma ficção necessita de tantas justificativas teóricas; se uma obra não pode ser decifrada sem um guia — então não estamos diante de um romance, mas da Hipótese de Riemann, do mistério da Atlântida ou, quem sabe, às portas da Área 51.
Eterno escárnio
A ideia de que Oswald de Andrade pertence a algum tipo de racionalidade superior, inalcançável para os não iniciados, é típica dos discursos ideológicos, sempre construídos segundo a lógica da monopolização da verdade. Talvez por isso não seja difícil encontrar oswaldianos que são verdadeiros fundamentalistas.
Mas todas essas questões começam a se dissolver quando lemos o próprio Oswald. Em Objeto e fim da presente obra, artiguete publicado em 1926 — Serafim Ponte Grande foi escrito entre 1925 e 1928 —, o escritor fala do seu processo criativo — “A obra de ficção em minha vida corresponde a horas livres, em que estabelecido o caos criador, minhas teorias se exercitam com pleno controle” —, revelando o relativo desprezo com que tratava seu ofício, o que explica, em parte, o texto corrido e, algumas vezes, desleixado. Mas um desleixo, claro, tratado como seriíssima opção estética por alguns especialistas; um desleixo como o deste conjunto de frasesinhas superficiais, escritas no tom de manifesto marinettista que Oswald jamais conseguiu abandonar:
O material da literatura é a língua. A afasia da escrita atual não é perturbação nenhuma. É fonografia. Já se disse tanto. A gente escreve o que ouve — nunca o que houve.
Essa superficialidade, jogo fácil de palavras, cobrou alto preço de Oswald. Veja-se, por exemplo, no parágrafo imediatamente posterior ao desta citação, o insight infelizmente não desenvolvido: “[…] Achar a beleza de uma coisa é apenas aprofundar o seu caráter”. Nestes tempos de hegemonia facebookiana, a frase serve apenas como um meme.
Na apresentação do livro, de fevereiro de 1933, ele não só confirma o “anarquismo” da sua formação como despreza as atividades intelectuais do passado próximo — e, portanto, o próprio Serafim Ponte Grande. Afirma ter “atolado diversas vezes na trincheira social reacionária” e conclui: “Continuei na burguesia, de que mais que aliado, fui índice cretino, sentimental e poético”. Salientando, contudo, a “fonte sadia” que brotava do seu anarquismo, o sarcasmo, Oswald também reavalia o movimento modernista, ensaia pinceladas de economia marxista e resume o romance:
O movimento modernista, culminado no sarampão antropofágico, parecia indicar um fenômeno avançado. São Paulo possuía um poderoso parque industrial. Quem sabe se a alta do café não ia colocar a literatura nova-rica da semicolônia ao lado dos custosos surrealismos imperialistas?
Eis porém que o parque industrial de São Paulo era um parque de transformação. Com matéria-prima importada. Às vezes originária do próprio solo. Macunaíma.
A valorização do café foi uma operação imperialista. A poesia Pau Brasil também. Isso tinha que ruir com as cornetas da crise. Como ruiu quase toda a literatura brasileira “de vanguarda”, provinciana e suspeita, quando não extremamente esgotada e reacionária. Ficou da minha este livro. Um documento. Um gráfico. O brasileiro atoa na maré alta da última etapa do capitalismo. Fanchono. Oportunista e revoltoso. Conservador e sexual. Casado na polícia. Passando de pequeno-burguês e funcionário climático a dançarino e turista. Como solução, o nudismo transatlântico. No apogeu histórico da fortuna burguesa. Da fortuna mal-adquirida.
A linguagem às vezes telegráfica embaralha o que ele pretende dizer. O texto de Oswald sofre, realmente, de um hermetismo panfletário que muitos estudiosos deslumbrados analisam como sibilismo. Mas, se limparmos o discurso do viés comunista, talvez possamos começar a entender os limites do modernismo — e ler Serafim Ponte Grande na chave desejada pelo próprio Oswald: “Epitáfio do que fui”. De qualquer forma, avulta o ressentimento do esquerdista — e principalmente do neo-esquerdista; ressentimento, como bem observou Wilson Martins, “do antigo moço rico que se viu arruinado pelas maquinações incompreensíveis do ‘capitalismo’, nome, naturalmente, que cobria tudo, desde as operações infelizes dos pais até as dissipações descontroladas do filho”.
O sarcasmo, entretanto, polui a argumentação. O Oswald que proclama seu desejo de “ser pelo menos, casaca de ferro da Revolução Proletária” não pode ser levado a sério, pois, já na frase seguinte, titubeia: “O caminho a seguir é duro, os compromissos opostos são enormes, as taras e as hesitações maiores ainda”. E, pouco antes do final pretensamente dramático — “O meu relógio anda sempre para a frente. A História também” —, ele não resiste: comparando as escolhas do passado à opção pelo comunismo, zomba de si mesmo: “Tarefa heroica para quem já foi Irmão do Santíssimo, dançou quadrilha em Minas e se fantasiou de turco a bordo”. Numa análise semiótica típica dos que adoram Oswald, poderíamos dizer que o sarcasmo se transforma em auto-sarcasmo na expressão “casaca de ferro”, que designa, como se sabe, o empregado de um circo de cavalinhos.
É essa mescla de clown e eterno vanguardista que inicia Serafim Ponte Grande com um trecho antológico:
PRIMEIRO CONTATO DE SERAFIM E A MALÍCIA
A — e — i — o — u
Ba — Be — Bi — Bo — Bu
Ca — Ce — Ci — Co — Cu
Antológico, claro, se nos referimos ao anedotário nacional.
São instantâneos desse tipo que compõem a saga picaresca de Serafim, não destituída, contudo, de melancolia. Lemos, ainda na parte inicial, RECITATIVO:
A loira deixa-se apalpar como uma janela. No escuro. Numa noite de adultério ele penetra na Pensão da Lili. Mas ela diz-lhe que não precisa de tirar as botinas.
Essa luxúria fria, essas mulheres despersonalizadas, desprovidas de afeto, sempre prontas a trair e abandonar Serafim, se repetirão ao longo do livro. A forma do texto cria um protagonista de psicologia superficial, inconsistente, mas avulta a causa das relações insatisfatórias: o próprio Serafim, leviano, insatisfeito, sempre agindo de forma precipitada — e dividido entre a pederastia e a heterossexualidade.
Nada do que ele projeta se concretiza — nem mesmo um plano de estudos banal. Tudo é vago, ambíguo: peripécias e forma de narrar. Não há angústia verdadeira, pois todos os imprevistos — e o livro é apenas um somatório de imprevistos — se resolvem de forma fugaz.
Os diálogos são trechos falsos de melodramas, nos quais o escritor tenta, mas não consegue, fazer a crítica da retórica nacional, pois a linguagem definha na única fórmula que Oswald domina, a do eterno sarcasmo:
— Sentir que o coração se comprometeu nesta vasta aventura de três dias! Perguntaste-me se te quero um pouco. Amo-te! Porque és a resposta no vasto diálogo telefônico da vida! Falaste-me de embelezar os dias que passam. Com outra, eu teria rido às bandeiras despregadas! Mas a tua simpleza… a tua naturalidade…
— Bárbaro!
— Não! Oh! Porque te prendo na atmosfera que tu mesma criaste. Porque te reduzo à menina permanente, curiosa, sentimental que existe em toda mulher!
Lá fora o mar. De par em par. Ela baixou a cabeça. Perdeu a sintaxe do coração e as calças.
A mesma artificialidade, a mesma afetação carregada de deboche ressurge neste trecho, em que Oswald não permite a seus personagens sequer um laivo de erotismo sincero:
Quando ele lhe deu um ósculo e pegou na coxa de setineta, a pucela Jacquy sussurrou sem boca:
— Oh! Vós me fazeis chorar!
Ele então narrou-lhe a proeza náutica de que pescara Joaninha das águas turbulentas do Sena. E subindo, sob a calça, ligeiramente tocou-lhe o mandorová. Mas ela disse:
— Oh! Vós me fazeis corar!
A berlinda passa no quilômetro 69.
— Morde minha estogomia!
Na verdade, o livro não passa de um conjunto mais ou menos cosido de esquetes:
Na tarde seguinte pilhando-a só e triste no salão de bilhar e esperando que ela tivesse terminado uma carambola, disse-lhe com uma barretada:
— Madama, sois vós itálica?
— Não, meu senhor.
— Turca?
— Não, meu senhor.
— Venezuelana… Chinesa?
Ela esfregou o giz no taco e sussurrou:
— Eu sou a solitária!
Ao incontrolável afã de vilipendiar, somam-se trechos incompreensíveis ou construções mal escritas, forçadas, cuja única finalidade é servir ao riso do próprio autor. Vejam alguns exemplos:
Viva porque suas pulsações latiam como cães de fila sob a moldura da cútis num ritmo adolescente, tudo, tudo prometendo mas nada dando…
[…] um argentino taleigo regressando na toda de uma corrida doidivanas inadvertidamente pregou um tranco nos dois que sem quererem se deram uma imbigada.
[…] Por que a brancura sibilante do navio, força geométrica armada e bussolada para a visita de todas as nações?
[…] E ele comparou o desprezo solar de sua nova amiga, deitada a essas horas no silêncio ortopédico da cabina, com o resto.
Oswald gargalha inclusive no suicídio de Serafim Ponte Grande: este, cansado de historietas caducas, empunha um para-raios e enfrenta as nuvens carregadas de eletricidade. Mas nosso especialista em escarnecer arremata, como se as nuvens falassem: “— Raios que te parta!”.
Desestímulo à criação
Na crônica Serafim Ponte Grande, demolidora, publicada em 5 de agosto de 1933, Manuel Bandeira acossa, com justiça, Oswald de Andrade. Bandeira aponta o “defeito de misturar frequentemente os sentimentos e os processos de escrita do autor com os de seus personagens” e conclama o modernista a “se despojar daquele individualismo que tanto se compraz — acima de tudo se compraz — na deformação diletante e feroz”.
Crítica certeira — mas inútil. Oswald de Andrade fez da arrogância e da autolatria os motores da sua literatura e do seu projeto de futilização da literatura.
Show pirotécnico, conjunto de gracejos e invencionices, Serafim Ponte Grande é um desestímulo à criação literária. Fruto do desencantamento de Oswald em relação à vida, resume-se a um engodo proteiforme, mas vendido aos crédulos como tipo avançado de arte. Essa pátina de ilusionismo com que alguns estudiosos insistem em enfeitar o livro não resiste, entretanto, à leitura minuciosa; e não esconde o verdadeiro caráter desse cansativo esboço: galimatias, nada mais.
>>>
NOTA
Desde a edição 122 do Rascunho (junho de 2010), o crítico Rodrigo Gurgel escreve a respeito dos principais prosadores da literatura brasileira. A partir deste mês, ele interrompe temporariamente a série de artigos para um ano sabático.