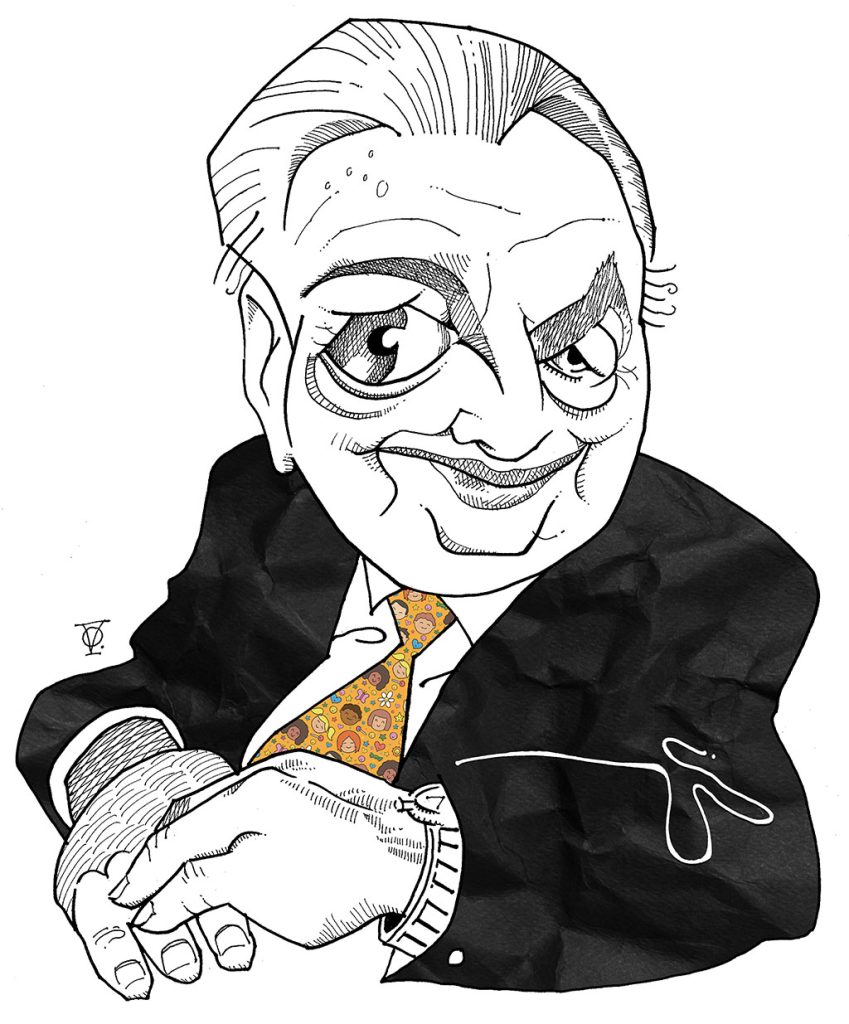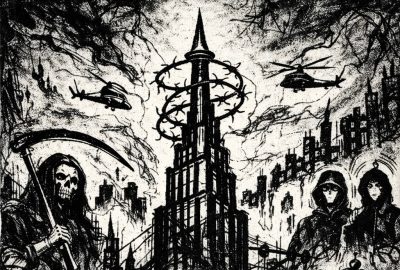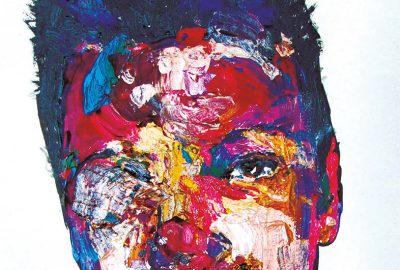Na tentativa de propor um diálogo entre o romance do italiano Giuseppe Pontiggia, Nascer duas vezes (2002), e o de Cristovão Tezza, O filho eterno (2007), ambos muito premiados, gostaria inicialmente de refletir sobre o conceito de autoficção e de como cada um desses autores a concebem em seus respectivos projetos ficcionais. Para isso, levaremos em conta os postulados de Serge Doubrovsky, para quem a autoficção é “uma variante pós-moderna da autobiografia que elimina a possibilidade de uma escrita autobiográfica ao estilo de Lejeune. Ela representa a desconfiança em uma verdade literal e na autenticidade de uma experiência narrada”. (Para maiores referências, temos o interessante estudo de Anna Faedrich: Autoficção, um percurso teórico.) O discurso subjetivo e circunscrito à esfera da memória é falível, e, por isso, Doubrovsky aposta na reconstrução arbitrária e literária de fragmentos dispersos de memória, isto é, na autoficção.
No que diz respeito especificamente a Pontiggia, Marco Bellardi, referindo-se ao estudo fundamental de Daniela Marcheschi, observa que, às tentações do romance bem elaborado, o autor contrapõe a confiança humanista no poder da palavra, que atravessa o tempo, iluminando a contemporaneidade, destacando-se pela reconquista de um diálogo construtivo com as tradições literárias que exalta a sua herança para reinseri-la como um corpo ativo no sistema de forças do presente.
Nos dois romances, que abordam a experiência de pais com seus respectivos filhos, afetados por um tipo de deficiência, há uma força desmistificadora cujo objetivo não é entreter com uma história, triste ou feliz que seja, mas sensibilizar, agir no presente. Tais obras não se reduzem a simples testemunhos romanescos, mas se apresentam como a busca de uma dialética que impulsione o leitor ao confronto ativo com o tema.
Observamos também que, por meio dos recursos narrativos que as definem como obras de autoficção, cada uma a seu modo investe em uma espécie de experimentação que não propõe tanto a ruptura das convenções, mas insinua no leitor a consciência da parcialidade do olhar e do conhecimento contra “o culto letal da completude”.
Problemática em torno da “autoficção”
Diz Patrick Saveau:
A sobre-exposição do termo “autoficção”, em vez de levar a um esclarecimento de um novo campo literário, apenas o obscureceu.
A assertiva de Saveau, especialista na obra de Serge Doubrovsky, expressa tanto o sucesso do termo “autoficção”, que ultrapassou os limites genéricos e geográficos, quanto o mal-entendido geral em relação ao seu significado. Quanto mais o neologismo é utilizado por estudiosos da literatura, leitores, escritores e pela imprensa, menor é o consenso sobre o que é a autoficção.
É frequente a apropriação do termo sem o conhecimento do percurso teórico conflituoso da autoficção. O termo “autoficção” foi cunhado pelo francês Serge Doubrovsky, publicado na quarta capa de seu romance Fils, em 1977. Mas foi Philippe Lejeune em seus estudos sobre o Pacto autobiográfico quem fez a pergunta: “O herói de um romance declarado pode ter o mesmo nome do autor?”.
Após muitos anos de intenso debate sobre o tema, especialmente a partir dos estudos provocados por Lejeune e Doubrovsky, a estudiosa argentina Beatriz Sarlo observa que os anos 1970 e 1980 abrem espaço para a “virada subjetiva”, ou seja, “uma renovação análoga na sociologia da cultura e nos estudos culturais, em que a identidade dos sujeitos voltou a ocupar o lugar que, nos anos 60, era ocupado pelas estruturas”.
Sarlo propõe examinar as razões da revalorização da primeira pessoa como ponto de vista e da confiança no relato da experiência como ícone da verdade, em que o sujeito narra a própria vida para conservar a memória ou compreender o passado. Ela problematiza a questão, reiterando a profunda contradição entre a mobilidade do vivido e a solidez do discurso. Se os anos 1960 foram marcados pela “morte do sujeito”, os anos 1970 indicam uma revalorização desse sujeito. Abriu-se assim um novo capítulo, que poderia ser chamado de “o sujeito ressuscitado”.
Pontiggia: precisão da linguagem
Em um interessante artigo sobre a experimentação da linguagem e da escrita como intenção ética em Pontiggia, Amedeo Anelli observa que é sempre importante destacar em toda a obra do grande autor a sua atenção — reiterada desde a tese de graduação sobre Italo Svevo — voltada para a escrita, as técnicas de escrita e cada aspecto, inclusive teórico-prático-imaginativo, do objeto livro.
Destacam-se, desde então, esse cuidado e atenção à linguagem até os mínimos detalhes, das palavras singulares à adjetivação; e ainda, uma escrita ensaística clara e rigorosa, aliada a uma notável independência de julgamento. Além disso, pode-se também deduzir de suas Conversas sobre a escrita que o que o interessa não é tanto o aspecto normativo, mas um princípio de “economia do estilo”, em que deve ser respeitada uma “característica principal do estilo literário, a precisão”. E as investigações do autor não pararam aí. De fato, Pontiggia viria, com o tempo, a amadurecer sua própria ideia de autobiografismo na literatura, bem exemplificada no romance Nati due volte (Mondadori, 2000; traduzido no Brasil como Nascer duas vezes, 2002). Uma ideia que já havia se manifestado em toda sua problematização formal desde a época dos estudos para a tese sobre Svevo.
À maneira de Paul Ricoeur
Com a precisão de um filólogo, à dimensão fenomenológica, Pontiggia acrescenta uma travessia do que há de melhor na filologia e na linguística, unindo — conforme os parâmetros de Paul Ricoeur — dimensão fenomenológica e dimensão hermenêutica: neste caso, literária. Pontiggia, de fato, renuncia a um “absolutismo fundacional do eu” com o objetivo de fazer emergir um “si mesmo como outro”, em um horizonte intersubjetivo e amplamente cultural que prevê a alteridade dentro do próprio sujeito: o “eu” é outro, mas também é aquele “eu que coincide com os outros”, caro a Giorgio Caproni, além de Pontiggia. O “eu” que implica traz em si também aquela multiplicidade e dialogicidade afirmada por Mikhail Bakhtin e pela teoria de ascendência fenomenológica do início do século 20.
Delineia-se aqui, e dessa maneira, uma dimensão de ética da escrita e de escrita como entendimento ético, capaz de levar a redescobrir também o sentido primário do termo “inventar”. Nas palavras do próprio Pontiggia:
Eu penso que escrever seja, sobretudo, inventar no sentido etimológico de “invenire”. “Invenire” em latim significava encontrar. Inventar é um frequentativo de “invenire” e significa essencialmente descobrir aquilo que não se sabia que conhecia, encontrar aquilo que não se sabia que existia. Penso que uma das metas de um narrador seja dar vida a um texto que, ao final, saiba mais do que ele, um texto que represente para ele uma fonte de surpresa, de curiosidade, de conhecimento, que não o desaponte na releitura, mas que, ao contrário, revele significados ocultos que ele mesmo não podia prever. Um texto é bem-sucedido se sabe mais do que o autor, e isso é confirmado pela nossa experiência, bem como pela experiência histórica.
Nascer duas vezes
E foi também assim, com essa consciência sobre o papel do narrador, que em 2000 publicou o romance Nascer duas vezes, que inspirou o diretor Gianni Amelio para realizar o filme Le chiavi di casa (2004), com Charlotte Rampling, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino.
No romance, Pontiggia finalmente pôde narrar uma das experiências mais radicais de sua vida, ou seja, a deficiência de seu filho Andrea. Embora se inspire em eventos autobiográficos, o romance é também uma construção ficcional com episódios e personagens de mera invenção narrativa, que retratam a deficiência e o que ela implica para aqueles que vivem ao seu redor, tanto de forma positiva quanto negativa. Como observa Daniela Marcheschi, trata-se de uma obra não consoladora, vibrante de humanidade, de dor, mas também de ironia, de tragédia, mas também de lirismo, de inversão de lugares-comuns, como no breve capítulo-ensaio O que é normal?:
Nada. Quem é normal? Ninguém.
Quando a diversidade nos fere, a primeira reação não é aceitá-la, mas negá-la. E o fazemos começando por negar a normalidade. A normalidade não existe. O léxico que lhe diz respeito torna-se de repente reticente, pestanejante, vagamente sarcástico. Usam-se, na linguagem oral, os sinais da escrita: “os normais, entre aspas”. Ou então: “Os chamados normais”.
A normalidade — submetida a análises agressivas, tanto quanto a diversidade — revela fendas, gretas, deficiências, retardos funcionais, intermitências, anomalias. Tudo torna-se exceção e a necessidade da norma, afastada pela porta, reaparece ainda mais temível à janela. Acabamos assim fortalecendo-a, como a um vírus que os tratamentos para suprimi-lo tornam invulnerável. Não é negando as diferenças que o combatemos, mas modificando a imagem da norma.
Quando o narrador recorre a certas reflexões de caráter ensaístico (como no trecho acima), parece distanciar-se do problema que vive em primeira pessoa (sendo pai de uma pessoa com deficiência) para refletir e analisar, de forma objetiva, as maneiras como a sociedade lida com a deficiência e também as formas como a nomeia (desse modo, a escrita de si se expande para uma dimensão mais ampla e complexa). Nesse sentido, em Nascer duas vezes, embora de forma implícita, parece haver sempre um fio condutor que atravessa todo o romance e que aparece na dedicatória que abre o livro: “Aos deficientes que lutam não para se tornarem normais, mas para se tornarem eles mesmos”.
Através desse recurso narrativo, além de reafirmar que a sociedade que pretende normatizar tudo e todos é ela mesma doente, cria-se, graças ao exercício reflexivo da linguagem, o distanciamento necessário para evitar o risco de cair em apelos melodramáticos. Pelo contrário, a busca por uma reflexão de tom ensaístico e a precisão da narrativa, que dão o tom à trama, corroboram a construção de uma narrativa não consoladora, que não faz concessões. Considere-se, ainda, este flagrante, que abre o livro, cujo capítulo é intitulado Escadas rolantes:
[…] Estou exausto e infeliz.
Pergunto-lhe:
“Quer uma coca-cola?”
“Quero.”
Seguro o copo, enquanto ele bebe.
Quando tornamos a nos levantar, digo:
“Ande direito. Tome cuidado.”
Ele segue adiante, oscilando feito um marinheiro bêbado. Não: como um espástico.
Vira-se para me dizer, com sua voz que sai com dificuldade: “Se tem vergonha de mim, pode andar afastado. Não se preocupe comigo”.
A descrição é marcada pela objetividade de uma câmera-olho, que observa e registra cada mínimo detalhe da cena. Não se sabe nada, além do fato de que pai e filho estão subindo uma escada rolante e que, em certo momento, Paolo, o menino, cai e o narrador faz o possível para ajudá-lo a se levantar. Somente no final, nas últimas linhas, configura-se a precisão do golpe.
Esse trecho ilustra muito bem o distanciamento e a objetividade do ponto de vista narrativo, mas acentua também a tensão do narrador, pois, em vez de fornecer explicações detalhadas sobre onde ocorre a cena e tudo o que ela envolve, recorre-se a essa crua sinceridade do narrar. Nas últimas linhas, intensifica-se, de maneira concisa, o desconforto e a vergonha do pai.
Como se operasse por meio de shortcuts, o narrador cria transições rápidas entre diferentes ângulos ou momentos, mantendo o ritmo da narração mais ágil, preservando apenas o essencial. A propósito, o próprio narrador conta, nas páginas iniciais do livro:
Lembro de detalhes isolados, como fotogramas de um filme que não consigo rever em sequência. A freira que sai do quarto no final do corredor e passa por mim rapidamente, fingindo não me ver, e eu atrás dela, perguntando: “O que está acontecendo?”. E a resposta: “Pergunte ao seu ginecologista”.
Neste trecho, percebe-se claramente a dificuldade e a angústia de captar o vivido, pois a memória é uma matéria essencialmente instável e fluida, da qual a ficção se alimenta.
Os procedimentos de Pontiggia, portanto, conciliam precisão e economia de meios com momentos de brilhante ensaio e ironia, recorrendo ocasionalmente ao discurso indireto livre do fluxo de consciência, como em:
Vejo-me avançando na capela do hospital… o que está fazendo ali?, não é seu papel… Mas sim, é o seu, o tempo da comédia acabou, agora começa a tragédia…
O distanciamento dessa câmera-olho narrativa, que se aproxima do vivido com detalhes e minúcias de quem apenas observa (embora faça parte do processo, como narrador em primeira pessoa), gera a tensão necessária para configurar um dos elementos-chave do projeto autoficcional de Pontiggia, na medida em que o autor consegue atingir plenamente a contradição entre a mobilidade do vivido e a solidez do discurso.
Destaca-se que a atitude narrativa adotada por Pontiggia aqui escolhe a primeira pessoa para conferir maior “veracidade” ao relato. Trata-se de um narrador-observador inquieto, que não deixa passar nada do que vê ao seu redor, capaz de perceber e descrever, minuciosamente, as nuances mais abjetas do comportamento humano, profundo e reflexivo em seus pensamentos de caráter ensaístico. Embora estejamos diante de um projeto ficcional, é importante notar que o jogo da narrativa toca diretamente a experiência vivida pelo próprio autor (pai de uma criança com deficiência), cuja matéria-prima é instável e volátil, pois inteiramente baseada na memória.
No capítulo A representação, em que se narra a experiência de Paolo atuando em uma peça teatral com um grupo escolar, o narrador, em tom de elevado ensaísmo, reflete sobre a questão do Bem e do Mal e chega à seguinte máxima:
Para um narrador o mal é a salvação, o bem, a perdição. O elogio do bem perturbou até mesmo o sono dos clássicos e foi o pesadelo de sua vigília. […] Falar bem do bem é imperdoável.
De certo modo, nesta estimulante análise sobre o ato de narrar, pode-se extrair o núcleo que orienta a consciência narrativa do autor, pois o tom que ele escolhe é o de quem não faz concessões, alcançando, diversas vezes, o ápice da crueza na sinceridade do que conta. Através de várias “tomadas de cena”, pouco a pouco, tomamos conhecimento das imensas dificuldades enfrentadas por quem deve conviver e experimentar na própria pele a deficiência. Mas ao longo do percurso também se estreita a linha tênue que separa e distingue o que entendemos por “normal” e “anormal”. Não se trata, como reitera o autor, de negar a diferença:
Não é negando as diferenças que se as combate, mas modificando a imagem da norma.
Se no início do romance nos deparamos com a vergonha extrema do pai em relação ao filho, conforme a narrativa avança, o que se nota é a verdadeira transformação do pai e atenuação da distância entre eles:
Penso naquela que teria sido minha vida sem ele. Não, não consigo. Podemos imaginar muitas vidas, mas não podemos abrir mão da nossa.

Tezza: sinceridade desconcertante
O filho eterno (um dos livros mais premiados da literatura brasileira contemporânea), de Cristovão Tezza, narra a história de um homem que, inicialmente, aos 28 anos, descrito como alguém “provisório”, que ainda não começou a viver, virá a ser surpreendido com a notícia de que seu primeiro filho é portador da síndrome de Down. Daquele momento em diante, o protagonista entra em crise e se revolta com seu trágico destino. O sentimento que predomina, então, é o da vergonha:
A vergonha. A vergonha — ele dirá depois — é uma das mais poderosas máquinas de enquadramento social que existem. O faro para reconhecer a medida da normalidade, em cada gesto cotidiano. Não saia da linha. Não enlouqueça. E, principalmente, não passe ridículo.
[…] A família do velho Kennedy escondeu do mundo, a vida inteira, um filho retardado. Havia muita coisa em jogo, é verdade — mas o grande motor era a vergonha. A vergonha regula do catador de lixo ao presidente da República. É uma chave poderosa da vida cotidiana: esse políticos deviam é ter vergonha na cara!, nós dizemos todos os dias, o que é um mantra que nos redime e nos tranquiliza.
Nos meses seguintes, entretanto, esforça-se para tornar o filho o mais parecido possível com uma criança normal, por meio de estímulos motores e cognitivos.
Aos poucos, a narrativa do cotidiano familiar, com seus desafios e recompensas, cede espaço a digressões que remetem ao passado do protagonista, rompendo toda e qualquer linearidade na estrutura romanesca, que por meio dessa oscilação de tempos, atinge plenamente a representação da matéria memorialística, em essência, instável, fugidia, inapreensível.
As duas epígrafes que enunciam o livro sugerem as premissas que norteiam o romance.
A primeira é de Thomas Bernhard:
Queremos dizer a verdade e, no entanto, não dizemos a verdade. Descrevemos algo buscando fidelidade à verdade e, no entanto, o descrito é outra coisa que não a verdade.
A segunda é de Soren Kierkegaard:
Um filho é como um espelho no qual o pai se vê, e, para o filho, o pai é por sua vez um espelho no qual ele se vê no futuro.
De fato, o projeto autoficcional de Tezza se funda na primeira epígrafe, uma vez que, embora se trate de algo realmente vivenciado pelo autor (pai de um menino com síndrome de Down), tal citação inicial de Bernhard, confirma o que já se mencionou, logo às primeiras páginas desta pesquisa sobre o conceito desenvolvido por Doubrovsky, para o qual não é possível confiar na verdade literal e na autenticidade de uma experiência narrada, pois o discurso subjetivo e circunscrito à esfera da memória é falível.
Tezza se utiliza de procedimentos narrativos muito bem articulados, a fim de representar em seu romance essa instabilidade entre o vivido e o narrado. Primeiramente criando uma narrativa alinear em que os capítulos — que não têm título — não seguem uma ordem temporal precisa, fazendo com que se toque de perto, essa matéria instável, arbitrária e confusa do lembrar. Verifica-se também (de modo análogo a um dos recursos adotados por Pontiggia) uma ampla investida em digressões de cunho ensaístico, que servem para pontuar, na verdade, o segundo grande eixo narrativo sobre o qual se constrói o romance: o da relação especular e projecional do pai no filho, como interessante recurso que visa diminuir a distância abissal que os separa no início da narrativa a fim de, aos poucos, aproximá-los e equipará-los.
Dessa forma, é como se estivéssemos diante de um duplo fio narrativo: o mais evidente é o que busca narrar, em terceira pessoa, os fatos ocorridos de modo caótico, na mistura de lembranças e experiências do passado do protagonista, quando ainda jovem, e do que sucede no presente da narrativa, em que ele lida com as angústias e desafios de se saber pai de um menino com Down. Mas há um outro, subjacente ao primeiro, que faz com que esse narrador (aparentemente distanciado) em terceira pessoa se aproxime de modo tão simbiótico ao protagonista, que se tem a impressão de que temos uma primeira pessoa a narrar. Nesse segundo plano, todas as digressões ensaísticas, lembranças e situações vivenciadas pelo pai visam estrategicamente chegar à seguinte equação: tanto em experiências da juventude, em que ele sempre esteve à margem do sistema — ora como desempregado, como ser “provisório”, pertencendo a uma errática trupe teatral, numa busca incerta por um projeto de escrita, ora como imigrante clandestino na Alemanha, num determinado período de sua vida, num trabalho subalterno e marginalizado, como empregado da limpeza em um hospital — na verdade, esse pai vai se percebendo tão contra normativo e rejeitado como o próprio filho, portador da síndrome de Down. E assim, o romance nos conduz a essa instigante surpresa: a uma inesperada associação entre o pai e o filho. No início da narrativa, isso é totalmente evitado. Mas, aos poucos, o enredo se desenrola com a finalidade explícita de tocar no espelhamento das duas figuras, uma vez que os dois passam a se equiparar. O movimento que se perfaz é o do total distanciamento até atingir o da total aproximação, quando Felipe se perde:
Aqui e agora: voltando para casa sem o filho, o mesmo filho que ele desejou morto assim que nasceu, e que agora, pela ausência, parece matá-lo.
Às primeiras páginas do romance, o filho eterno é a imagem do que não se parece com o pai (é exatamente o oposto do que ele espera). O protagonista não vê “o espelho” por meio do qual o pai quer se ver legitimado na figura de seu descendente. Nesse sentido, a experiência do pai se apresenta, inicialmente, como uma falha.
Mas conforme a narrativa evolui, aos poucos, os dois vão se equiparando — em mais de um momento — numa espécie de associação inusitada. Ao demonstrar em várias situações que o pai foi tão outsider, marginal, rejeitado, tão alijado do sistema como o próprio filho, sugere-se que o filho eterno pode ser, também, o pai. Dessa forma, a projeção especular se completa.
Interessante observar que o jogo narrativo, especialmente nesse trecho — da pág. 95 à pág. 112 —, intercala descrições das mais diversas formas de condicionamento pelas quais o filho tem que passar com às que o pai tem que se ajustar, na mecanização do trabalho a que se submete como imigrado na Alemanha. Essa estratégia visa, justamente, demonstrar que, no fundo, o pai vive experiências de total rejeição e marginalização, análogas às sofridas pelo filho:
Várias vezes por dia, em sessões de cinco minutos, a criança é colocada sobre a mesa da sala, de bruços. De um lado, ele; de outro, a mulher; segurando a cabeça, a empregada, uma moça tímida, silenciosa, que agora vem todos os dias. Três figuras graves numa mesa de operação. De bruços, a face diante da mão direita, que avança ao mesmo tempo em que a perna esquerda também avança; braço esquerdo e perna direita fazem o movimento simétrico de lagarto, sob o comando das mãos adultas, que são os fios da marionete, quando a cabeça é voltada para o outro lado. Há uma cadência nisso — um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato — a mesma dos passos humanos; uma rede tentacular do sistema neurológico há de estabelecer dominância cerebral e tudo que dela decorre, ele sonha. No programa, é fundamental reforçar a dominância cerebral, isto é, marcar um dos lados do cérebro como o dominante. [p.96]
[…] Em 1975 estava na Alemanha como imigrante ilegal. […] Sete marcos a hora, a proposta. Nem precisou dizer sim — sorriu. Euforia. Dominância cerebral, ele pensava, como um mantra, cadenciando os gestos do filho sobre a mesa. Um escravo do antigo Egito, levado às gargalhadas para remar o barco dezoito horas por dia na escuridão do porão — e ele riu com a imagem — só pela satisfação de continuar vivo, aguentar a arquitetura daqueles ossos em pé, nem que seja por um único dia a mais. Tão estúpido que veste o uniforme sobre a calça e a camisa, e sai dali um repolho ridículo, até que no corredor uma mulher sorridente, falando uma língua impossível, explica em gestos bruscos, mas maternais, que ele deve antes tirar a roupa para só então colocar o uniforme. Finalmente adequado, entra na gigantesca lavanderia do hospital. Tempos modernos, ele lembra, estetizando a vida — Chaplin na linha de produção.
[…] Mas o treinamento não terminou. No canto da sala o marceneiro instalou a peça encomendada: uma rampa estreita de madeira que tem a forma de um escorregador para bebês, com proteção lateral. Um linóleo cobre a superfície da madeira. É preciso que essa superfície não seja áspera demais, que não permita o movimento, e nem lisa demais, que leve o bebê a escorregar. A sala se transforma aos poucos num espaço de trabalho; a casa, numa extensão de uma clínica — logo com ele, que passou a vida odiando médicos, hospitais, tratamentos, enfermeiras, remédios, doenças, corredores, morte — , uma coisa puxa a outra. Coloca o bebê no topo da rampa, com a cabeça para baixo. Vamos lá, pitusco! Os braços da criança, que está de bruços, impedem naturalmente que ela escorregue — mas o mínimo movimento que ela fizer permite-lhe descer alguns centímetros. Cria-se uma situação concreta para ajudar o bebê a reencontrar sua estrada neurológica; segundo a cartilha, a descida da rampa é um auxílio para acelerar o desenvolvimento do rastejar em padrão cruzado, o das crianças normais. [p. 99, 100]
[…] O trabalho na lavanderia era mecânico — uma enorme garra de ferro descia do alto com toneladas de roupas lavadas, largando-as num balcão, e a função dele era separá-las rapidamente. [p.100)
[…] Lembra-se do filho. Na sala, a criança já chegou ao chão, e olha intrigada para o relógio que tiquetaqueia a um palmo de seus olhos inseguros. Ele pega carinhosamente o ratinho e coloca-o de novo no alto da rampa — e dá corda no relógio. Recomeça a luta para descer ao chão. Os olhos da criança procuram o som estridente do despertador que dispara em algum lugar do espaço — ele levanta a cabeça, e o braço esquerdo se move, o que o obriga a mover o direito. Avançou dois dedos. [p. 102]
Esse longo capitulo do livro é construído por meio de parágrafos que se alternam com a descrição detalhada de todo o empenho do pai para que o filho consiga obter mínimos progressos — sempre reforçando a teoria dos condicionamentos e com o trabalho dele, imigrante clandestino, em diversos setores num hospital da Alemanha. Tal alternância, entremeando flashes da experiência passada do protagonista com o que se desenrola no presente da narrativa, traz como elo exatamente a premissa das atitudes mecânicas em que, tanto o filho — com as extenuantes séries repetitivas de exercícios que lhe são impostas — como o pai, com a série também extenuante de trabalho, naquelas condições precárias, se equiparam como verdadeiras “linhas de produção”, no esforço descomunal de atividades mecânicas repetitivas e enfadonhas.
Se, às páginas iniciais, a distância entre pai e filho é abissal, conforme a narrativa avança, nota-se esse movimento gradual de aproximação, em que a questão central é a de que, no fundo, o protagonista vai revelando e tomando consciência de que, em infinitas situações de sua própria história pessoal, teria vivenciado experiências que o submeteram a radicais condicionamentos para sobreviver, análogas às dos exercícios exaustivos repetidos, diuturnamente pelo filho. E assim, constrói-se, por meio desses recursos procedimentais e estruturais de que o autor lança mão, o espelho e a projeção, que visam amenizar o brutal distanciamento inicial.
Se o romance de Pontiggia se propõe a discutir explicitamente os abjetos parâmetros pelos quais a sociedade exclui e discrimina os portadores de toda a sorte de deficiência, reiterando o quanto se faz necessário que estes sejam aceitos como são e não conforme os moldes ditados pela normatização, o de Tezza toca na mesma questão, optando por outro viés. Neste, especificamente, os recursos narrativos se concentram em reforçar as diferenças entre pai e filho para, aos poucos, amenizá-las num processo de inusitada equiparação.
Apesar de todas as diferenças e peculiaridades de cada obra, cada qual a seu modo enfrenta a problemática da inserção dos portadores de deficiência numa sociedade extremamente preconceituosa. Em ambas, as atitudes narrativas (uma em primeira, outra em terceira pessoa) visam escancarar o abismo que separa os que se consideram normais dos que são taxados como contra normativos, para ao final, minimizá-lo. Trata-se da história de dois pais que, em sua sinceridade rascante, contam “da manhã mais brutal” de suas vidas, quando do nascimento de seus respectivos filhos, dos quais sentem profunda vergonha.
Mas conforme avança a narrativa, o que se verifica, em ambos os romances, é a profunda transformação pela qual passam esses pais, demasiado humanos, a partir da experiência de convívio com seus respectivos filhos. Pais que vão sendo, literalmente, construídos, transformados e que, diversamente de outras tantas narrativas que tendem a idealizar os pais com filhos em situações análogas, mostram-se falíveis, instáveis, cheios de culpa, desconcertantemente sinceros.
Mais que tudo, a uni-los, o sentimento do fracasso, da vergonha e da rejeição e, ainda que de modo complexo e contraditório, a necessidade de questionar os parâmetros de normatização de uma sociedade que não aceita e não inclui o diferente.
Dois autores que, em diálogo, expõem, cada qual a seu modo, a ferida aberta dos que são abruptamente golpeados pelo destino. Abordar o que escapa ao que a convenção dita como normal é, mais que tudo, em tempos como os nossos, um ato de coragem. A autoficção, nos dois autores analisados, vai além da importância de seus respectivos projetos literários. Ela atinge uma dimensão ética, em que a literatura dá voz àqueles que, por sua diversidade, são excluídos e marginalizados.