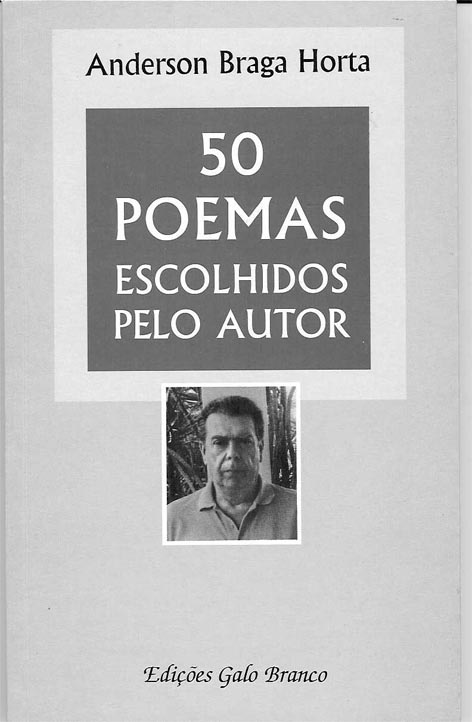O grande pensador Edgar Morin refere-se às rupturas e às revoltas da poesia em sua trajetória humana. O célebre filósofo do pensamento complexo sustenta a tese que “o futuro da poesia reside em sua própria fonte”. Vale dizer que é recursiva, que se alimenta na tradição e na renovação, “nas profundezas dessa embalagem estranha que é o cérebro e o espírito humano” e que está na interseção das duas linguagens ao alcance do homem: de um lado a própria língua — que é empírica, prática, técnica — e, em contraposição, outra que é simbólica, mítica, mágica. “Essas duas linguagens podem ser justapostas ou misturadas, podem ser separadas, opostas, e a cada uma delas correspondem dois estados. O primeiro, também chamado de prosaico, no qual nos esforçamos por perceber, raciocinar, é o estado que cobre uma grande parte de nossa vida cotidiana. O segundo estado, que se pode justamente chamar de ‘estado segundo’, é o estado poético.”
Paralelamente, para justificar os dois estados, invoca Fernando Pessoa, que dizia haver, em cada um de nós, dois seres; não se trata de um ser verdadeiro e o outro falso, pois ambos coexistem em nós. Para Morin, citando Hölderlin, “o homem habita a terra poeticamente”, e explica: “Acredito ser necessário dizer que o homem a habita, simultaneamente, poética e prosaicamente. Se não houvesse prosa, não haveria poesia, do mesmo modo que a poesia só poderia evidenciar-se em relação ao prosaísmo. Em nossas vidas, convivemos com essa dupla existência, essa dupla polaridade”.
Entretanto, como se dá a conversão de prosa em poesia? Morin não é explícito quanto a isso. Podemos buscar uma explicação em Fenellosa, para quem “a poesia difere da prosa pelas cores concretas de sua dicção. Não lhes basta fornecer um significado para os filósofos”. No caso presente, para Edgar Morin, “deve fazer apelo às emoções com o encanto da impressão direta, lampejando em regiões por onde o intelecto pode apenas tatear. A poesia deve reproduzir o que é dito, não o que é simplesmente significado. A significação abstrata fornece uma vividez restrita, enquanto a plenitude da imaginação a fornece na íntegra”. Mas é sempre oportuno lembrar, como o faz o próprio Morin, citando Rimbaud, que “esse estado não é um estado de visão, mas um estado de vidência”. Resumindo, há que partir do prosaico para o poético “porque o fim da poesia é o de nos colocar em estado poético”:
Eis o objeto-sujeito da Procura,
de que poema é cristal = da carne-alma,
resíduo e testemunho da aventura =
vôo cristalizado inda no umbral.
(Do Soneto mais-que-estrambótico, de Anderson Braga Horta)
Nos dias em que vivemos — os da suposta pós-modernidade — estaríamos diante da necessidade da hiperpoesia para responder à expansão de um modo de pensamento compartimentado, atomizado, globalizado, “perdidos num planeta suburbano, de uma galáxia perdida, num mundo desprovido de centro” (Morin), e continua a argumentação: “talvez a idéia pós-moderna consista em afirmar que o novo não é necessariamente o melhor”; “fabricar o novo pelo novo é estéril” e, ainda, que “a verdadeira novidade nasce sempre de uma volta às origens”. Ou seja, “não existe vanguarda, no sentido de que a vanguarda traz algo melhor do que aquilo que havia antes”. Para quem não está familiarizado com as argumentações do célebre pensador francês, pode parecer um paradoxo, mas o pensamento complexo de que nos fala é holístico, multidirecional, “em que as separações de espaço e tempo não existem mais” tal como na proposta hiperpoesia. Em tese, portanto, tudo que se mostra novo não o será em seguida, daí a impossibilidade da vanguarda. Paralelamente podemos referir-nos à obsessão atual pela inovação tecnológica, cujos “avanços” e “modernizações”, logo superadas no consumo, tornam-se obsoletas e antiquadas. Na poesia, tudo o que se mostra como “novo”, datado, corre o risco de ser superado e visto como antigo. Daí a obsessão da poesia pós-moderna em ser eclética, híbrida, multifacética, poliforme.
A poesia de Anderson Braga Horta (Prêmio Jabuti em 2001) fica no ponto de transição humanista-redentorista, que acredita na superação do homem, na salvação e em certo determinismo que nos leva sempre ao progresso (garantido pela evolução histórica) e, em sentido contrário, conforme a assertiva moriniana, levanta a questão da impossibilidade de qualquer progresso, numa aventura incerta, e também à certeza de que toda conquista é efêmera e requer reconstruções infinitas, avanços e recuos, riscos constantes. Como define Braga Horta, seriam:
Faces inumeráveis do Absoluto
autógeno, em progresso e entanto imóvel,
em quedas e subidas alternadas
no fabrico chocamo-nos do fruto
(perfeito desde os amanhãs e outroras)
da semente do Tempo germinada.
Até que a alma feliz, esplenda o vôo
do cansaço das Formas para o Nada.
(Soneto mais-que-estrambótico, por isso mesmo, um soneto com 16 versos).
Braga Horta tem uma formação heterodoxa, nutre-se dos clássicos, dos românticos, dos parnasianos (mas que satiriza no poema Escorpião como “ridículo animálculo romântico/ e parnasiano, síntese grotesca”). Recorre aos modernistas, concretistas e até aos trovadores, repentistas e compositores seresteiros, invocando “este silêncio náufrago,/ esta solidão esmagada de estrelas”.
Anderson vem de uma família de poetas, de um círculo de poetas e viveu cercado de livros e de poesia — lendo-os, escrevendo-os, estudando-os, traduzindo-os. Todo autor é uma espécie de síntese de seus antecessores, às vezes superando-os, transformando-se, e ele reconhece esse processo no poema Aprendizado:
De meus plágios mais ou menos
inconscientes,
com tijolos alheios
me edifico.
Suas fontes são tantas, e confessas: “Drummond sabia desta vida/ bem mais do que eu… E de poesia” (…) / “A homofonia desses versos/ lembra-me o velho e bom Bilac” (em Solilóquio noturno).
E continua na Elegia de Varna:
Sinto que algo ficou irrealizado em mim (…)
Sinto que algo deixou de realizar-se em mim,
e esta falta grita e queima e consome.
Sigo nau incompleta, vento coxo, canto
falhado (…)
A perplexidade de Morin diante do nosso mundo atual é a mesma do poeta, quando nos invoca em A engrenagem: “Manejam remotos senhores/ os controles,/ e inconscientes operamos,/ marionetes artífices do fim”, e continua nas Torres (do 11 de setembro, de Babel):
Esta é a hora das últimas, amaríssimas fezes (…)
Nos une a discórdia, o ódio nos cimenta (…)
Questiona o destino do homem nos poemas Como nos chamará o homem e A morte do homem e registra sua perplexidade:
De outra — inconcreta — substância,
um muro
divide o homem.
Dentro de mim.
Faz referência tanto ao muros que dividem cidades como aos que, dentro do homem, criam o conflito dos “dois seres” já aludido, a partir do pensamento de Fernando Pessoa. Edgar Morin cita Castoriadis, para quem o homem é um animal louco cuja loucura teria inventado a própria razão. Morin esgrima uma argumentação ainda mais original para explicar a dicotomia da mente humana, não aceitando a definição clássica do homo sapiens. Para ele, no homem, existe sempre a contradição entre o homo sapiens e o homo demens, não havendo uma fronteira nítida entre ambos, causa de nossas virtudes e perversidades. O próprio Morin explica: “Rimbaud disse: ‘concluo por achar sagrada a desordem de meu espírito’, ele demonstrou compreender que, na desordem, há algo sem o qual a vida seria apenas insipidez mecânica. Assim, na copulação entre sapiens e demens tem-se criatividade, invenção, imaginação… mas também criminalidade e maldade”.
Braga Horta também nos fala dessa angústia de ser e não ser, dessa dualidade do homem, dos avanços e recuos, da incapacidade de expressar essa complexidade moriniana que nos assalta:
Toda linguagem dissipou-se. Das
palavras nos fitam com malícia
novos e ásperos inquilinos. Cada
vocábulo é também um conflito.
(De Torres)
E insiste na indagação, no belo soneto Trevalume:
O Homem donde vem? Caiu donde não era.
Para onde vai? Não sabe. E o que deseja? A volta.
Que trouxe? Um sol que ardeu futuro antes da queda
e que é feito de cinza (e fora lume outrora?).
Em Anteluz no caos, dá um arremate ao raciocínio, cuja face prosaica logo verte-se poética, com esperança:
Mas alto! que ou meus ouvidos
me enganam, ou vem tenteando,
cos trapos de luz que restam,
ũa nova, ũa nova manhã?
mas esclarece em seguida, em O edifício, que esta é uma tarefa vã, quase impossível:
De quando em quando uns animais mijam na argamassa,
plantam as fezes secas na pedra.
Outros escarvam a terra,
minando as fundações.
Ainda outros amam destruir, penosamente,
o a duras penas erguido.
Consomem nisso uma energia espantosa.
De modo que o trabalho rende pouco,
e, apesar de nossos tataravós terem já depositado o seu tijolo
e o seu sangue,
ainda nem concluímos os alicerces.
Nas notas que apresentam o autor, fica-se sabendo que ele nos fala de sua crença de que “o homem ainda não completou sua humanidade”, seu edifício, sua obra (ainda que utópica) redentora.
Mas os 50 poemas escolhidos pelo autor não se esgotam nos questionamentos da condição humana e do ofício do verso. Falam da família, do amor e do sexo, da solidão, do altiplano de Brasília, dos filhos, do tempo, da tartaruga e até inclui uma Meditação teocosmogônica. Não poderia ser de outra maneira uma coletânea de poemas. Edgar Morin veria nessa diversidade a versatilidade da poesia contemporânea; “assim como a diversidade da vida, as possibilidades do espírito humano. Doravante” — referindo-se ao ofício do poeta — “aqui residirão nosso único fundamento e nosso único recurso possível!”.Isto é, “a descoberta de nossa situação de perdição num gigantesco cosmos”.
Anderson Braga Horta corrobora com a tese moriniana, com certa ironia e simbolismo:
E então nos amaremos lúcidos
Quando chegar o tempo do Homem.
Como o escorpião de seu poema, Anderson é, morinianamente, uma espécie de:
animal sem presente, entre duas eternidades
sufocando oscilante, entanto lúcido.
Sinto que algo ficou irrealizado em mim,
e esta página branca invade o meu ser.
Não se refere apenas ao desafio mallarmaico da página em branco do criador simbolista, mas, sobretudo, à impossibilidade pós-moderna de realização plena, da impraticabilidade da consecução da obra completa, definitiva, da angústia da reconstrução permanente de sua poesia (como no mito de Cronos) e da dita “obra aberta” de Umberto Eco, que está sempre sendo reinterpretada, reescrita, relida e recriada. Daí o seu desabafo, um tanto retórico:
E vós, quimeras cruéis da humana angústia
— ânsia eterna de glória e de riqueza,
eterna e vã procura do mais alto,
ilusão da beleza — (…)
Na tentativa de chegar a uma conclusão da(s) tese(s) de Morin — posto que são múltiplas, desdobráveis —, devemos perguntar-nos que “rupturas e revoltas” assaltam a poesia e se esta, num discurso pós-moderno ou complexo, onde o eterno é cada vez mais efêmero segundo a concepção moriniana, seria também efêmera. Uma resposta está necessariamente ou umbilicalmente ligada à outra. Para Morin houve duas rupturas: a primeira ocorreu a partir da Renascença, quando a poesia se tornou mais profana, e a segunda, depois do século 18, em que aconteceu uma dissociação entre a cultura de cunho cientifico-técnica e a cultura humanista e literária, gerando literaturas não só independentes, mas com linguagens até contrapostas. “Foi a partir dessas duas dissociações que a poesia autonomizou-se e tornou-se estritamente poesia. (…) Separou-se dos mitos e, com isso, quero dizer que ela não é mais mito, embora se nutra de sua fonte, que é o pensamento simbólico, mitológico, mágico” (Morin).
Quanto às revoltas — também duas —, a primeira foi a do romantismo, sobretudo de origem alemã, uma revolta contra o mundo utilitário, burguês, no início do século 19. A segunda, ainda mais aguda, foi a do surrealismo com a idéia de que a poesia extrai sua fonte da vida, numa dimensão tanto onírica quanto automática, segundo Morin, desprosaizando a vida cotidiana. A conseqüência maior dessas revoltas teria sido a forma bretoniana de “mudar a vida” em vez da idéia anterior de “mudar o mundo”, com o risco do poeta confinar-se a jogos de palavras e símbolos. E qual seria a situação na pós-modernidade? Certamente que o poeta destruiu a idéia de salvação terrestre, a já mencionada incapacidade do progresso como uma idéia determinista. Em suma, como dizia D’Annunzio, não viemos ao mundo para salvar-nos, mas devemos saber como perder-nos. A poesia pode não ser uma forma de salvação, mas converte-se numa espécie de perdição paradoxalmente redentora, pelo menos nos limites do tempo e do espaço de uma proposta e de uma realização. Mesmo acontecendo num espaço-tempo efêmero por natureza e condição, é no recurso às fontes da tradição da poesia que esta se mantém viva e eterna, mesmo através de suas metamorfoses. É uma tese que desorienta e perturba, mas esse seria o espírito de nosso tempo.
Anderson Braga Horta sintetiza a sua percepção poética do estar-no-mundo, com os versos que servem de arremate e autodefinição:
Civilizadamente
vivo, digo-o. Moderno,
Sugo incauto o presente.
Creio que sou eterno!
Referências bibliográficas:
FENELLOSA, Ernest. Os caracteres da escrita chinesa como instrumento para a poesia. In: Ideograma; lógica, poesia, linguagem; org. Haroldo de Campos. São Paulo: Edusp, 2000. p. 109-148.
HORTA, Anderson Braga. 50 poemas escolhidos pelo autor. Rio de Janeiro: Edições Galo Branco, 2003. 120 p.
MORIN, Edgar. Amor, poesia, sabedoria. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 72 p.