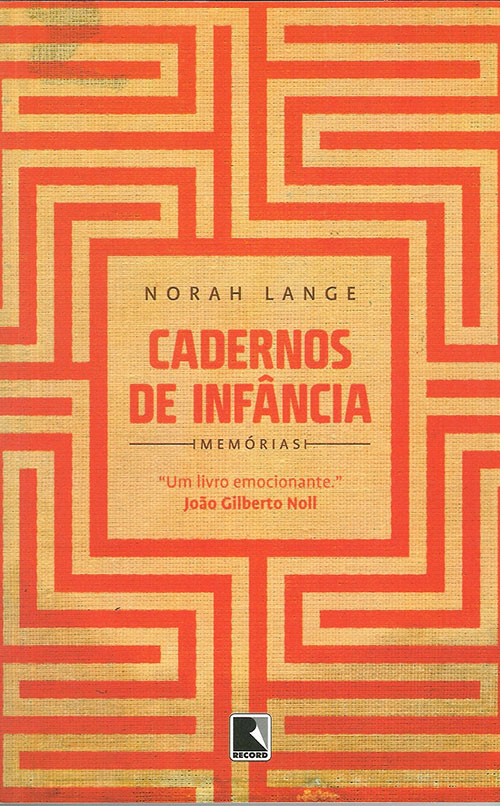O título do livro que marca a passagem da escritora argentina Norah Lange do gênero poético para o da prosa é muito sugestivo: Cadernos de infância – memórias. Publicado originalmente em 1937, traduzido para o português e editado pela Record este ano, é considerado um dos primores ficcionais da conhecida “dama da vanguarda” dos anos 1920 em seu país, integrante ativa de revistas como Martín Fierro, Prisma e Proa, para as quais colaboraram Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga e Oliverio Girondo, entre outros.
Ainda que se queira enfatizar, no que se refere a essa obra, a transição da poeta que se lança nas águas fluentes da prosa de cunho autobiográfico, parece-nos inevitável não perceber o quanto a elogiada narrativa deve ao acento poético que perpassa todos esses modos do contar, que poderiam ser lidos como modos do lembrar.
Aqui a memória dá o tom, enfatizando a necessidade de reavivar os anos de infância da narradora, boa parte deles transcorrida em Mendoza, até a chegada da adolescência, num sofrido ritual de passagem, que coincide, afinal, com a mudança para Buenos Aires. Mais do que às cidades em si, a ambientação volta-se para as casas em que a família habitava e seus arredores, espaços descritos com a intimidade de quem conhece janelas, árvores, frestas, porões, em que se preserva, como em pequenos tesouros de quinquilharias significativas, guardados por crianças, a mesma matéria evanescente que aproxima memória e sonho.
Interessante notar o que revela, à certa altura, numa verdadeira Poética do espaço bachelardiana, a respeito dos porões da casa da calle Tronador, como recôndito lugar, reduto de salvação, diante de todas as intempéries da vida:
Os porões sempre representaram para nós o único lugar seguro contra qualquer risco, e por mais que os anos tivessem demonstrado a inutilidade desse refúgio, a certeza de sua proximidade, de seus alçapões dissimulados sob o tapete, minoraram em duas circunstâncias o medo ante um perigo que acreditamos iminente…
Até muitos anos mais tarde, foi inútil sorrirmos da nossa ignorância, dos nossos temores absurdos e inauditos; ao menor sinal de perigo olhávamos para o porão, como se esse refúgio sobressaltado por teias de aranha, cheio de tijolos úmidos e de sombra, significasse uma permanente, uma imutável segurança.
Talvez, o ponto de partida para a leitura desses cadernos seja exatamente o de compreender a acepção de memória adotada pela narradora como esse espaço inefável, misto de luz e sombra, de aconchego e proteção contra a angústia inexorável de todas as perdas. Talvez, como as partículas de poeira, que se suspendem e se cristalizam no ar, iluminadas por alguma réstia de sol, invadindo escuros.
A memória, nesse caso, assume a função quase terapêutica de resguardar a mente humana do desespero dilacerante do fim. Uma espécie de porto seguro, em meio à excessiva mutação e relativização da desordem do mundo.
De fato, ainda quando menina, nos relatos da protagonista, há a lembrança de algumas manias, das quais gostaria de se livrar ao longo da vida — sem muito êxito — uma delas, a da necessidade, quase obsessiva, de organizar brinquedos, roupas, livros. Analogamente, a voz que narra busca o referencial da memória como forma de ordenar o caos da existência.
Três janelas
Além da simbologia relativa aos porões, há o das janelas como tema recorrente, nessa fusão entre espaço exterior e os labirintos do lembrar. Só que, enquanto os porões representariam a segurança e a trégua nas investidas incessantes da lembrança, as janelas seriam o acesso, muitas vezes instável e inseguro dos olhos que se voltam às infinitas possibilidades desse ver, que é muito mais um rever, um recriar filtrado, por meio do que a “memória coa”. Logo às primeiras páginas, a narradora conta: “Três janelas dão sobre a minha meninice”. Ao longo do relato, que inicia um dos episódios, saberemos que essas aberturas referem-se, respectivamente, às lembranças do pai, da mãe e da irmã seis anos mais velha, Irene.
O pai é a janela triste, que deixa entrever o escritório em que permanecia e que o segregava dos demais aposentos e membros da casa, imagem representada como solene presença ausente, envolta numa bruma, parecida com “cabeçalhos de cartas, interrompidas não se sabe por qual motivo, e que a gente encontra, muito tempo depois, no fundo de alguma gaveta”.
A mãe, excessivamente presente e idealizada, é a janela acolhedora, iluminada e aberta, representada por meio do espaço físico do quarto de costura, em que ficava horas a tecer, com fitas e bordados, as roupas dos irmãos que ainda estavam por nascer.
O quarto de costura é, também, o evidente sinal do espaço ocupado por grande parcela das mulheres na sociedade àquela época, marcada ainda por fortes traços patriarcais. Mas o que nos interessa é notar o contraponto criado por essa poética espacial: o quanto à janela que dá para o escritório semicerrado do pai, sempre distante do contexto familiar, antiteticamente, abre-se a janela que dá para o quarto de costura luminoso e cheio de cores da mãe, atraente e caloroso. Mesmo assim, esse retrato materno “tão acessível” será estritamente associado às demandas da infância, perdendo força, a partir do momento em que as meninas crescem, rumo à adolescência. Reitera-se, por esse tipo de revelação, que certos temas, considerados tabu, nos relacionamentos entre mães e filhas, naquele contexto — primeira metade do século 20 — permitiriam, talvez, a espontaneidade dos chamados “assuntos de criança” e um certo pudor moralista, um fechamento do que pudesse tocar as questões concernentes às transformações do corpo, quando da adolescência:
A janela de mamãe era mais acolhedora. Pertencia a um quarto de costura. Nas casas onde há muitas crianças, os quartos de costura sempre são os mais procurados, os mais buscados. Diante dos estojos transbordantes de fitas e espiguilhas contemplávamos, com freqüência, roupinhas que não eram do nosso tamanho. Nunca pensamos que alguém poderia chegar, de repente, depois de nós. Mamãe passava longas horas no quarto de costura, tecendo ou bordando coisas minúsculas. Nesse quarto ela parecia mais acessível, mais disposta a que lhe contássemos tudo… Sua janela manteve sempre a luz que convém às crianças. Não vi outra, depois…
A terceira janela, a de Irene, é caracterizada como misteriosa, justamente porque, por ser mais velha, essa irmã teria o poder e o fascínio de surpreender as demais, com os temas vetados na infância, jamais falados com a mãe e apenas subentendidos do que se apreendia do universo adolescente feminino, que deixava entrever:
De sua janela, sempre esperávamos as maiores surpresas. Irene nos falava de raptos, de fugas, de que em alguma manhã iria embora com sua trouxinha de roupa, como Oliver Twist, porque em casa não gostavam dela, ou porque alguém a esperava lá fora. Talvez, por isso sua janela me pareceu misteriosa.
Flagrantes voyeuristas
Poderíamos continuar buscando mais exemplos, de tantas outras janelas do lembrar dessa narradora-menina, capaz de reinventar o mundo ao redor, com olhos de quem sabe ler o outro, num profundo viés de sondagem psicológica, nesses flagrantes voyeuristas da memória.
De fato, a estrutura da narrativa remete a um abrir constante de folhas de janelas, que descortinam o mundo a ser lembrado e, portanto recontado, tal como, enquanto leitores, folheamos as inusitadas páginas-janelas, descobrindo, curiosos, novas epifanias que se apresentam como uma gama infinita de curtas e densas histórias, nítidos flashes poéticos, com que essa volta ao passado nos brinda.
Cremos que, em alguns casos, uma visada de cunho memorialístico autobiográfico possa correr o risco de manter um discurso apoiado nos excessos de apego à verossimilhança. Daí porque o texto ficcional nasça sobrecarregado, assumindo ares de um exaustivo relato, pontuado de nomes, datas e situações que aprisionam os modos do narrar.
Embora possamos afirmar que os cadernos de Norah Lange se enquadrem numa perspectiva de retrato do vivido pela autora, numa volta à infância e à saga de sua família, de quatro irmãs e um só irmão, família aristocrática argentina, que educa os filhos à la inglesa, com os refinamentos europeus tão comuns às classes mais abastadas da época, em nenhum momento sua narrativa esbarra nos perigos da hipersaturação memorialística.
Nesse sentido, percebemos o quanto a escolha por uma narrativa fragmentária, não linear e de concisão poética colabora com os intentos do lembrar, de uma memória involuntária e rarefeita, que remete a Proust, uma vez que a estrutura do discurso reflete os lampejos, nada coesos das manifestações sinestésicas, ora lúcidas, ora nubladas, daquele que lembra.
Os modos do narrar assumem a força do que se narra, de tal modo que, se quiséssemos abrir o livro, aleatoriamente, perceberíamos a autonomia desses episódios, reveladores das impressões do que se escolheu recordar.
Como conseqüência, a força literária da obra se concentra na tensão entre o que se lembra e o que se conta, nas luzes e lapsos da memória que insiste em ser cuidada e preservada como colo aconchegante da infância, que não se quer deixar tragar pela transitoriedade da vida.
Memória e ficção
Talvez aqui, os requintes da prosa poética, no limite de tais revelações epifânicas, sejam o segredo para não sucumbir à opressão obsessiva de quem se propõe a lembrar tudo, como o personagem Funes, o hipermemorialista de Borges.
Se quiséssemos adentrar o vasto e complexo campo dos estudos sobre memória e ficção, teríamos que tocar em infinitas teses e teorias. Mencionamos, então, apenas, o brilhante estudo de Harald Weinrich, Lete — arte e crítica do esquecimento, em que é possível compreender as interfaces de esquecer e lembrar como complementares.
Se a escritora argentina optou por perceber algum alento nas lembranças, diferentemente do que asseverava Nietzsche em Felizes os esquecidos, também não incorre nas armadilhas que os apelos extenuantes da lembrança podem causar.
Ainda que reconfortante e terna, a viagem por esses recônditos lugares da infância traduzem, apenas, o que ela escolheu não deixar perecer.
É o próprio Weinrich que afirma não ser possível encontrar nenhum brilhante artista da memória, que não tenha a nostalgia de um esquecimento salvador. E revela, como curiosa história, a de um psicanalista que, visando a curar um paciente que sofria de “hipermnésia”, orienta-lhe para que escreva no papel as coisas a serem esquecidas, visto que o que se anota é mais facilmente apagado.
No caso de Norah Lange, acreditamos não haver esse risco. Uma vez que se apega à memória como refúgio e proteção, ao pôr no papel as coisas a serem lembradas, em vez de esquecê-las, ela as reinventa à luz poderosa do que insiste em permanecer, num ato desafiador de celebração da vida, intensificada pelas lentes transfiguradoras de sua ficção.