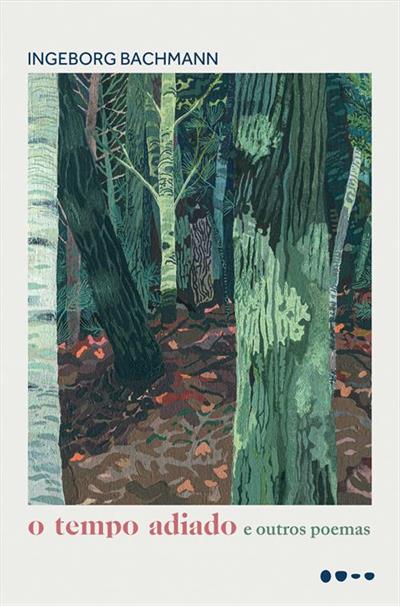A coletânea O tempo adiado e outros poemas reúne conteúdos dos livros O tempo adiado e Invocação da Ursa Maior, publicados em vida pela austríaca Ingeborg Bachmann, além de poemas escritos e veiculados de maneira esparsa até o fim da vida da escritora. A seleção é representativa de sua obra poética, e a boa versão em português de Claudia Cavalcanti (tradutora de Georg Trakl e de Paul Celan) faz um esforço em nos trazer a clareza das imagens de Bachmann, respeitando sua sonoridade específica. O afastamento ocasional do sentido mais literal das palavras se justifica pela busca de uma composição rítmica que faça justiça à lírica da autora e que também funcione em nosso idioma. Além disso, o livro traz um posfácio também assinado por Cavalcanti que, além de educativo sobre a vida e a obra da autora, é delicado em sua tentativa de esboçar um retrato que faça justiça histórica a essa que sem dúvida é uma das maiores poetas de língua alemã do século 20.
A primeira impressão causada pela coletânea é a de que a poesia de Bachmann reabilita um tipo de imagismo de inspiração idílica. Não há ingenuidade nesta reabilitação, no entanto, pois a sombra da guerra ainda ameaça tudo. Essa insistência no natural precisa ser entendida então como gesto de coragem. Bachmann ousa reencontrar a delicadeza e a beleza do repositório de imagens românticas da lírica alemã transfiguradas no seu atribulado século 20. Atribulado sobretudo pelas guerras protagonizadas pelo mundo alemão nazificado cujo céu, segundo ela, que o viu de perto em sua Áustria natal, “enegrece a Terra”.
Este imagismo ou esta plasticidade móvel é fruto de um jogo de luzes quase barroco em suas imagens. Elas são claras, escuras, crepusculares. O leitor vê tudo como se carregasse um candelabro em uma floresta escura. As imagens bruxuleiam. Parte deste efeito sem dúvida se deve ao uso comum por Bachmann dos verbos conjugados no tempo presente. As ações vão se desenrolando na medida em que são apresentadas ao leitor. As coisas não estão, no entanto, paralisadas, como natureza-morta, mas suspensas no presente, em tensão diante de uma iminência. As coisas estão (não são) e provavelmente se transformarão em breve (possivelmente para pior). Um breve que nunca vemos chegar nos poemas, mas que é anunciado.
Se por um lado soa catastrófico, por outro também pode ser entendido como uma estratégia criativa de sobrevivência: adiar a morte por mais uma noite através da literatura, como faz Sheherazade, impedir a dissolução completa do mundo anterior através de uma sabotagem silenciosa, como faz Penélope. Talvez adiar tanto seja uma maneira de manter este precário ainda vivo. No poema que dá título ao seu primeiro livro, e à coletânea, lemos no fim da primeira estrofe: “O tempo adiado até nova ordem/ desponta no horizonte”.
Há uma esperança secreta nesse “até nova ordem”, ou “auf Widerruf”, até a revocação — “Somente a esperança ofuscada rasteja na luz”. A esperança se encontra em um tipo de contragolpe que não é tanto retorno ao passado, mas seu resgate das mãos dos algozes. Um nome mais preciso talvez seja ressurreição, retorno a uma vida, mas posterior, já liberta dos inimigos, como em Canções de uma ilha: “Quando ressuscitares,/ quando eu ressuscitar,/ o carrasco estará pendurado no portão,/ o machado afundado no mar”. No presente, no entanto, os carrascos ainda não desapareceram. A permanência de antigos dirigentes nazistas em posições de poder nas sociedades austríaca e alemã (assim como a presença camuflada de sua ideologia nas mais diversas esferas) reconhecidamente preocupou militantes, estudantes e artistas no pós-guerra e os levaram à ação, muitas vezes radical. Bachmann é explícita: “Os carrascos de ontem/ bebem toda taça de ouro”.
Barbárie contínua
Para além do exemplo histórico próximo à autora, sua poesia se desdobra e diz também que a guerra nunca terminou e que seus absurdos inomináveis se transformaram em coisa comum. Visão de mundo compreensível para um livro publicado em 1953, mas lamentavelmente comum a um contemporâneo como o nosso, que imita certos fenômenos passados e em que a própria possibilidade de eventos verdadeiros parece que vai sendo bloqueada justamente pela sua multiplicidade e banalização. Qual a grande guerra da vez? E a epidemia? E o conflito social? Qual grande incêndio, qual grande enchente? Como no poema Todos os dias: “A guerra não é mais declarada,/ mas mantida. O inaudito/ tornou-se ordinário”.
Outro recurso formal interessante, presente em quase toda sua poesia, é o enjambement sem que os substantivos são separados dos verbos de ação. Não se tratam de quaisquer substantivos, mas daqueles que já não dependem tanto de ação porque carregam em si já uma pequena épica: “o herói”, “o fraco”, “nossa divindade”, “os imortais”, todos eles já dizem algo sobre si. Isso reforça a leitura de um presente na iminência, sem que a ação de fato aconteça. Pelo contrário, o poema parece ser composto como um tipo de intervenção contra a ordem precária, uma tentativa de impedir este movimento (abrindo, quem sabe, esperanças outras). O uso frequente do genitivo no lugar do verbo, muitas vezes com repetições do substantivo, “fantasma dos fantasmas”, reforça essa ideia de repetição, jogo de espelhos, infinitização dessa pequena épica e, ao mesmo tempo, dá a tudo um tom sagrado, como na Bíblia. Os nomes pesam e já carregam suas histórias.
Apesar do recurso a esse tom mítico e às imagens da natureza, não há simbolismo no sentido tradicional (com uma gramática reconhecível), nem outro grande poder reinante que não a História. Não se trata portanto de um retorno ao mito. Essa natureza mesma, por mais que seja salva pela palavra poética, está marcada também pelos traços tecnocráticas da guerra e da Modernidade. O símbolo historicizado desce à Terra como a própria constelação de Ursa Maior. Campo e céu são cultivados no “suor dos motores”, tudo são rosas, mas em forma de tempestade “iluminada por espinhos”.
Símbolo e alegoria
Não será exagero chamar Invocação da Ursa Maior, que dá título ao segundo livro, de um dos grandes poemas do século 20. A imagem monstruosa, da ursa gigantesca que baixa à terra vinda das estrelas, resume um pouco a transformação estética e histórica do século. A destruição global das condições de vida e dos modos de produção não modernos, temporalidades alternativas, marcadas pela relação com os astros em suas revoluções regulares (fases da Lua, posição das constelações no céu, duração do dia), dão espaço à desorientação e à produção generalizada dos des-astres, astros deslocados, estranhados, irregulares, imprevisíveis, como já aponta a etimologia da palavra.
Também não é desimportante que a constelação que desce não é a do nobre herói Órion, mas a de Ursa, um animal, uma velha, uma fêmea. Sua descida é heroica apenas no início, pois logo em seguida ela é colocada em contexto pouco apropriado para sua grandeza. Ela está isolada da caça, na disciplina da coleira, fazendo truques de circo para sobreviver, alimentada apenas com pinhas que — ela diz — são o mundo e somos nós, espinhos cobrindo talvez uma semente saborosa. Imagem, portanto, que se inicia cósmica e termina mínima — passagem do símbolo à alegoria, texto arrancado do contexto (ou texto em busca de um contexto).
O último parágrafo resguarda, no entanto, uma hipótese, um segundo desvelamento. A Ursa não vem sozinha, vem seguindo, quem sabe, estas pinhas que caíram antes — nós, nosso mundo — dos grandes pinheiros alados expulsos do céu. A referência bíblica é evidente, fomos expulsos do jardim original, mítico, para o mundo histórico, mas aqui mesmo, insuspeitos, estão fragmentos daquele primeiro mundo, ou de um outro, futuro e redimido. Daí a ameaça dessa Ursa, presa por correntes terrestres, de dentes roídos, mas que ainda mordem, na iminência de se soltar e destroçar este mundo e recolher esses frutos do céu.
Novamente, se não é retorno, é um tipo de reconhecimento entre nós e a Ursa, aquele céu espelhado e refletido nas pinhas daqui. Abandonados o céu e as correntes, resta o mundo todo. O nós-lírico que invoca, que roga pela Ursa (“manda descer para ver/ Filhos de Gandi”, como em outra invocação semelhante), não chama tanto por uma libertação vinda dos céus (tampouco dos seus profetas daqui, representados no poema pelo cego de correntes nas mãos), chama mais uma lembrança das origens celestes deste mundo. A língua original, idêntica a seu referente, não existe mais, mas seus fragmentos estão presentes, a serem buscados com as garras da linguagem, ainda que encobertos por espinhos.
Imagens
O uso em alguns poemas de uma voz não necessariamente feminina (o alemão não marca tanto os gêneros e a tradutora é levada muitas vezes a tomar decisões em português que produzem inegavelmente efeitos de interpretação) leva a pensar sobre a posição estranhada do feminino na lírica de Bachmann. Como em Terra nebulosa, trata-se sem dúvida de um feminino ligado a temas românticos, a amada, a noite, a floresta, um feminino que ocupa junto à ursa, à coruja e aos outros animais um espaço não completamente capturado por esse presente, que ocupa uma posição sobretudo móvel. Esses temas e imagens são colocados em movimento a partir dessa presença que é chamada e buscada pelos eu-líricos e que não está sempre disponível, mas tem agência própria. Trata-se de imagens do feminino na posição de observadas, procedimento estratégico, pois ganham um dinamismo talvez maior do que em uma posição de mero sujeito confessional. Fora do mundo humano, fora das relações empobrecidas da vida urbana, fora da idiotificação da propaganda como em Reclame, elas vêm desta floresta localizada um pouco no passado, mas que se lança no futuro, acendendo outras possibilidades.
É isso que seduz e assusta nos poemas (sobretudo nos dois primeiros livros), o posicionamento estratégico deste feminino não apenas como voz em primeira pessoa, mas como potência em movimento, é isso talvez que ajuda a causar a impressão de um feminino futuro (que tem laços profundos com o passado, mas que está na iminência de ultrapassá-lo). A presença de todo um bestiário encantado aponta também para outras maneiras de ver o mundo humano. São animais guardiões que resguardam possibilidades de ser autênticas, como na literatura e como no erótico, limitadas pelo “mundo devastado” da guerra dos homens.
Esse imagismo alegórico é material, tem uma atenção metonímica aos detalhes: a resina gotejando nas árvores como imagem do desejo, a carne úmida sobre as unhas como imagem da decadência. Mas apesar de sua profusão, congelada nesse presente da iminência (“Vem aí um grande fogo,/ vem aí um fluxo sob a Terra// Testemunhas seremos, certeza”), cada coisa tem seu lugar, cada imagem surge em um momento preciso e embora às vezes elas não tenham relação direta entre si, há uma sequência de planos em funcionamento de forma que as imagens ao mesmo tempo conservam sua independência e compõem a narrativa mais ampla do poema.
Se for permitido fazer uma comparação despretensiosa, a seguinte estrofe de Dias em branco (Tage im Weiß), sua sequência precisa e espaçada, a substância comum das imagens e, ao mesmo tempo, seu mistério alegórico, a distância e a distorção da imagem apresentada pela memória, lembra — em um movimento de câmera mais lento, mas semelhante — O espelho, de Andrei Tarkovsky (uma comparação entre as duas “poéticas”, sem dúvida, renderia reflexões interessantes):
Nestes dias levanto-me com as bétulas
e penteio-me afastando da testa os cabelos de trigo
diante do espelho de gelo.
Misturado com meu sopro,
o leite em flocos.
Ele espuma fácil, tão cedo.
E quando unto de ar o vidro, ressurge,
pintado por um dedo de criança,
teu nome: inocência!
Depois de tanto tempo.
A geração do pós-guerra de que Bachmann e outros poetas ao seu redor fazem parte é um pouco como o homem que não pode morrer de Curriculum Vitae (descendente, quem sabe, do conto Caçador Graco, de Kafka). Por guerra, entendam-se não apenas as duas grandes guerras em território europeu, mas as guerras de colonização e independência (presentes em Porto morto), todo o processo bélico de modernização forçada do globo. Parido do útero das máquinas (superação irônica do Futurismo), o homem vaga por um mundo parecido com nada, preso a ele, pois tudo é este mundo, na esperança, no entanto, de encontrar algo que ainda ou já não o seja mais. É uma figura de êxodo, o judeu errante transformado em imagem de toda uma geração. (A proximidade desta visão de mundo e de estética com as de Paul Celan, para além das afinidades biográficas e históricas muito bem descritas por Cavalcanti no posfácio, é evidente.)
Por isso, o trabalho insistente de escrever, simbolizar, é quase militante. Manter-se em busca daquela esperança é questão de vida ou morte, não é mero deleite estético. Afinal, como diz o eu-lírico de seu conto O trigésimo aniversário: “Não há mundo novo sem linguagem nova”. Ou no poema Prólogo e epílogo, o alfa e o ômega da linguagem histórica: “Palavra, tem conosco/ terna paciência/ e impaciência. Esse semear/ precisa ter um fim”! E mesmo que não estivermos mais aqui quando o fogo adiado finalmente chegar, as palavras que impediram um mundo e invocaram outro ainda estarão aqui, para os que vêm: “Mas a canção sobre o pó depois/ nos ultrapassará”.