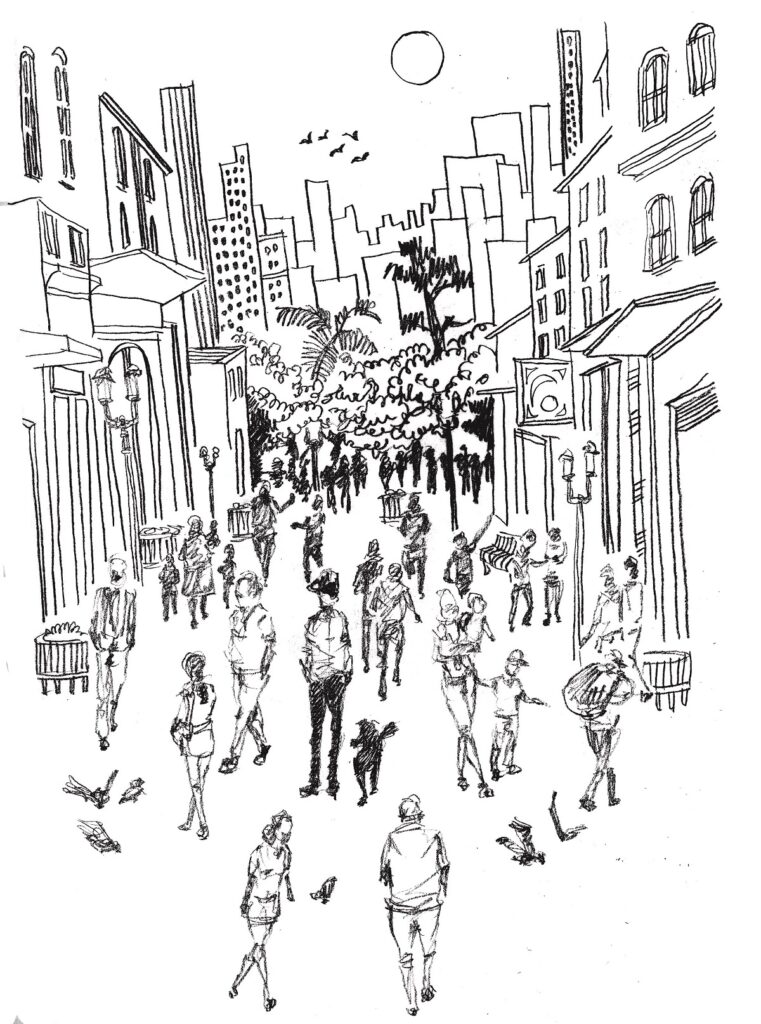A crônica aqui entre nós se casou muito bem com o espírito brasileiro.
Com a vontade de se confessar nas coisas miúdas e extrair delas uma história maior, com o calor afetivo de um povo que, espontâneo nos atos, se quer espontaneamente expressivo na linguagem também, com as necessidades de um país novo que busca a sua identidade com os olhos no mundo e um olhar mais decisivo no local, com aquela versatilidade camaleônica que precisa de muitas vozes e muitas formas de expressão para se autoafirmar, com a pressa de leitura de um mundo que tem urgência de se ver e se reconhecer nas suas palavras e no seu lugar — este gênero jornalístico, hoje significativamente literário, que ainda resiste a uma classificação formal, é tão presente no processo de formação da literatura brasileira e igualmente tão singular na afirmação das nossas letras que se pode dizer, com segurança, que a crônica é um modo muito nosso de ser.
Machado de Assis, como a maioria dos nossos escritores, também foi cronista e, junto com José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, fez parte do primeiro time de “cães farejadores do cotidiano” — numa expressão feliz de Antonio Candido para registrar a avidez pela “reportagem da vida”, que progressivamente vai se tornar na nossa tradição literária um encontro único entre literatura e jornalismo, gênero que os escritores brasileiros dominam como poucos e, por que não dizer?, como ninguém.
Pois é o nosso Machado mesmo que, brincando seriamente e se autodenominando “escriba das coisas miúdas”, desvenda “O nascimento da crônica”, não por acaso numa crônica com este mesmo título, afirmando e fabulando com aquele humor inteligente que a natureza ou a origem da crônica nasce de uma trivialidade como exclamar “Que calor!”, para depois conjecturar “acerca do sol, da lua, da febre amarela, dos fenômenos atmosféricos” e outros calores da alma humana.
E mais: que este tom tão trivial e aparentemente bisbilhoteiro da crônica é mais velho do que Esdras, Abraão, Isaque e Jacó, sugerindo para nós leitores que é mais velho até do que Noé que — por essas veredas da fábula, não é nenhum pecado imaginar —, muito provavelmente, se utilizou do ritmo exclamativo e prosaico da crônica para anunciar ou quem sabe irradiar a iminência do maior dilúvio de todos os tempos, ameaça ou notícia que teve muita gente que acreditou.
Por seu caráter de prosa, colóquio, confissão, comunicação imediata, “graça”, sentido telegráfico, urgência, trivialidade e até mesmo brincadeira ainda que o tema solicite o tom da seriedade, não dá para precisar em que época nasceu a crônica, mas é muito provável (e ainda quem nos alerta é Machado) que a crônica aconteceu pela primeira vez quando as duas primeiras vizinhas, depois das tarefas do jantar, se sentaram na porta de casa para papear sobre o dia e agarrar a transitoriedade da vida com palavras triviais e “voadoras” porque aparentemente dispersas, palavras com ar de coisa nenhuma, mas no fundo necessárias e urgentes como o impulso natural de comunicação entre dois amigos, escritor e leitor.
Escritor e leitor que, se confessando no rés-da-calçada e nas miudezas da vida, revelam a complexidade da condição humana e a experiência única de viver.
Poesia
Carlos Drummond de Andrade que, como Rubem Braga e Clarice Lispector, imprimiu poesia e estados de alma à crônica, diria melhor sugerindo por sua vez, num poema, o sentido atávico e até mesmo inexorável da linguagem como busca do outro e, por ser raiz e matéria tão antiga e presente na natureza humana, ilustra muito bem a origem remotíssima da crônica, um voo breve com o tempo da eternidade, puríssimo diálogo:
Escolhe teu diálogo
e
tua melhor palavra
ou
teu melhor silêncio.
Mesmo no silêncio e com o silêncio
dialogamos.
Só para iluminar mais a simplicidade e a sutileza, por vezes, até refinada da crônica, é quase uma sorte poder recorrer também às palavras de Manoel de Barros. Hoje carinhosamente acolhido por leitores de todas as idades como “o grande poeta das coisas pequenas”, ele levou a herança e a ciência da crônica para os seus poemas em prosa e, com voz de cronista, avisa que “Para apalpar as intimidades do mundo”, labor precioso da crônica, “é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca” e que, no jogo literário, a gente tem de saber muito bem “como pegar na voz de um peixe”.
Enfim, como pegar com as palavras as pequenas coisas, agarrar o grande com a sabedoria do miúdo, revelar a dimensão humana nas suas porções mínimas, escutar a vida cotidianamente, atenções estas presentes em todos os tempos e em todas as formas literárias, mas em nenhum deles com o sentido de permanência, a singularidade e a vontade do ofício de ser cronista.
A crônica como gênero literário, aqui no Brasil, vai aparecer em 1854 com José de Alencar escrevendo para o jornal Correio Mercantil o folhetim Ao correr da pena, título sugestivo para ilustrar a leveza e o tom corriqueiro da matéria que comentava desde a presença da máquina de costura que roubava a graça do dedilhar das agulhas, passando pela euforia tola das danças e dos costumes que invadem o Rio de Janeiro, até o furor especulativo da época e a indiferença da nação diante da Guerra da Crimeia.
Mas o espírito de cronista já está presente na certidão de nascimento da Literatura Brasileira: a carta de Pero Vaz de Caminha que, com o entusiasmo de cronista, a precisão no registro objetivo e circunstancial do fato e com certo tom segredado da conversa de comadres transcrita com “engenho e arte”, relata ao el-rei D. Manuel, com olhos de descobridor interesseiro, os benefícios e os malefícios da Terra de Vera Cruz.
Isso ainda não é arte literária, mas o ofício de cronista é a primeira voz, ainda que embrionária, das nossas letras e vai ocupar um lugar de destaque a partir de meados do século 19 na literatura brasileira. Desse modo, a crônica persiste como uma espécie de idioma nacional e compõe uma galeria de cronistas que, com palavras solidárias ao registro factual e aos voos imaginários, mais parecem uma comunidade de alquimistas. Esses cronistas vão das memórias aos flagrantes do dia a dia, da piada às inquietações metafísicas, do diário às digressões filosóficas, do ultimato às cartas literárias, dos apelos de alma à ironia mordaz, da denúncia social à contemplação introspectiva, das confissões poéticas ao comentário chulo, do humor à compaixão — apenas para registrar seus extremos.
Em todos esses cronistas, o tom da oralidade e o sentido da solidariedade que fazem do leitor um interlocutor que se reconhece na matéria, sempre expressa com fôlego de experiência vivida, até mesmo como coautor dessas páginas escritas como uma espécie de subjetividade coletiva.
É fato mais que conhecido no universo das palavras que o clima de conversa ao pé do ouvido da crônica, tocante e ao mesmo tempo volátil — e que Manuel Bandeira, cronista na prosa e cronista na poesia, chamou puxa-puxa — provoca no leitor um desejo enorme de escrever crônica também.
Escritor e leitor que, se confessando no rés-da-calçada e nas miudezas da vida, revelam a complexidade da condição humana e a experiência única de viver.
Vozes femininas
O tom marcadamente despojado, com lances de emoção desarmada, encontrou, também não por acaso, aquele tom confessional de rara expressividade na crônica feminina, desde Rachel de Queiroz que fazia da denúncia social um colóquio entre duas vizinhas, papeando na porta de casa, como Machado de Assis imaginou. E a voz feminina continuou ecoando em muitas outras cronistas, algumas predestinadas por um clima de prosa solta e por vezes rasgada, em especial Anna Cristina Cesar que, na sua “pasta rosa”, com palavras de uma poesia irônica e mesmo irada, cobrou afetos que tardavam tanto a chegar.
Para não dizer que falar de peito aberto é privilégio da mulher cronista, Caio Fernando Abreu, para lembrar apenas um escrivão das miudezas da vida, trouxe um tom de correspondência afetivamente despudorada, que parece conversar com o leitor depois de uma manhã mal dormida, como acontece em Carta anônima quando ele se revela na ênfase da interlocução emocional: “Tenho trabalhado tanto, mas penso sempre em você”.
Por tanta expressividade e tantas formas de expressão, vale fazer um percurso de leitura pelos labirintos da crônica desde João do Rio e Lima Barreto, que chegaram a criar personagens, sátiras e mesclar ficção e realidade nos seus folhetins dos primórdios do século 20, até os mais atuais, que escrevem diariamente para as mais conhecidas revistas e jornais brasileiros, como André Sant’Anna que chega a suprimir a pontuação para perder o fôlego de tanto ódio e adoração por São Paulo, Antonio Prata que parece anotar num guardanapo a autoironia amorosa de sua própria classe social, ou Tutty Vasques que, com o eterno espírito solidário da crônica, confessa que é cronista “porque ainda acredita no ser humano”.
É isto: nesse trajeto tão humanamente nosso que recupera e reassume algo da versatilidade do herói Macunaíma enquanto história de busca e constante desejo de se reinventar, a nossa crônica avança e retorna no tempo criando novos modos de cultivar, na própria respiração das palavras, o ofício de contar. No mais e sempre, ela elege o tema da “solidariedade” entre cronistas e leitores como norte da experiência imperdível de ler.
E é por essas veredas de sensível e puríssima comunicação que ela veio se aclimatando desde os “tempos que já lá vão” com a pena missionária do padre Manuel da Nóbrega ou do padre José de Anchieta no Quinhentismo e se firmou progressivamente nas décadas de 1930 e 1950 de forma única e originalíssima no Brasil.
Acolheu o que as vanguardas ofereciam de melhor nos idos de 22, entrou no ritmo da bossa nova com a aparente simplicidade de quem conta e faz reportagem da vida “com uma nota só”, festejou ou não a criação de Brasília, comemorou a primeira vitória da copa do mundo, seguiu “caminhando contra o vento sem lenço e sem documento” nas passeatas e comícios dos anos sessenta, transitou sempre na contramão dos artifícios e de toda e qualquer ditadura de expressão, por estar a serviço da vida, a parte melhor de toda essa sua história.
Pensando mais uma vez junto com Antonio Candido, ela, a nossa crônica, “pode servir de caminho não apenas para a vida que ela serve de perto, mas para a literatura”. De fato todos os cronistas ou folhetinistas, como eles eram chamados, querem, do fundo do coração e na memória do tempo, continuar sendo uma voz literária das miudezas da vida nesse nosso país tão cronicamente tropical.
E, para provisoriamente pôr um ponto final nessas linhas que já estão com vontade de virar crônica, como vai ela hoje em dia?
“Muito bem, obrigada”, ela grita leve e solta nas entrelinhas dessa conversa ligeira, sempre abusando lindamente da liberdade de expressão que é seu território livre para o trânsito das ideias. Isso porque, quando se lê uma crônica que é crônica mesmo, coisa que só lendo para descobrir, a gente se perde no tempo imemorial de todos os tempos sem o menor interesse de se achar, a gente fica como Carlos Heitor Cony naquela crônica que conta a sua história de amor com a cadelinha Mila.
A gente fica com a breve eternidade da crônica que, igual à cachorrinha, nunca quer ser maior do que a nossa alegria ou tristeza, a gente “perde o medo do mundo e do vento” e fica com saudade das crônicas que ainda não leu.