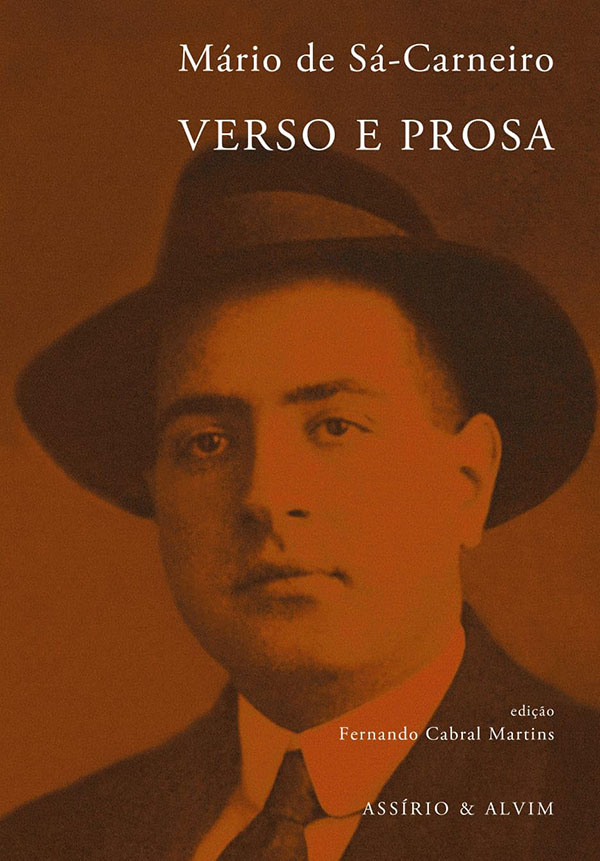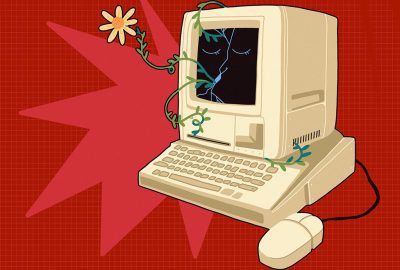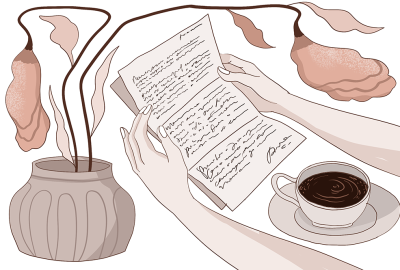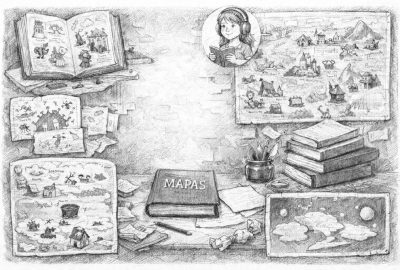Nos ensaios de abertura de The wandering fool, sobre as principais características e lições espirituais do livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, Robert Powell argumenta que as forças evidenciadas pela astrologia e os símbolos do tarô precisam ser vistas como fontes de estímulos e não de instrução: “Assim como os símbolos não instruem, mas sim estimulam, um fluxo de mistério moderno deve funcionar como um símbolo no mundo — não instruindo, mas estimulando.”
Em outras palavras, o que Powell parece dizer é que essas forças, esses influxos de energia que perpassam a vida humana, a estimulam, mas não a definem. Assim, dentro da perspectiva da astrologia, por exemplo, nascer sob os auspícios de tal e qual disposição e trânsito dos corpos celestes é fator de estímulo para tal e qual influência, e não um destino fechado ou personalidade definida. O mesmo pode ser dito de outros fatores que acompanham o desenrolar da nossa existência sobre o chão que pisamos, como a amizade.
Ao contrário do que diz o velho e batido ditado “diga-me com quem andas que eu te direi quem és”, as amizades que construímos ao longo da vida não definem quem somos, mas nos estimulam — para o bem ou para o mal. E não há equívoco mais vil do que definir um indivíduo pelo outro que lhe acompanha, ignorando toda a carga pessoal, espiritual e criativa que o envolve desde o primeiro sopro.
No entanto, mesmo diante de tamanha afronta à liberdade de ser, reduzir alguém ao seu entorno é o diapasão sobre o qual as almas da contemporaneidade são afinadas. Basta uma rápida olhada nos discursos dos coaches de plantão, que aconselham seus acólitos ao radical afastamento de pessoas com mentalidades diferentes sobre o que é prosperidade e performance, pouco importando o grau de intimidade e parentesco, para se perceber a gravidade do tema.
Ser reduzido à sombra de quem nos circunda é atestar o óbito do espírito, da liberdade e das potencialidades. É borrar o rosto do outro, para usar um termo querido a Emmanuel Levinas, e negar a alteridade fundamental, isto é, a presença única e irredutível do outro enquanto Outro. E nem os grandes nomes das artes e da literatura escapam do cruel impulso de semelhante catalogação.
Sob o olhar contemporâneo, Mário de Sá-Carneiro é, por vezes, descrito como espécie de Sancho Pança, fiel escudeiro de um quixotesco Fernando Pessoa — como se sua única função fosse, por meio das cartas trocadas, lustrar as armas e o escudo com os quais o exército pessoano combateu o desconcerto do mundo.
O rebaixamento de Sá-Carneiro à condição de satélite menor do firmamento super-habitado do autor de Mensagem revela o despreparo ou decaimento da atividade intelectual em relação ao que acontece de espontâneo frente aos desequilíbrios que emanam das margens da história, erroneamente encarada como marcha progressiva obrigatória em direção a um absoluto, desprovido da compreensão profunda de seus aspectos metafísicos essenciais. Trata-se de uma denúncia aberta de uma espécie de analfabetismo crítico que contamina boa parte do que se convencionou chamar de história literária, que prefere ver nele apenas um sensível precocemente morto ou, pior ainda, um desajustado à sombra do Supra-Camões.
Literatura do excesso
Para os defensores dessa posição, a verdade é um tanto mais incômoda. Embora seu estilo não seja dos mais atrativos para o meu gosto pessoal como leitor, é inegável que, em sua breve, febril e trágica existência, Mário de Sá-Carneiro foi um dos mais autênticos representantes da literatura do excesso na modernidade portuguesa e, em muitos sentidos, o seu vértice mais incandescente. Aquele em que a linguagem serve tanto ao estilo quanto a ponto de apoio à revelação de uma ontologia ferida, irremediável; um ser em embate com a própria substância, tal como se encontraram também um Lautréamont, um Strindberg ou, em seu horizonte trágico, um Gérard de Nerval.
Nos poemas de Dispersão, o eu lírico já anuncia sua própria implosão:
Perdi-me dentro de mim
Porque eu era labirinto,
E hoje, quando me sinto,
É com saudade de mim.
Versos que, ao mesmo tempo em que apontam para a ruptura de si na imagem de um labirinto que não é apenas mental, mas principalmente existencial e de cunho pessoal e intransferível, remetem também à tradição da literatura portuguesa ao tocar de revés o tema da Saudade — a musa inspiradora e perene da poesia de Teixeira de Pascoaes e urgente preocupação metafísica da filosofia de Leonardo Coimbra.
Para a escola saudosista lusitana, a Saudade nasce das misteriosas núpcias da alma humana com a dor das coisas e, segundo Pascoaes, “destas núpcias nasceu a Saudade, que é o desejo e a tristeza, a matéria e o espírito, a morte e a vida, a terra e o céu”. Para Coimbra, a Saudade “é como a sombra do homem, sombra que jamais o deixa, porque o sol que ela intercepta é o Espírito e não há horizonte que o oculte”.
Visões que parecem ecoar também em outros versos produzidos pela pena de Sá-Carneiro, que denunciam o peso de suportar um único eu insuportável:
A minh’alma nostálgica de além,
Cheia de orgulho, ensombra-se entretanto,
Aos meus olhos ungidos sobre um pranto
Que tenho a força de sumir também.
…………………….
(As minhas grandes saudades
São do que nunca enlacei.
Ai, como eu tenho saudades
Dos sonhos que não sonhei!…)
Já nos contos presentes em Princípio e A confissão de Lúcio, vemos um salto para narrativas que flertam com o gosto simbolista e fantástico. São passagem e abertura para maior exposição de sombras mais densas e febris. O que se coloca naquelas páginas é uma forma mais intensa de instabilidade da identidade, de falência dos limites entre realidade e invenção, de desejo e de loucura. Se, nos poemas, o leitor é apresentado de modo modesto àquilo que o autor chama de “estética da vertigem”, em suas narrativas somos levados à boca do monstro, com imagens quase barrocas, metáforas em cascata, comparações inesperadas e sinestesias violentas que o tornam ilegível para os manuais e indesejável para as antologias escolares, com passagens como esta:
— Gostava que morresse toda a gente… todos os animais e que só eu ficasse vivo… (…) Para experimentar o medo de me ver completamente só, num mundo cheio de cadáveres. Devia ser delicioso! Que calafrio de horror!…
Luta ferina
E é por essas e outras que, num tempo de conversões como o nosso, em que a autenticidade se converte em performance e o sofrimento precisa ser convertido em narrativa de superação para ser aceito, a figura de Mário de Sá-Carneiro, com sua estética que se apresenta como luta ferina com a existência, mostra-se incômoda como corte de papel entre os dedos.
Gustavo Corção nos ensina que “andamos na vida com dois doidos por dentro, um a nos ditar obsessões, outro a nos propor um voo”. No caso de Mário de Sá-Carneiro, após luta ferrenha e cruenta, o primeiro parece ter subjugado o segundo. O suicídio do poeta em Paris, aos 26 anos, pode ser visto como o epílogo lógico de uma alma doente ou como o ato desesperado de alguém que não conseguiu — ou não quis — compactuar com as exigências de uma vida amputada de espírito.
Ainda que não o expliquem por inteiro, o colapso financeiro, aliado ao isolamento e às dificuldades de sobrevivência na capital francesa, foram, sim, fatores que o empurraram para o fim. Se, por um lado, Mário de Sá-Carneiro seguiu seu próprio caminho artístico e não permitiu que a força caótica, mas luminosa, de Fernando Pessoa o definisse, o mesmo não aconteceu com as forças que regiam sua condição material. Talvez, por falta de uma melhor afinação da grandeza e transcendência do seu eu interior frente às intempéries do mundo exterior, o poeta tenha sucumbido à tentação de permitir que a pobreza que o esmagou também o definisse.
Faltou-lhe, talvez, o mesmo que falta ao mundo que agora o esquece: a noção de que o espírito humano não pode ser reduzido à lógica da utilidade, da adaptação ou do sucesso. Em Mário de Sá-Carneiro, essa ausência foi fatal; em nosso tempo, é apenas sintoma de uma decadência silenciosa que se arrasta e se infiltra nas paredes e tetos que envolvem a alma, convidando não ao voo, mas à queda sem retorno possível.
Sua obra, agora republicada agora sob o título Verso e prosa, permite ao leitor atento traçar a rota de um autor singular, em constante batalha consigo mesmo e com o mundo que o cercava. Um embate que talvez tenha sido encarado com as armas erradas. Tivesse o poeta não sucumbido aos tentáculos externos que o estimularam à tragicidade e prestado mais atenção à incompreensível saudade que o assaltava, talvez percebesse que essa nostalgia poderia não se referir apenas a um retorno a um eu dilacerado, fragmentado e esquecido em um labirinto, mas a um chamado para a viagem de retorno à origem primordial e pela qual valesse a pena lutar.
No entanto, essa é apenas uma suposição, e nunca saberemos de fato o que teria sido ou não diferente. O que me resta é apenas especular sobre a vida alheia com as escassas e bastante limitadas chaves que tenho à minha disposição, a partir do conforto da minha poltrona.