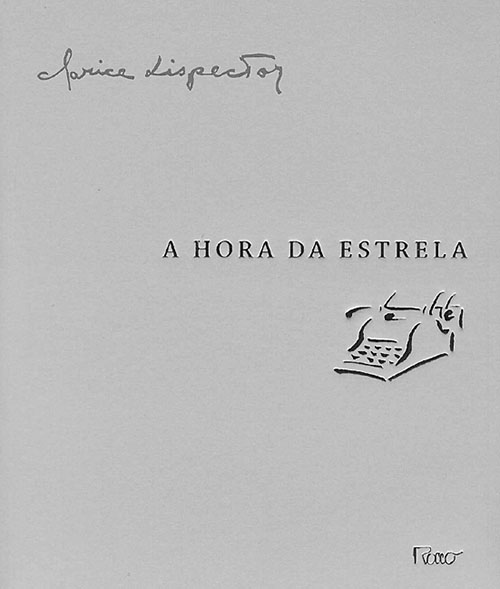Até seu último romance, A hora da estrela, publicado em 1977, o mesmo ano de sua morte, Clarice Lispector lidou, sem descanso, com a impotência das palavras. “A minha vida mais verdadeira é irreconhecível , extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique”, ela adverte mais uma vez no terceiro parágrafo de seu livro de despedida.
Ao longo das duas primeiras páginas, quem narra A hora da estrela é alguém que pode ser, ou parece ser ainda Clarice Lispector. São páginas duras, de advertência, que previnem o leitor a respeito da fragilidade da literatura e, em conseqüência, do livro que começa a ler.
Mas logo Clarice cede o corpo a um personagem. “A história — determino com falso livre arbítrio — vai ter uns sete personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro”. Então, se duplica em Rodrigo S. M., o “autor” da narrativa que o leitor passa a ler.
Desdobrar-se em um homem — um nordestino duro, sem ilusões, para quem a vida é apenas, e só, aquilo que realmente existe — é um recurso de que Clarice se vale na esperança de ser mais objetiva. De desvencilhar-se da literatura, dela fazendo só uma via de acesso ao real.
Diz-se, de fato, que A hora da estrela é o mais “realista” dos romances de Clarice. Mas quem faz essa afirmação cai, por certo, na armadilha de Rodrigo S. M., o narrador. Aqui se deve pensar se o S. M. que lhe serve de sobrenome não sintetiza o “Sua Majestade”. Ironia de Clarice, nesse caso, com a falsa majestade que cerca a figura do escritor e cujos fundamentos ela sempre combateu.
A literatura era, para Clarice, um fardo, que vinha de fora e cujo peso devia suportar. O escritor, em conseqüência, é um sofredor, alguém que luta sem tréguas com a palavra, apesar de condenado, desde a primeira frase, a fracassar. Ele se vê como um domador de palavras, enquanto tolera as palavras que a ele se impõem. Uma frase de Medeia, a feiticeira da mitologia grega que inspirou Eurípides, resume o drama de quem escreve: “Continuo sendo o que era: um vaso cheio de um saber alheio”.
Graças à bem-sucedida adaptação para o cinema dirigida por Suzana Amaral, A hora da estrela se tornou o livro de Clarice mais conhecido. Muitos o consideram, também, o surgimento (tardio) de uma “nova” Clarice, menos introspectiva e mais objetiva, figura que a morte teria abortado.
A luta de Rodrigo S. M para se aferrar aos fatos é, contudo, ela também fracassada. A impressão de objetividade se acentua pela escolha do personagem, Macabéa, uma datilógrafa nordestina que, perdida no Rio de Janeiro, leva uma vida banal, vazia, que mal-e-mal sustenta um romance.
Mas é justamente esse vazio, tedioso, que interessa a Clarice; e não as supostas qualidades de Macabéa para dar conta, ou para simbolizar algum aspecto do real.
É verdade, A hora da estrela lida com zonas débeis e banais da vida que Clarice Lispector, em geral, deixou de fora. “Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita”, Rodrigo adverte. E mais à frente: “Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira, respira”.
Contudo, as dificuldades que Rodrigo S. M. encontra para narrar são muito graves e aniquilam qualquer aventura objetiva. A crua Macabéa é uma mulher tão alheia ao desassossego que define a literatura que, como personagem, se torna inalcançável. Não sabia que era infeliz. Não fazia perguntas. Para ela, o mundo “é assim porque é assim”.
Como fazer literatura de alguém tão oco? De uma mulher tão previsível e crédula? Macabéa “acreditava em tudo o que existia e no que não existia também”, Rodrigo afirma. Sem se dar ao luxo da dúvida, apenas sendo, se torna, contudo, preciosa.
Retratando a objetividade vazia de Macabéa, é a idéia do objetivo que Clarice desnuda. Mesmo agarrando-se aos fatos como a um bote salva-vidas, também Rodrigo é estranho a si mesmo. “Pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim”, diz. A futilidade do real revela, por contraste, e a contragosto, os aspectos irreais do próprio real.
Rodrigo S. M. sabe que leitores sóbrios e metódicos não entrarão em sintonia com seu relato. “Se houver algum leitor para essa história, quero que ele se embeba da jovem assim como um pano de chão todo encharcado”, sugere. O ato de ler, adverte, assemelha-se à embriaguez.
O francês Roland Barthes dizia que “a literatura é história e resistência à história”. É o que se passa em A hora da estrela; o miolo do livro não é só a história de Macabéa, mas também o modo como essa história resiste aos esforços “literários” de Rodrigo S. M.. Há um combate que não se resolve; uma luta — uma dança — que é a própria literatura.
Rodrigo S. M. tem consciência de que narrar é rondar “o segredo inviolável da vida”. Esta ronda — como no rondó, composição musical em que um mesmo episódio sempre retorna — conduz sempre de volta às palavras, e nunca ao objetivo. Isso, rondar o inviolável, é a literatura.
Macabéa, a nordestina, gira em torno de perguntas que não se respondem, ou que produz respostas que se limitam a repetir as perguntas. Sempre que saía do trabalho, diante do crepúsculo, “constatava que todos os dias à mesma hora fazia exatamente a mesma hora”. Há alguma coisa a respeito da forma circular do tempo e da própria narrativa que Macabéa, na sua inocência, aponta.
Ao lado do namorado, o metalúrgico Olímpico de Jesus, ela admira a vitrine de uma loja de ferragens e só lhe ocorre dizer: “Eu gosto tanto de parafuso e de prego, e o senhor?” A realista Macabéa denuncia, a cada página, a brutalidade dos fatos; desvela o modo como, limitados a uma existência solar e literal, ainda assim somos sempre espantosos.
“Não sei o que está dentro do meu nome”, Macabéa diz a Olímpico, admitindo o estupor que a invade quando pensa em si. Idéias banais e inúteis, que levam Rodrigo S. M. a desabafar: “Ah que história banal, mal agüento escrevê-la”.
Rodrigo admite, muitas vezes, seu cansaço. Se ainda continua a escrever, é porque nada mais tem a fazer no mundo. Daí a náusea diante da escrita — não só no sentido de ânsia, mas de repugnância. No entanto, quando decide descansar por três dias de seus manuscritos, se sente “despersonalizado”. Uma tese de Clarice se reafirma: o escritor “é” o livro.
Macabéa, que desejava ser Marylin Monroe, recebe do destino um desfecho luminoso, não no sentido nobre previsto por uma cartomante, mas no sentido banal, dos fachos de luz que, repetitivos, iguais, cortam uma avenida. É afogada na luz que Macabéa termina, hiper-exposta pelo esforço de Rodrigo S. M., e, ainda assim, enigmática. “A verdade é sempre um contacto interior inexplicável. A verdade é irreconhecível”, Rodrigo medita.
O fracasso o acompanha até o fim do romance, e vai muito além da má sorte de Macabéa. Ruína que não só constitui sua narrativa, mas que é a matéria da literatura de Clarice.