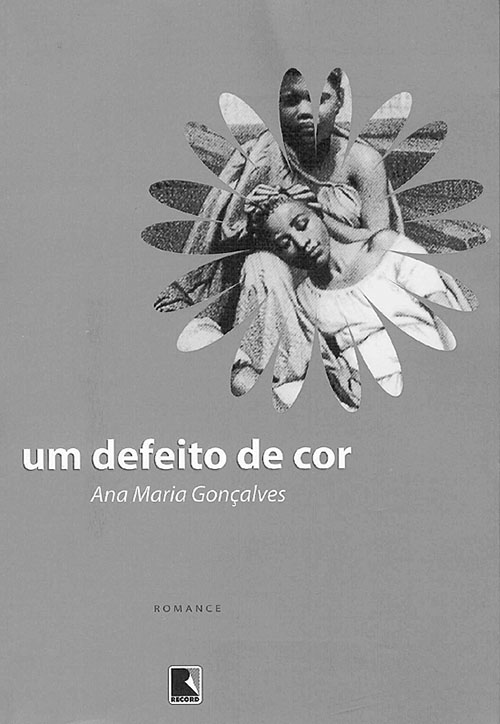Há livros que contam uma história legal. Há outros que contam a História (aquela que realmente aconteceu) de uma maneira bacana. Há poucos que conseguem juntar ambas de uma forma agradável e capaz de tornar a leitura um ato de prazer e de aprendizado. Quando o autor realiza esta mágica, estamos diante de um livro que vale a pena ser lido, pois ele nos enriquece e nos torna melhores. Este é o caso de Um defeito de cor, romance de Ana Maria Gonçalves, uma epopéia de qualidade desta escritora mineira quase estreante.
O romance tem muitos méritos. Volto a dizer que o principal é unir as duas histórias, a maiúscula e a minúscula, em uma trama atraente, envolvente e que nos gruda ao livro, sem em nenhum momento parecer pedante, pelo grande volume de informações históricas a que temos acesso, nem fantasioso demais. Ficamos grudados porque queremos descobrir o que aconteceu com as protagonistas principais, com o ambiente ao redor, quais as conseqüências desses atos e atores na nossa História. Enfim, o que isso tem a ver conosco. E o principal: tudo isso foi verdade? A autora nos conta que há uma pesquisa grande sobre o tema do livro, mas há também partes inventadas. Neste caso, nossa dúvida é saber o que foi inventado e o que é ficção, pois extraímos o prazer da redescoberta da nossa História e da descoberta da história da personagem.
A trama de Um defeito de cor abrange um período da História do Brasil muito agitado, cheio de acontecimentos que até hoje influenciam a nossa vida, e que ainda oferece muitas possibilidades para os historiadores. A trama é contada em primeira pessoa por Kehinde, africana nascida em Savalu, na África (atualmente, Savalu está em Gana), capturada ainda criança para ser dada de presente a um comerciante branco e logo transformada em escrava e mandada ao Brasil. Kehinde nos conta sua história, primeiro como escrava e depois como liberta no Brasil, seu retorno à África e outros fatos que não valem a pena ser escritos agora para não tirar a curiosidade do leitor. O período temporal coberto pelo livro vai de 1810, ano de nascimento de Kehinde, até mais ou menos 1890, um pouco depois do fim da escravatura no Brasil. Ah, Kehinde é uma Mulher com M mais do que maiúsculo, ela é aquela mulher que afasta os homens por saber que é 100% independente deles, tão segura de si que consegue amedrontar os homens que não o são. E ao longo do livro ela encontrará vários bundões assim.
O que chama a atenção logo no começo do livro é a história da própria Ana Maria, de como ela chegou até Kehinde e de como o livro e a trama nasceram. Sem medo de se expor, a autora nos conta que a primeira idéia partiu do trabalho de Jorge Amado sobre a cidade de Salvador e arredores, chamado Bahia de Todos os Santos — guia de ruas e mistério, encontrado em um momento particularmente ruim na vida da autora. O livro literalmente caiu em suas mãos enquanto ela procurava informações sobre Cuba. Lendo o guia, Ana Maria chega a uma passagem que lhe intriga, sobre a Revolta dos Malês, um pedaço mal contado da história de Salvador e do Brasil. Os malês eram em sua maioria negros de fé muçulmana que foram trazidos ao Brasil durante o período da escravatura, e escravos dos mais disputados por serem cultos e educados, muito mais bem instruídos que a maioria dos portugueses. Por isso, os malês tinham funções importantes, que exigissem a capacidade de ler, escrever e calcular. A revolta dos Malês foi muito curta e malsucedida. Mas o efeito da sua leitura em Ana Maria foi longo, a ponto de fazê-la decidir morar em Salvador. Lá ela pesquisa mais a fundo sobre os malês e acaba descobrindo um tesouro, que é a história de Kehinde. E como acho que Ana Maria foi sincera em sua introdução, a autora também se inclui entre as mulheres com M maiúsculo.
Há vários fatos notáveis nessa história (talvez não para quem estude a fundo a História do Brasil e da escravatura, mas com certeza importantes para compreendermos muitas coisas a respeito de nosso país). Há algum tempo é sabido que os negros trazidos como escravos para o Brasil não foram nem um pouco bem tratados, que os senhores brancos foram capazes de barbaridades atrozes (algumas delas retratadas com bastante fidelidade no livro, e por isso apavorantes), que a Santa Igreja Católica se omitiu durante todo o tempo em que houve a escravatura, que as diferentes tribos e nações negras na África também escravizavam seus inimigos para vendê-los aos traficantes para enriquecer, que os ingleses ganharam muito dinheiro tanto com o tráfico de escravos como com a proibição dele, enfim, o que já é bem conhecido é bem conhecido.
Olhar escravo
Novidade (pelo menos para mim) é ver a vida contada a partir do ponto de vista de uma escrava que, com o esforço próprio e uma dose de esperteza, consegue comprar a própria liberdade. Kehinde nos conta da vida de escravo primeiro em uma fazenda na Ilha de Itaparica, depois como escrava em São Salvador, e depois como liberta em vários lugares do Brasil. É por meio dela que conhecemos o trabalho dos escravos a ganho, que trabalhavam no lugar dos seus senhores brancos (pouco afeitos à vida dura). Conhecemos também as confrarias organizadas pelos negros, uma espécie de consórcio moderno que existia unicamente para comprar as cartas de alforria dos escravos, em que todos contribuíam com uma quantia para no futuro poder comprar a liberdade. Kehinde nos fala da Revolta dos Malês e de sua participação nesta trama. Aprendemos ali que os africanos que ficaram na Bahia cultivaram o candomblé, e os que foram ao Maranhão desenvolveram o culto aos vodus. Descobrimos que na Bahia os crioulos (os filhos de brancos com negras) não se misturavam aos negros, por já se acharem brancos, enquanto que no Rio de Janeiro esta mistura não havia. Aprendemos que a capoeira se chamava capueira e era mais forte no Rio que na Bahia no século 19. Descobrimos que muitos negros, após deixarem a condição de escravos, assumiram o papel de sinhô e escravizaram outros negros. Relembramos que os brancos pobres achavam indigno trabalhar e que por isso preferiam ficar mendigando. E, surpresa, que a maioria dos negros que voltava à África após conseguir a liberdade se arrependia, pois suas terras não se desenvolviam, as guerras entre as tribos continuavam e que muitos preferiam voltar ao Brasil como escravos a permanecer como libertos na África. Ah, e que todos os negros que voltavam à África eram chamados de brasileiros, independentemente de terem ou não nascidos no Brasil, e que eram vistos por todos como bons trabalhadores, como empreendedores.
Tudo isso é contado de uma maneira leve, solta, sem a pretensão de ser uma aula de história. Há sim seus momentos de História, principalmente quando Kehinde volta à África e conta detalhes da vida do Continente Negro. Mas há muitos momentos de antropologia, principalmente quando Kehinde descreve as várias celebrações religiosas, não apenas de origem africana, mas também as católicas. Kehinde é uma típica sincretista religiosa, pois pega os melhores aspectos de todas as religiões para expressar a própria religiosidade. Ela também nos ensina que algumas religiões africanas sofreram transformações no Brasil, pois para cá vieram os aprendizes, não os sacerdotes, e que algumas se modificaram na África, pois vieram como escravos os sacerdotes, ficando apenas os aprendizes.
Enfim, a história de Kehinde — e sempre lembrando que um pedaço desta história é verdadeira — é um retrato bastante abrangente da vida do negro brasileiro daquele tempo. A própria Kehinde nos conta com espanto que havia naquela época muitas maneiras de um negro conquistar a liberdade, além da fuga, e que muitos não se importavam em descobrir isso. Ela conta também que saber ler e escrever não era valorizado, pois a que serviria?, e que o fato de ela ser negra, saber ler e escrever em português e em inglês e ter seu próprio negócio ainda com 20 e poucos anos era visto como algo inacreditável, quase até insuportável por algumas pessoas.
Ana Maria concentra a maior parte da história de Kehinde em sua vida no Brasil, deixando as quase 200 páginas finais para a trajetória da protagonista na África, para aonde ela vai adulta. A estrutura do livro é boa e prende a atenção do leitor, fazendo com que ele queira chegar logo ao seu desfecho. Isso porque, como ele é narrado em primeira pessoa e é ditado quando Kehinde já está avançada na idade, a autora/Kehinde vai dando aqui e ali algumas dicas do que lhe acontecerá, do que vem pela frente. Mesmo a profusão de personagens que povoam o livro não atrapalha a sua leitura, pelo contrário, temos nessa miríade um mosaico abrangente da vida dos escravos e ex-escravos do século 19. Em alguns momentos, a linguagem escolhida pela autora é um pouco cansativa, como se ela quisesse imprimir à narradora da história um tom mais infantil, ou um tom de alguém que conta histórias bem oralmente, mas não tanto quando escreve. Nada que prejudique a qualidade da obra, mas é um detalhe que de vez em quando incomoda. Como a autora explica, ela tomou a liberdade de pontuar o texto que no original era bastante corrido, sem pontuação e quebra de linhas ou parágrafos. Outro ponto que talvez incomode os leitores é que toda a história de Kehinde parece se encaixar em uma seqüência de resultados positivos, aparentemente inalcançáveis para alguém com a sua origem. Isso é apenas uma impressão, pois se o leitor prestar bem atenção, verá que ela teve que lutar sempre, e sempre teve vários motivos fortes para não conseguir alcançar a felicidade plena.
Ah, quase ia me esquecendo. Se tudo o que for dito no livro for verdade (e que as partes inventadas não comprometam a história), Kehinde pode ter sido a mãe de um menino que nasceu livre, filho de uma união entre um branco e ela, foi vendido ilegalmente como escravo, mais tarde se tornou um dos principais poetas românticos brasileiros, um dos primeiros maçons e um dos mais notáveis defensores dos escravos e da abolição da escravatura, atuando como advogado. Mas como a autora nos alerta, a existência de Kehinde não está comprovada. As histórias que foram encontradas pela autora podem muito bem ser uma lenda inventada por esse mesmo filho, que da mãe só tinha as lembranças vividas com ela até os seus sete anos.
Chegando ao fim do livro, você verá que pouco importa se tudo é verdade ou não. Ambas as histórias, a do Brasil e a de Kehinde, são sensacionais, merecem o H maiúsculo com direito e louvor. É um trabalho respeitável o de Ana Maria, que vale a pena o tempo investido em sua leitura.