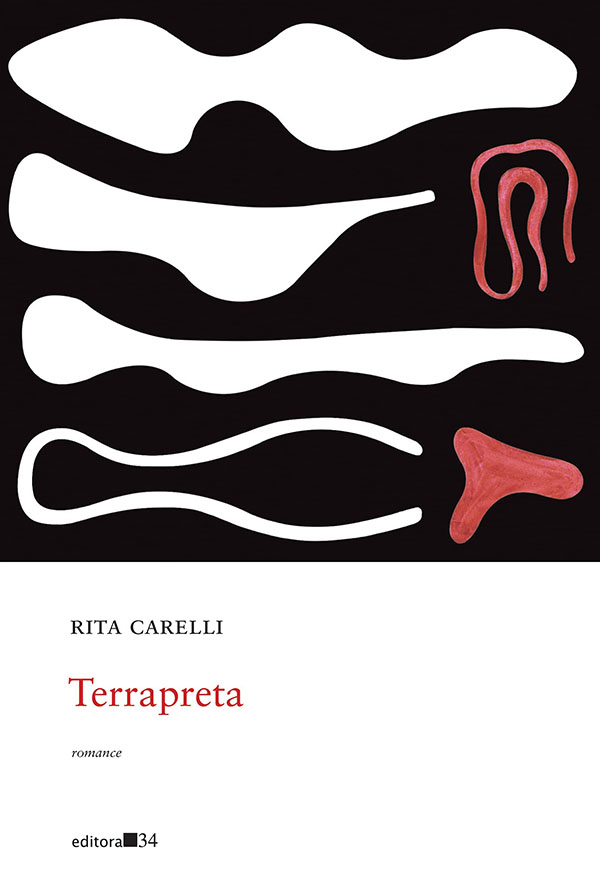Na primeira parte do romance Terrapreta, chamada Tempestade, há o seguinte trecho:
Ali, no Alto Xingu, as meninas entram em reclusão depois da primeira menstruação e só saem no Kuarup, a grande festa dos mortos que acontece entre julho e setembro. Se a menina ficou menstruada em abril, ou maio, ótimo, ela deve sair em agosto, mas se menstruou em junho ou julho, por exemplo, o período de reclusão pode ser considerado insuficiente para o aprendizado e ela só sairá na festa do ano seguinte.
Entre os indígenas retratados no romance e a nossa cultura, de origem portuguesa e europeia, há um fosso quase instransponível. Outra referência no romance é a falta de conexão da cultura urbana, predominante no Brasil, com a cultura desses brasileiros autóctones, tão difícil de ser aceita por uma parte considerável da população. Caso não fosse assim, teríamos muito mais a aprender: “Na mata todas as referências se perdem, tudo o que você pode ter aprendido na vida urbana torna-se inútil e, uma vez perdida, mais cedo ou mais tarde vai acabar se dando conta de que está andando em círculos”.
Aqui, já dá para perceber que em matéria de sobrevivência física e espiritual, a cultura branca não supera a das civilizações indígenas. Falta-nos conhecimento para lidar com a natureza, com suas manifestações favoráveis ou contrárias aos seres humanos. Alguém poderia perguntar se este é um romance-tese sobre culturas indígenas. Não, não é esse o foco da narrativa, não é apenas isso o enredo, mas serve para mostrar que não se pode hierarquizar culturas. Em consequência, não se pode menosprezar nenhuma delas, com invasões às suas terras ou alimentando o fogo que incendeia suas florestas.
O livro, no entanto, vai além. A cultura indígena, tão defendida no texto, é também o pretexto para uma boa história, quase uma aula de como deve ser este gênero chamado romance.
Perdas e ganhos
O livro inicia-se tendo como foco uma adolescente de quinze anos que, alguns quartos de hora após chegar à escola, recebe a triste notícia de que sua mãe (que ainda havia pouco a transportara de carro) está morta. O motivo: um enfarto fulminante. Daí em diante, a vida da menina muda radicalmente.
A narrativa transita entre São Paulo, o Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, e Paris — cidade onde, dez anos depois, Ana está estudando na Sorbonne. Em cada um destes trechos, encontram-se muitas questões. A primeira delas é sobre perdas.
A adolescente morava com a mãe, tinha sua escola, uma vida organizada; de repente, tudo vem abaixo, precisa abandonar até mesmo sua cidade. Passa a morar com o pai, um homem meio nômade, um antropólogo que faz pesquisas de campo para a universidade. Ele a leva para o Xingu, onde os dois vivem durante um período. Neste ponto, as perdas observadas são da cultura indígena, cada vez mais espremida territorialmente pela ambição dos fazendeiros. Mas, pelo menos para Ana, há ganhos. Ela passa a ter uma experiência sobre a qual jamais imaginava.
A descoberta da vida em meio à natureza, pouco a pouco, desperta na jovem, reflexões e sentimentos novos. Como é possível a vida numa aldeia indígena, os nativos dominando a natureza com seus próprios saberes, muitos deles milenares?
Dicotomias
A autora nos apresenta, a partir deste momento, muitas histórias, os costumes e soluções que os indígenas possuem, muitas vezes superiores aos dos habitantes das cidades, presos a convenções que, na maioria das vezes, entendemos como verdades quase absolutas.
Várias dicotomias são apresentadas. Além do contraste entre aldeia e cidade, há a oposição entre vida e morte, entendida pelos nativos de um modo muito diferente da que estamos acostumados. Não demora, Ana descobre suas fraquezas, a vida vazia que levava até então, e passa a admirar os habitantes locais. Eles, apesar de muito parecidos com ela, surpreendem-na a todo momento.
Importante nesta altura do campeonato, em pleno século 21, a consciência da necessidade de preservação das florestas. Nos arredores do parque, os rios transformaram-se em filetes d’água, a pesca para as tribos é insuficiente, os animais desaparecendo e a vida das populações autóctones tornando-se quase impossível. Tudo isso em meio a um governo que estimula a destruição da natureza, não aplacando os incêndios, fazendo os índios aguardarem em vão pela chegada dos bombeiros.
Espírito e cultura
O romance é composto em três partes, havendo a inserção de um diário escrito por Ana durante sua estada no Xingu, esquecido por lá e recuperado muito tempo depois, quando está na França.
Outro ponto positivo na narrativa é a delicadeza. Ela permeia toda a história, proporcionando ao leitor a participação num universo pleno de afetos. No Xingu, apesar de viverem culturas diferentes, Ana consegue transmitir seus sentimentos aos novos amigos, pessoas com quem consegue relacionar-se num campo de sentidos que transcende as palavras. Por outro lado, quando está estudando em Paris, não tem a mesma troca com o namorado local, apesar de pertencerem à mesma cultura e de viverem sob situações semelhantes.
É possível que a questão principal do livro seja esta relação, tão primordial, que é mais fácil de ser estabelecida pelo espírito do que pela cultura que vem no rastro das palavras. As crianças indígenas falam uma língua que não entendemos, só então descobrimos que somos todos estrangeiros.
Muitos anos depois, no momento em que seu antigo diário chega pelos correios, o Kuarup aproxima-se e Ana quer voltar para o Xingu, deseja participar da festa do rito funerário dos índios locais. Louvam-se os mortos encaminhando-os para suas verdadeiras moradas, mas ao mesmo tempo aprende-se que a vida precisa continuar. E não seremos nós, homens e mulheres da cidade, pessoas de outras origens, com nossas certezas urbanas enraizadas, que estaremos em condições de dar a direção.
Então, retornamos ao início, com as moças reclusas e seus ritos de iniciação, de aprendizado, de busca pela sabedoria. A literatura, o período de gestação de um livro, pode ser comparado ao exíguo espaço físico de reclusão e ao longo tempo de espera, no qual escolhas e reflexões são gestadas e se busca o melhor de si para um futuro diálogo surpreendente com o mundo.
Rita Carelli estreia no gênero romance conseguindo o que é fundamental nesta arte tantas vezes desvirtuada pelos próprios escritores. A autora não se prende a invencionices de primeira ordem; ao contrário, traz à tona uma história sensível, bem-organizada, que se desenvolve para o prazer do leitor ávido por boas narrativas. Ao mesmo tempo, apresenta questões da nossa época, este período sombrio, em que ainda se exige a literatura como missão.