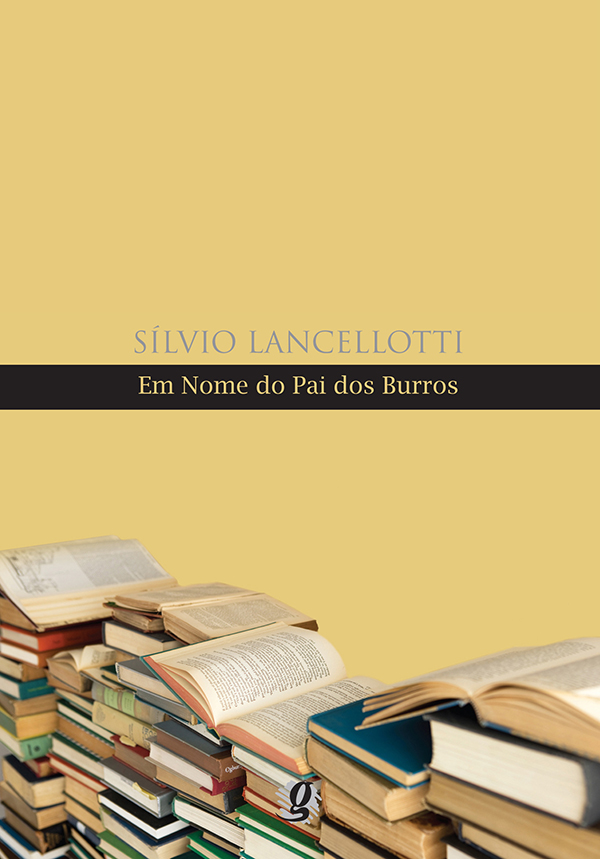Se pudesse saber, o incauto leitor começaria pelas últimas dez páginas desta obra, o que lhe economizaria grande esforço para enfrentar este calhamaço com outras 460. O fato é que Sílvio Lancellotti, sem nenhum apreço pela linearidade nem desejo de contar uma história coesa, fragmenta o texto em vários capítulos, com os quais monta um quebra-cabeça de gêneros literários ou paraliterários bem como de focos narrativos e de identidade dos protagonistas. Explico melhor: o texto exercita, ao bel prazer de seu criador, uma grande variedade de modos de narrar: da literatura intimista ao roteiro; da missa católica à bula de remédio; do ensaio à paródia, etc. E quando se aproxima de uma narrativa ficcional — demanda de um pacto sério com o leitor —, Lancellotti cruza a primeira e a terceira pessoas: ora o protagonista Marcello é narrado por outrem (não se sabem quem até o final), ora se debruça no solilóquio da narrativa memorialista.
O único fio a que se pode apegar o leitor é a existência de um editor, Marcello Brancaleone, e a certeza, ratificada, de que toda a narrativa ocorre num único dia: 13 de outubro de 1977. Ou seja, há 35 anos. Naquele dia, relembra o autor logo no início da obra, Geisel exonerava o general Sylvio Frota do cargo de Ministro do Exército, talvez início do fim da ditadura (Lancellotti se apoiou em cobertura da revista IstoÉ). E o Corinthians, depois de um jejum de 23 anos, vencia, renascido, o Campeonato Paulista daquele ano. São dois fatos sem relação entre si, sendo apenas o último crucial para o protagonista, alvinegro fanático.
Esse estreitamento temporal faz supor, ou assim o quer o autor, uma influência da estrutura de Ulysses, de James Joyce — especificamente na tradução de Antônio Houaiss (aquela primeira, que lemos na década de 1970). Além disso, surgem apropriações de Machado de Assis. E a criação de extravagantes neologismos lá e cá sugere que relembremos a estrutura frasal de Guimarães Rosa.
São poucos os autores que se dão a coragem de ombrear-se com gigantes como esses. Entretanto, tendo lido toda a obra, não consegui ver nesse dia de prosaicas atividades de Brancaleone nenhuma semelhança com o longo dia de Leopold Bloom e Molly nem a seminal estrutura lingüística criada por Joyce, recriando o mito no início do século 20.
A obra narra o dia de um pequeno (mas bem-sucedido) editor, casado com Alexandra, ex-ativista de “esquerda”, grávida e paciente dona de casa. Marcello também tem uma amante fixa, Luciana, que aparentemente lhe importa apenas pelo sexo vigoroso e subserviente. A esposa desaparece depois das primeiras páginas e dela só saberemos que fora politizada e atuante e que usa a gilete do marido para depilar as pernas. O pai italiano de Marcello lhe aparece como memória e interfere (como sói acontecer) na vida e nos valores do filho: é inculto, mas sabe ler Dante. Homem irônico, agressivo e atormentado, Brancaleone mantém um vínculo muito estreito e debochado com seu editor-assistente, Tony, que é quem, afinal, leva a editora nas costas. Marcello, praticamente o dia inteiro embriagado, tolera uma tediosa reunião com o “conselho editorial” (rala ironia aos intelectuais universitários e seus jargões), almoça com seu assistente, visita a amante no meio do dia, encontra-se com outros executivos num bar e, à noite, assiste ao jogo do time do coração com a esposa e uns jornalistas que desejam entrevistá-lo.
Recursos sem estranhamento
Permanente na obra é nossa velha conhecida metalinguagem, pois a grande questão de Marcello é a impotência para escrever um romance que — de alguma forma — será o romance que o leitor tem nas mãos (estratégia nada nova, A moreninha que o diga, mas curiosamente presente em ao menos três outros finalistas do mesmo Prêmio São Paulo 2012). O fracionamento de modos de narrar entoa com a metalinguagem um texto “experimental”, conceito já conhecido e repetido há muito tempo. Não se vêem vozes contemporâneas na obra.
Ao leitor caberá deglutir todo o excêntrico escrito para saber, ao final, que o ambíguo e passional Tony, além de braço direito, é uma espécie de ghostwriter de Marcello, e, por amor ao chefe, leva adiante e às escondidas a obra inacabada. Fosse hoje, Tony seria um assumido editor gay, muito engajado, e não se daria com certeza tal trabalho.
Este romance poderia ter obtido maior valor na construção se usasse, à maneira de Joyce, o rico mergulho no monólogo interior, estratégia que não alcançará na tipificação das personagens:
— Porra, cazzo, Marcello! Hoje é quinta-feira. Depois do almoço temos uma reunião com o conselho editorial. Já esqueceu, ou tá maluco mesmo?
Sim, Marcello havia esquecido. Ah, uma idéia fulgurante de Tony.
[…]
Riso manso. Alexandra. Sabe, você me dá sentido. A fotografia. É, é, até na fotografia, sabe? Eu te amo e eu te amo e eu te amo. Marcello constatou que ainda não delirava. Sede.
Ao contrário, a construção do protagonista instável padece de entusiasmada simpatia do narrador, que acaba lhe conferido múltiplas qualificações, como o faro editorial, a prosperidade financeira e o sempre elogiável vigor fálico: “Talvez jamais escrevesse o seu livro. Mas sabia foder, e como um gênio.” “Livre da cueca, a sua arma poderosa e dominadora apontou contra o céu e Luciana, desesperada pelo delírio, se apossou dela e começou a chupar”.
Para que a narrativa se encaixe e se reconheça na década de 1970, o autor a pincela com várias marcas do tempo que parecem dados menores de época: Prestobarba, Cepacol, revista Placar; até o papa João Paulo II, (eleito em 1978, um ano depois deste enredo) aparece com seu nome polonês, padre Wojtilla.
Ocorre que esse deslocamento ao passado parece não se costurar, soa gratuito. A editora de Marcello, por exemplo, é de um modelo enxuto e terceirizado que, salvo engano, não existia ainda nos anos 1970. Nenhum conselho editorial se reunia com tanta regularidade e pompa para analisar “novos contistas”. Ainda somos editorialmente pequenos, porém éramos, na época, um nascente mercado editorial muito tímido. Não havia o glamour hoje atribuído a este ou aquele editor — profissão da qual pouco se falava. Marcello Brancaleone usa diariamente gravata e abotoaduras, veja só. Nem o grande Ênio Silveira, da Civilização Brasileira, era tão dândi. Pergunto-me também se a “polifonia da Bakhtin” por Marcello citada era coisa da época, para além do estruturalismo vigente.
O que parece é que Sílvio Lancellotti, com a liberdade autoral que conquistou, foi escrevendo a obra ao longo do tempo (quem sabe uma especularidade do romance inacabado de seu personagem). E com raro prazer, diverte-se hoje, usando-a para ironizar, citar ou divertir amigos e interlocutores. Aliás, o leitor desavisado depara com uma paródia nominal de famosos (ainda hoje) comentaristas da Rádio Jovem Pan e com a citação de boa parte da intelligentsia cara à vida paulistana (“Antonio Suavecandido, Tom Jobim, Bandeira, Gide, Antonio Callado”).
Por mais que queira tanger o “leitor de mente aberta”, como invoca a orelha da obra, não há como ignorar o cansaço das gratuidades no texto, tais como a representação de uma família da alta burguesia, cujo patriarca é mostrado como um poltrão sem “colhões” — o qual a mulher, detestável, faz de vítima. Certamente Lancellotti deseja ironizar as “classes dominantes” dos anos 1970 (que hoje ecoam como figuras caricaturais), mas o faz de um patamar pouco provável, descrevendo, incansável, a vida na mansão dos Cintra do Prado onde a “fiel e eficiente Brasília arranjara os talheres, obviamente inoxidáveis, ao lado das porcelanas do almoço”.
Entre as descosturas narrativas, pesa-se a mão, infelizmente, em neologismos por justaposição que, a despeito das intenções do autor, não ecoam para além da frase em que são criados.
Trabalha, trabalha, negralva, Maria pensa na patrona que comorava as suas primaveras, ou os seus verões. […] Medroga de vida… Marianada, a distribuir a talheraat, e a procenhoura, as garfacas e os colheropos, xicrires e blodolendos, incríveis guradanapicos.
A obra parece ser, afinal, o registro do caldo de cultura em que se debruçou o autor nesses anos todos de atuante presença na mídia. Até um suposto escritor de má fé, de quem todos seriam personagens (um tal de Fúlvio Panzerotti), é quase parônimo ironizado de “Sílvio Lancellotti”, que se lança, assim, como autor, protagonista e antagonista de si mesmo. A “culpa” autoral, pobre Tony, vai cair sobre ele, o mais coeso personagem da obra, que dirá:
Os meus personagens não passariam de um pretexto são para a minha ambiciosa e petulante homenagem ao prazer santo e sagrado da literatura.
Sem um enredo que o sustente, apenas com amor pelas palavras, o romance (seria um romance?) se dilui na descrição excessiva e, sobretudo, no uso não intencional dos clichês. Para um leitor que depara com estes símiles, o efeito é tedioso, quase embaraçador: “seus cabelos sempre lisos e absurdamente loiros, a deslizarem pelo seu rosto com a elegância de um risco de Picasso […] lábios de amante insaciável”; “… uma nova imagem daquela megalópole que adorava e odiava ao mesmo tempo”; “Tinha mais de 70 — mas refletia a aparência de um guerreiro”; “Marcello impregnou o ar com o cheiro agridoce do fascinante tabaco estrangeiro. E se acalmou, lasso”; “por minutos que valeram milênios, Luciana examinou com desvelo…”
Portanto, com o devido respeito ao criador desta obra, é necessário dizer que se alguém conseguiu lê-la com prazer, nunca ouviu o versátil autor comentar futebol ou cozinhar.