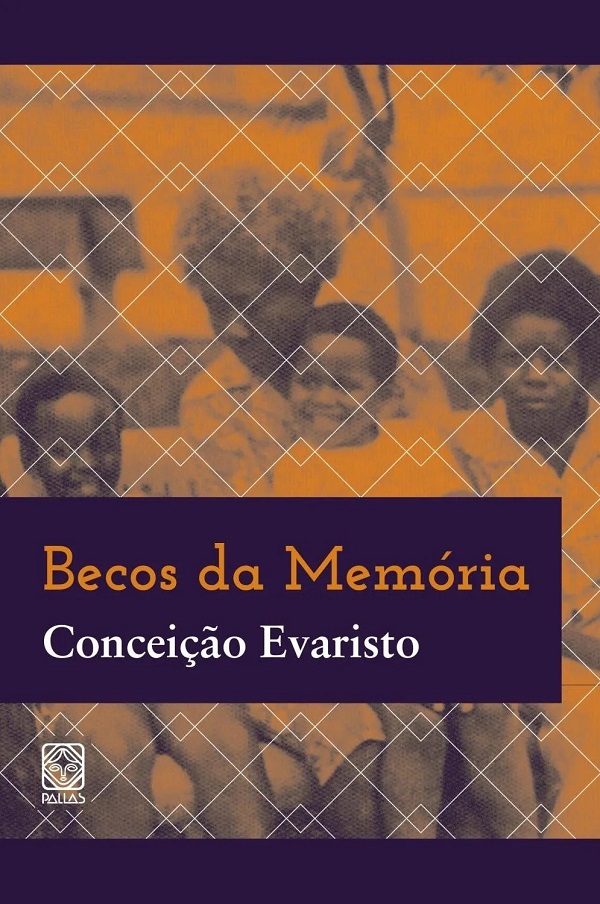“Os sonhos dão para o almoço, para o jantar nunca.” Esta é primeira sentença de Tio Totó quando consegue ler pela primeira vez. E também é a premissa de Becos da memória e Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, que escreve seus textos — como ela própria diz — a partir da sua condição de mulher negra. E, saindo desse lugar de fala, entendemos: é necessário domar nossos sonhos e, se possível, sequer tê-los, uma vez que no jantar só é viável ter espaço para fome e desesperança.
Na primeira obra, um romance de memórias que demorou 20 anos para ser publicado (o livro foi escrito nos anos 1980 e só lançado em 2006), a autora traz uma gama de personagens, cada qual com sua representatividade: as várias Marias (sendo a Nova a futura responsável por nos contar a história), o Negro Alírio que ensina a ler as letras e a realidade; Tio Totó que, envelhecendo como parte entrelaçada à sua vida pobre, nos agracia com a frase dos sonhos só serem possíveis até o almoço e sequer consegue assistir aos enormes caminhões de mudança, com meninos grandes, pequenos, “cachorros, desamparo, merda e merda”, permitindo o choro do povo como se nada fosse, graças à poeira e terra nos olhos.
Por isso, as personagens de Conceição Evaristo não têm uma vivência apenas na literatura: elas representam toda a existência negra, que precisa “soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado”, relatos claros, sempre através das letras, “para recuperar a primeira veste, pra nunca mais se sentir nu” e, através das lembranças, rememorar as trajetórias de si e dos outros, para “reconstruir a história dos seus”. Os seus que foram invisibilizados, que nunca existiram senão enquanto vencidos.
Já em Ponciá Vicêncio, temos uma busca por identidade da própria personagem-título, que não se reconhece em nenhum plano. Lembrando Imani — personagem de Mia Couto na trilogia moçambicana As areias do Imperador, que como significado de seu nome tem a pergunta: “Quem é?” e só se localiza (ainda de maneira limitada) em sua própria escrita, através de cartas e diários —, Ponciá, numa tentativa de pertencimento, grita seu nome para o próprio reflexo no espelho e nunca recebe resposta, percebe ter “um nome sem dono”.
Assim como ela, Luandi José Vicêncio, seu irmão, sonha em aprender a escrever sua alcunha, para também ser algo, para virar soldado, para ser lembrado além do sobrenome da família que pertence a algum dono de terra branco. Tornando “a história de quem não tem escrita” algo possível de se contar, para tentar trazer a ideia de permanência, apresentar a memória como símbolo para a construção de uma história, como sujeitos dessa literatura fora do estereótipo.
Ainda em Becos da memória, no posfácio, com seu texto sobre Memória, esquecimento, silêncio (1989), Michael Pollak é relembrado por, assim como o livro, debater a chamada “memória oficial”, criada por quem escreve para os livros de História, ou seja, os vencedores. Essa linha de raciocínio fica clara quando Luandi percebe que “por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia”, logo, essa história subterrânea, apagada dos livros, só poderia ser contada pelos Seus: através do faxineiro negro vendo no soldado, de sua cor, um irmão; por aquele recém-chegado maltratado pelos homens brancos; pela escritora que usa a literatura para sobreviver e, nos becos da memória do livro, usa todos estes personagens da favela para, através das palavras de Maria Nova, encontrar sua vida rememorada e sobreviver. Permanecer.
Ponto em comum
E são muitos os personagens distintos, porém ligados por um ponto em comum. É Tio Totó, já sofrido e envelhecido, perdendo a esperança com o possível fim dos barracos; é Mãe Joana que — mesmo Boa — enxerga sua comunidade em silêncio; é Negro Alírio — desde menino — defendendo a tudo e a todos da melhor maneira; é Vó Rita, tão boa alma, dormindo entrelaçada com a Outra que ninguém mais quer por perto; ou até os “homens-vadios-meninos” — em uma cena que rememora as crianças no carrossel de Capitães da areia e os meninos adultos no playground do Canindé que saem fugidos com medo de entrarem no livro de Maria Carolina de Jesus — que brincam com os tratores destruidores representando, assim, o fim de um povo já silenciado. No fim, são todos conectados pelas histórias parecidas com pedras pontiagudas sendo guardadas, pouco a pouco, para depois virarem livro. Todos eles representam a mesma miséria, o mesmo povo oprimido, que incomoda a fundo Maria-Nova ao ver tudo se repetindo, com uma ferida profunda e histórica ardida, doída e sangrenta.
Recentemente em sua coluna aqui no Rascunho, José Castello debate o papel da escrita: será mesmo a literatura uma maneira de libertação das tristezas e mazelas da vida?. Trazendo uma história da infância de Kafka, que pensava ser um criminoso (uma tradução simples e errônea da palavra ravachol), Castello conclui: “Seria a literatura um esforço inútil para controlar as palavras? Para não permitir que elas nos mordam e nos arrebentem? (sic)”. Ou seria, como diria a mal compreendida Maria Carolina de Jesus, que viveu durante toda a vida sob a alcunha de ser uma versão publicitária do jornalista Audálio Dantas, inexistente em sua própria escrita, que usava a literatura como escape, “quando a gente perde o sono começa pensar nas misérias que nos rodeia. (…) Enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo cor de ouro (sic), as horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários”.
É a busca de identidade que costura os personagens e espelha o leitor, “um diálogo entre o passado e o presente”, seco, com poucos adjetivos. É a mesma tentativa desenfreada encontrada em outros personagens clássicos de minoria, é Macabea (de Clarice Lispector) procurando seu lugar em terras paulistas; é Fabiano e Sinhá Vitória (de Graciliano Ramos) carregando sua família em um romance cíclico; é Pedro Bala (de Jorge Amado) tentando entender qual mundo é o seu. É a escrita como microfone, como alto falante para que todos — sem exceção — consigam seu espaço na história e encontrem seu próprio eu, nos fazendo ser arrastados pelo processo de lembrar.
Julián Fuks, autor de A resistência, em entrevista recente à revista Bravo!, defende essa literatura ocupada, como forma de resistir: “Nesse momento dramático é difícil para a literatura permanecer indiferente”, e continua, “ocupar tem sido o gesto máximo de resistência nestes tempos: a literatura ocupada pode ser mais um lugar para o exercício dessa luta”. Não à toa, é Conceição Evaristo quem nos lembra, linha a linha, dessa eterna relação de poder e vassalagem, que ao contrário do pensamento óbvio e linear, ainda se perpetua para a população negra que permanece “sob um jugo de poder que, como Deus, se faz eterno” e os torna escravos “do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de travar novas batalhas, de organizar novos quilombos, de inventar outra e nova vida”.
A mesma sociedade que só considera bom o clássico, ou declama que existe boa ou má literatura (ou alta ou baixa) e apaga a negritude de Machado de Assis, arranca ao invés de ter ranço. Pega o microfone na mão e declama poesia, resiste, sobrevive escreve, escrevive, ou, nas palavras de Walter Benjamin, age e sai do poder contemplativo em um lugar termo e se coloca trazendo “a esperança como bilhete de passagem”, assim como Ponciá. Porque escrever (e, principalmente, publicar) é o ato político mais visceral que você verá hoje.ra o inglês e publicada nos Estados Unidos em 2007.