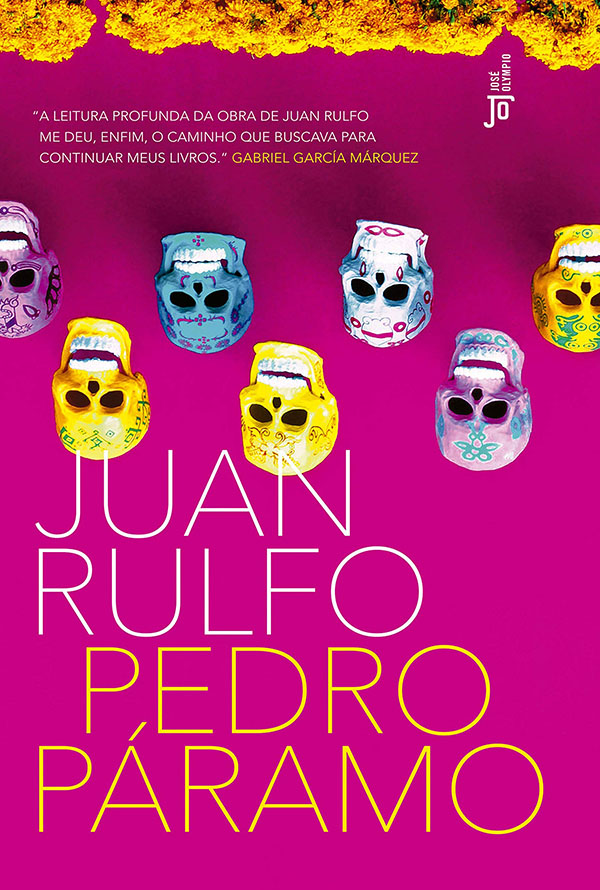Acabei de ler Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo, e me pergunto como foi possível que livro tão modificador escapasse entre as malhas das minhas leituras. Ninguém me aconselhou esse romance, nem mesmo Affonso, a quem pertence o exemplar que me caiu nas mãos — um exemplar com a folha de rosto arrancada, que pode ter sido de outra pessoa, comprado na Livraria do Estudante, em Belo Horizonte, e impresso em 1969. Tudo acrescenta sentido quando nos apropriamos de um livro através de tato, olhos e leitura.
Como diz Otto Maria Carpeaux na introdução: “Os personagens do romance são mortos e vivos ao mesmo tempo, ou antes: não há tempo”.
Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo logo que ela morresse. Apertei suas mãos (…) para as minhas mãos custou trabalho libertar-se de suas mãos mortas.
Assim começa e assim continua o mais mexicano dos romances desse país que, único no mundo, tem um culto festivo da morte. Vivos de mãos dadas com os mortos, dialogando com eles, fazendo cobranças e recebendo instruções, amando-os e sendo amados eternamente, perguntando o que os matou, se a aflição ou as murmurações, falando de enterros e flores e terra como se nada, “ruídos. Vozes. Rumores. Canções longínquas: minha noiva me deu um lenço/ com bainhas de chorar”.
Comala é uma cidade vazia, mais morta que decadente, há muitos, incontáveis, anos submetida ao comando de Pedro Páramo, agora velho e encastelado em sua propriedade Media Luna. Propriedade imensa que Pedro, homem incialmente pobre, obteve através de sucessivas apropriações de terras alheias mediante extorsão, pressão e assassinato. Quando o romance começa, Miguel Páramo, o filho reconhecido e amado, acabou de morrer numa queda de cavalo. E o animal, tendo sido sacrificado, continua galopando noite afora e escuro adentro em busca do dono. Todos em Comala ouvem o ecoar de seus cascos sobre a terra. Mas Miguel era mais feroz que seu pai. Estuprador compulsivo, mais de uma vez assassino, ninguém chorará seu desaparecimento.
Não é só a historia que impacta. É, como sempre em literatura, a maneira de contá-la.
Os diálogos surgem abruptos, em blocos, sem que por vezes se saiba quem está falando, se vivos ou mortos, e o que aquele diálogo acrescenta à história que está sendo narrada. É uma lenta tessitura, em que muitas vozes se entrecruzam como fios, sendo que algumas não são identificadas e outras têm mais de um nome. Há murmúrios fantasmagóricos nas ruas, murmúrios que podem matar, que já mataram. Há uma solidão nas casas que de repente se revelam vazias. E o vento sopra constante, pastoreando nuvens.
Um exemplo de diálogo:
— Não me ouves? — perguntei em voz baixa.
E sua voz me respondeu:
— Onde estás?
— Estou aqui , em teu povoado. Junto de tua gente. Não me vês?
— Não, filho, não te vejo.
Sua voz parecia abranger tudo. Perdia-se mais além da terra.
— Não te vejo.
Fim do bloco, fim do diálogo.
A linguagem poética e feroz expõe um mundo de oprimidos e algozes, que se reproduz acima e abaixo da terra, um mundo de ilusões que para nada serviram.
Reproduzo parte do texto da quarta capa, que se adapta como pele ao nosso Brasil tão desigual:
Este mundo que esmaga as pessoas por todos os lados, que vai esvaziando punhados de nosso pó aqui e ali desfazendo-nos em pedaços como se orvalhasse a terra com nosso sangue. Que fizemos? Por que apodreceu nossa alma?
A brutalidade e a delicadeza
Agora estou lendo Morte na água, do autor japonês contemporâneo Kenzaburo Oe, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Este romance também entrecruza vivos e mortos, memória e realidade. E acrescenta a este entrecruzar a transposição de uns e outros para a linguagem teatral, agindo como terceiro olho. Mas quanta diferença no modo de narrar!
O alter ego do autor, o também escritor Kogito Choko, quer extrair um romance da morte do seu pai por afogamento, projeto que vem adiando desde a juventude. Para isso, retira-se na casa familiar da floresta, próxima ao rio onde em noite de chuva e de lua cheia o pai meteu um bote na água, entrou nele, e acabou se afogando na correnteza. Conta, para alavancar o projeto, com uma mala de couro vermelho legada pela mãe, para só lhe ser entregue dez anos depois do seu falecimento. Ao abrir a mala, que imaginara cheia de documentos e de cartas, começa a dialogar com os mortos, que se fazem vivos novamente, e cruza coisas da vida do pai com a história do seu país. O romance que pretendia escrever, História de um afogamento, não será escrito.
Enquanto Rulfo escreve com a aspereza e a brutalidade que caracterizam os latino-americanos, Kenzaburo molha a pena na delicadeza nipônica. Mais palavrosa e menos cortante, menos surpreendente e mais envolvente, onde a poesia impera, aberta a diferentes interpretações.
Quanta diferença nos diálogos! Que no japonês se fazem longos, quase intermináveis. Basta dizer que uma personagem importante fala com o escritor, sem qualquer interrupção, ao longo de seis páginas.
Confesso minha dificuldade em avançar na leitura, depois do impacto de Pedro Páramo com sua escrita cortante. Mas a poesia me move a continuar.
São dois romances grandiosos, onde sentimentos e emoções, vivos, mortos e suas histórias se entrecruzam como fios de dois tecidos quase opostos: algodão áspero ao tato e suave seda.