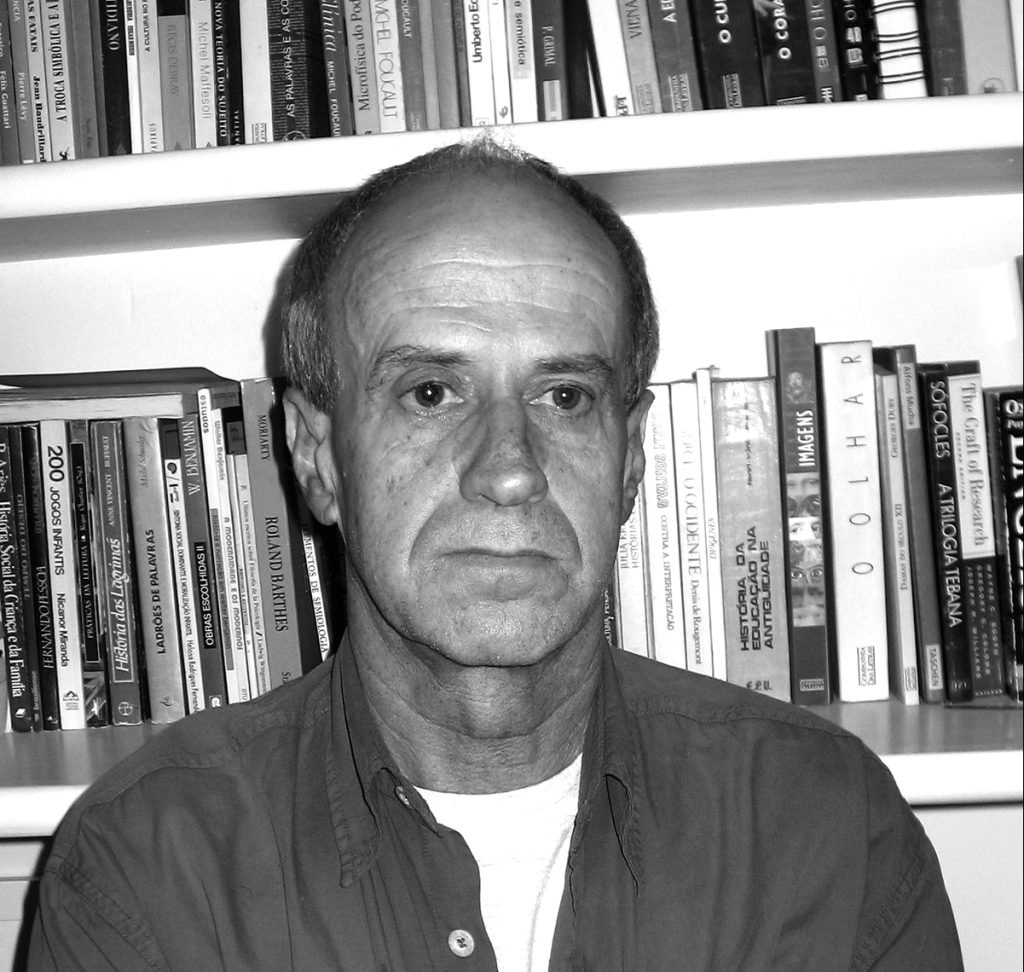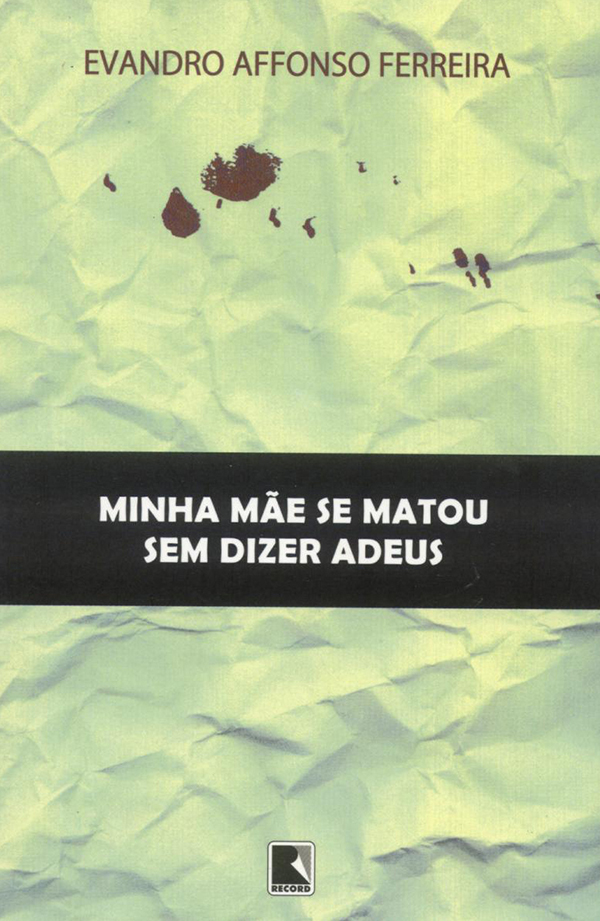A escrita de Evandro Affonso Ferreira não quer leitores — exige testemunhas. Pois ela não quer o espectador de uma miséria romanesca, transfigurada em lucidez, mas sim o cúmplice que ajuda a apertar o gatilho. É nesse nó górdio que ele nos ata, em seu romance-trincheira, entre linguagem e vida, entre literatura e morte. Nessa catábase, Evandro é Poseidon, sendo submerso por uma tempestade que traz um novo Dilúvio. Uma catástrofe particular. Mas que em muitos momentos parece pública. Representação e realidade se embaralham. De sua mesa-mirante, o escritor esquadrinha a decrepitude humana; traça uma anatomia da decomposição; flagra a degeneração, justamente onde ela quer se salvar a qualquer preço; vê em todos os semblantes a sujeira metafísica que conspurca ainda mais aqueles que estão dispostos a edificar castelos de areia em homenagem ao Nada.
Seu antídoto não é a superação, a busca do além-humano, tampouco do demasiado humano ou de uma dimensão meta-humana inefável, pois a descoberta da inexistência de vida antes da morte transforma todas essas engrenagens em fantasmas de bricabraque. Entre o mal absoluto de um Kafka e a presença absoluta do mal de um Bernanos e da tradição cristã, Evandro parece se alimentar de ambas as fontes. Suga a quintessência do Mal que nada mais é do que uma elementar ciência da desgraça, à maneira da antropologia pascaliana, para quem o homem seria uma corda atada entre o Nada e o Infinito. Corda absoluta e absurdamente inviável, obviamente. Por isso a arte de Evandro é um pêndulo bem mais dramático do que uma mera gangorra de conceitos. É um corpo-ampulheta no qual o próprio tempo se destila. Se a vida é travessia, é sempre e sempre por dentro dos espaços infinitos e vazios, povoados de angústia, malheur e aniquilação. O resto é divertissement. E, ecoando a voz de Hume na epígrafe, se aos olhos do Universo a vida humana não é mais digna do que uma ostra, a vida mesma não passa de uma anomalia. O ser é um acidente do não-ser, diria Valéry.
Irônico conforto
Mas para Evandro, mesmo o nada e o infinito ainda são uma ficção. São peças de uma linguagem-coisa entificada que, se não podem ser vividas, tampouco existem. Ao ler a carta de despedida da mãe suicida, emprestada pela amiga filósofa, personagem anfíbio cujas frases são espécies de leitmotiven do romance, o narrador-protagonista toma a morte alheia de empréstimo como irônico conforto pela não despedida de sua própria mãe, que também se suicidara. Enquanto escreve seu livro-testamento, o escritor é rondado por Caronte que circunda o templo moderno no qual, como um escriba-sentinela, um Thot com olhar ocidental voltado para o pôr-do-sol, observa todos ao redor de sua mesa-mirante; os quatro cavaleiros do Apocalipse também ameaçam entrar no lusco-fusco do edifício, consciência-palco do narrador e narrativa-espelho de quem o lê e vê; a tempestade traz a chuva como dádiva e como devastação, mais do que esperada, querida.
Por meio de uma espécie de telepatia, esse ser ensimesmado em um bulevar bem menos burguês do que aqueles da belle époque descritos por Walter Benjamin, pois o que está em cena aqui não é a distinção social e financeira que o esbanjamento de tempo lhe proporciona, mas a tentativa de capturar na literatura os últimos instantes de sua agonia, consegue intuir o que cada um dos passantes pensa, sente, quer ou recusa. Frustrações, mesquinharias, fragilidades, pobreza de espírito, ambições. Mas também algo de generosidade, filtrada a conta-gotas, e uma misericórdia situada em um horizonte distante, fora do alcance dos olhos, porém possível. Enfim, o esplendor miserável das ambigüidades humanas, que são humanas à medida justa em que são ambíguas.
Templo moderno, gruta antediluviana ou Altamira pós-moderna? Na lanterna-mágica, sombras e luzes, figuras e contrafiguras desfilam pela retina do leitor: a garçonete ruiva, o poeta com Alzheimer, o senhor com o filho paraplégico, algumas jovens belas e superficiais, talvez belas justamente por serem superficiais, como muitas vezes costuma ocorrer com a beleza. Em uma chave totalmente inusitada, o grupo de nove judeus aos quais o protagonista-narrador se dirige em pensamento, imaginando que eles possam preservar a sua obra-vida que está sempre na iminência da morte-desfecho, recupera a tradição da literatura apocalíptica antiga e alude parodicamente à narrativa diluviana. Salvar uma só obra é salvar toda a literatura? Salvar um só homem é salvar toda a humanidade? Será o ponto final da obra-vida também o fim do rio-romance que transbordará na morte? Um dique impedirá a passagem para a outra margem? Ou não será possível interromper o fluxo da escrita, para além da vida transcendental e da morte física? É nesse fio de navalha que Evandro conduz o leitor, tateando o magma escuro da memória, que em flashes pinta aos nossos olhos a infância do narrador, desde sempre enovelado na inviabilidade insolúvel da vida.
Nesse diapasão em tom menor, afinado com a matéria turva do caos, Evandro é Orfeu descendo os círculos de ferro do Inferno. A nostalgia autocomiserativa do narrador não pode ser levada ao pé da letra. Nem uma hipotética e ilusória reconciliação apaziguadora, matéria-prima de tudo o que é mera literatura, como diria Flaubert. Mas sua vocação para o fracasso, sim. Sua ruína é sua glória. Sua morte em vida, a sua auto-superação. Pois é nela que ele encontra a mais consumada liberdade, tal como Deus encontrou no Nada a liberdade para criar o mundo. E nele se espelhar. Anulação e liberdade são irmãs. São as tintas com as quais Evandro entoa seu murmúrio sibilino a cada nova cova cavada com cada nova palavra inscrita na folha em branco. Como diziam os órficos, sema (túmulo) e soma (corpo) são homônimos e sinônimos. Não é outra a fonte do sentido leteu e letal da escrita, sugerido por Platão, porque produtora de esquecimento. Se a semântica guarda com estes vocábulos a distância de um trocadilho, a passagem de um a outro é a experiência de atravessamento de um abismo. É esse o abismo que Evandro transpôs, amadurecendo o trabalho narrativo de primeira plana de seus romances anteriores até chegar ao sentido trágico deste livro-testemunho que o leitor ora lê. Atravessado o umbral, reina a mais cristalina amargura de um escritor sensível à pena da melancolia e do engenho.
A última página
Em um ritornelo constante, a máxima do narrador nos devora, como um enigma de esfinge indecifrável: é preciso viver até a última página. A própria literatura é erodida nesse percurso autodestrutivo, pois o narrador ironiza os possíveis desfechos que se poderia dar à obra. Recusa todos. Diz-nos quase literalmente: o único desfecho é a morte. Nela, literatura e vida se irmanam, porque a linguagem se torna maior que a finitude depois de devorá-la. Ou, ao menos, ultrapassa a face translúcida da morte sem contudo lhe retirar o enigma. Estamos aqui diante daquela “unidade entre língua e humanidade” de que fala Hermann Broch em sua maravilhosa obra-prima.
Ao fim do romance, o fim não se diz. Não se escreve, não se nomeia. Seria a vitória do desígnio sobre a fatalidade? A graça eficaz agiu redimindo este filho fátuo do barro? Estaríamos diante de uma nova concepção da imortalidade? Pobre e ingênuo o leitor que pensa assim. Senhor, dá a cada um a sua morte — diz o belo verso de Rilke. É preciso ser Deus para morrer, arremata Bataille. A morte não é um caminho a ser cumprido, mas um horizonte a ser conquistado. A catástrofe individual de Evandro só cessará com a conquista da morte intransferível. Com a aquisição de uma morte singular que desça sobre cada um de nós, mais íntima que o nosso corpo enovelado pela pele. Ele sabe disso. É a saída da anomia, da coletividade dos conceitos, e o mergulho nas águas abissais que nos habitam e constituem. Por isso ela é aletheia. Clareira, ilumina, com seu último relâmpago, a consciência que enfim se dissipa e se despe de todos os acessórios para enfim se revelar a si mesma redimida. Pois agora vemos em um espelho, mas depois veremos face a face.
A verdade não é do reino do que é imortal, por ser diáfano. Pertence sim ao domínio de tudo o que se esquiva às flutuações melífluas do Letes. De tudo que enfrenta o corpo-a-corpo com Caronte. Se a literatura é a voz oculta do Real, como muito bem notou René Girard, ela não é uma forma de imortalidade, pois esta nada mais é do que uma variante da ficção. Como disse Blanchot, a literatura é um direito à morte. Sua voz nos diz quando finalmente estaremos sozinhos. Conduz-nos a essa solidão cósmica. Até a grande Face. Por isso, ela é o fim. Que o narrador não pôde grafar. Mas que Evandro, consumido pela linguagem, pôde viver.