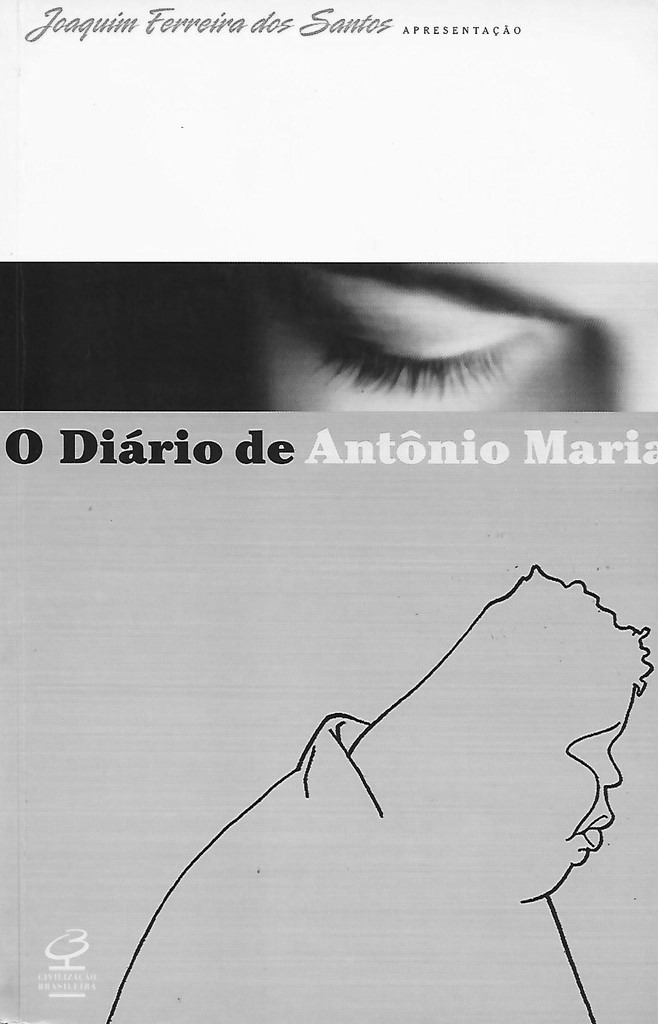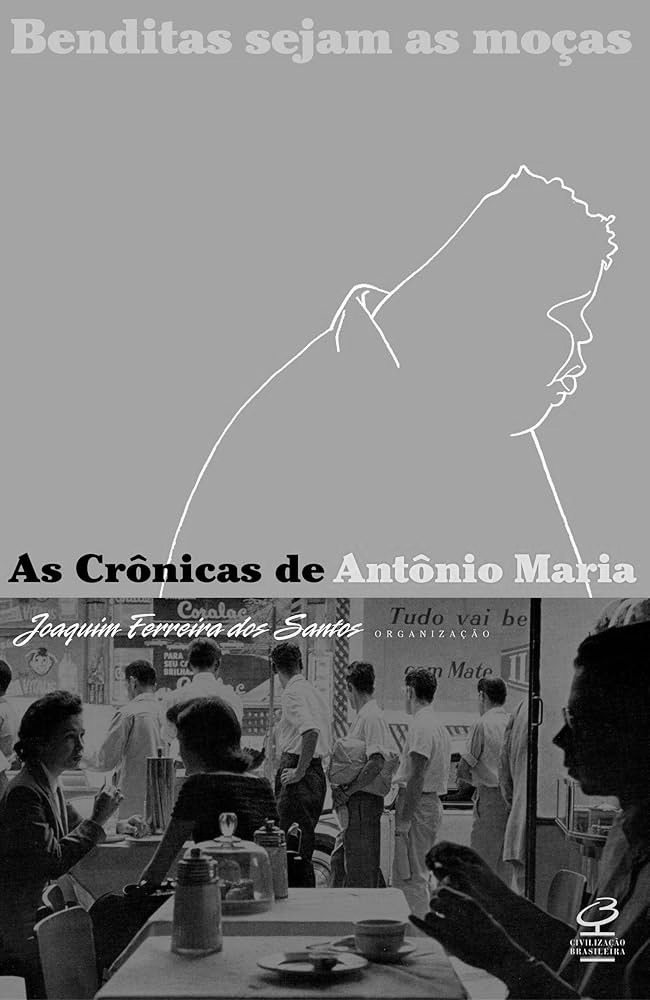Eu estou aqui olhando para este objeto e hesito em como prosseguir meu texto. Há o dever de examinar objetos físicos sob a lente leal do jornalismo. No caso, O diário de Antônio Maria. É preciso cuidado para não cair na armadilha da letra morta. Pior, numa resenha metalingüística. A crítica em abismo, de óculos espelhados, pior que fria, frívola, atrai olhares mais à caneta que à tinta. Por falar em tinta, lá vai mais um gole.
O diário de Antônio Maria tem algo de hipnótico. Traz o leitor para junto de seu peito, centrando-se num texto coeso, simples, desesperadamente simples. O diário do jornalista pernambucano, que também foi grande artista da noite, boêmio, cronista e compositor, é um blog a lenha — e se vão 45 anos desde sua escrita, só agora publicada. O que comprova que o blog — este superestimado palimpsesto internético — não passa de um elo a mais na tradição do homem em falar de si mesmo: história cujos capítulos se contam das Confissões de Santo Agostinho, do século 5, aos modernos O livro dos sonhos de Jack Kerouac, Cartas na rua de Charles Bukowski, Hospício é Deus de Maura Lopes Cançado, Cemitério dos vivos, de Lima Barreto, passando pelos Cahiers do romântico crítico francês Saint-Beuve, aliás companhia de cabeceira do jornalista.
Em diferentes diapasões, do mero registro diário à memorialística, o grande gênero ficcional que é a arte da confissão é palco que não necessita de mais de um único ator, o seu autor, e de uma platéia que também deveria ser exclusivamente o autor —que, por algum motivo, sempre acaba posando para fantasmas, mesmo que consciente da ridícula exposição. É o conflito d’O diário de Antônio Maria:
“Escrevendo estas notas, tenho que tomar um constante cuidado para não posar para elas. Seria péssimo fazer ou deixar de fazer alguma coisa, pensando no que escreveria mais tarde. O ideal seria registrar o que me aconteceu na véspera e, logo depois, esquecer que estou escrevendo um diário. Outro erro em que não quero cair: o da preocupação literária. Não quero escrever bonito. Não estou visando o público nem qualquer leitor isolado. Estou escrevendo, simplesmente.”
Se fosse fácil.
Tanto faz e verdes vales
No mesmo dia em que terminei de ler o Diário — por coincidência, uma Sexta-feira Santa (dia em que Antônio Maria pára suas notas) —, tinha lido, pela manhã, Tanto faz, romance de Reinaldo Moraes (recentemente encenado por Mário Bortolotto em seu Espaço Cemitério de Automóveis, em São Paulo). O romance, de 1980, tem um paralelo interessante com outro relato de viagem autobiográfico, o já clássico Verdes vales do fim do mundo, de Antônio Bivar, de 1971. Estilos absolutamente diferentes no soprar ao pé do ouvido a vivência do exílio — Bivar, em Londres/Nova York; Moraes, em Paris/Barcelona —, ainda que ambos com um pé na contracultura e mente livre, são textos que buscam a cada linha o nervosismo do fato, urgente, ali na hora (mesmo que tenham sido reescritos mais tarde). E que, como o Diário de Antônio Maria, acabaram se tornando documento de época.
Em Bivar há uma elegância sutil, uma fluidez quase franciscana no despojamento tanto da linguagem quanto da própria experiência de deixar-se levar pela loucura dos dias na psicodélica Swinging London, enquanto que no agudo texto de Moraes a linguagem se apóia na intertextualidade de referências e na aproximação com a poesia, o que faz o flâneur tropeçar, entre um baseado e uma garota, na própria leveza. Bivar, porém, assina toda a matéria com o próprio nome; Moraes oculta-se sob o ghost writer Ricardo de Mello. O que dá na mesma. Nunca se pode abandonar o tema vaidade ao abordar a arte da confissão — sempre levando em conta que o xis da questão mora no umbigo. E o de Antônio Maria era bem gordo.
Exato e exuberante
Bivar e Moraes registram suas memórias de férias com 30 anos. Escrito para ser secreto, conforme nos conta o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos em sua bela apresentação, Antônio Maria anota seu Diário aos 35 — idade em que certezas e utopias começam a se desvanecer —, no Rio de Janeiro, miolo da máquina, no auge de sua carreira, escrevendo todo dia, amando, bebendo, suando, chorando, brigando com mulheres, desafetos, cretinos e credores, muitos credores. A linguagem não chega a ser elegante. Sua ânsia por rigor é quase cristã. O jornalismo aqui vive sua exatidão com exuberância. As frases têm sempre talhe direto. Há poucas coordenadas. Muitos períodos invertebrados. Adjetivos, raros. E nunca raros adjetivos: a opção é pelo vernáculo mais comum.
Que não se entenda aqui coloquialidade: inexistem gírias, palavrões, ditos populares, aforismos espertos, explosões verborrágicas. Há um ar contrito até mesmo na exaltação da felicidade, na alegria por ver a mulher que passa, o filho que lê Hemingway, o Brasil que ganha do Equador por 7 a 1, sentir frio e perder momentaneamente a grossa percepção do próprio corpo de 1,90 m e bem mais de 100 kg que comprime sem dó a dor do narrador. A lei da gravidade o faz destruir uma cama, durante o sono — episódio que seria até cômico, não fosse a gravidade que legisla, como burocrata feroz, sobre cada vírgula que o cronista escreve, num estilo econômico que faria inveja a Graciliano Ramos.
Ele não conta tudo. Desde o início do relato —canetado em dois cadernos escolares, de 12 de março a 17 de abril de 1957 —, o jornalista pernambucano aponta o responsável pela guarda do texto: João Condé, caruaruense síndico dos Arquivos implacáveis, uma das maiores coleções de manuscritos da literatura brasileira (calculam sua biblioteca em R$ 1 milhão). Sabendo portanto que seu caderno acabaria virando documento, o feio donjuan nomeia namoradas só com as iniciais (era casado, lembrem), timidez que abandona um pouco nas últimas páginas — sem contudo revelar de todo algum namoro. (Por falar em mulheres, imperdíveis são ainda as 47 crônicas organizadas por Ferreira dos Santos, 45 delas inéditas em livro, sob o título Benditas sejam as moças. O homem realmente sabia tudo do assunto.)
Objetivo x subjetivo
Não são somente o peso e o suor do corpo que oprimem o autor de Ninguém me ama. Mas sobretudo um desconforto com sua exuberante existência. Excessos não eram problema: mas sua falta de lugar em uma vida mesquinha que não tolera atrasos em horários e pagamentos, que não desculpa grandeza quando o que se pede é frivolidade — uma vida só foi pouco para ele. Do choque entre existência gorda e escrita magra surge o grande paradoxo do livro. O jornalista não se deslumbra com nada — a não ser, claro, a beleza das mulheres —, o que traz a seu texto o cinza que nada mais é que o registro do passamento dos dias: um contínuo necrológio. A percepção dilacerante da passagem do tempo foi marca não só do cronista pernambucano como de toda a sua geração — Rubem Braga, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, amigos de Antônio Maria e exímios praticantes do gênero que está para a literatura como a bossa nova para a música. Contemporâneas, a crônica dos 50 e a bossa nova se irmanam no tópico da efemeridade (“a mulher que passa/ que passa e fica”, cantava Vinicius).
O “cardisplicente” Antônio Maria —morreu de enfarte, novo, aos 43 — usava o diário como cura possível à angústia do coração:
“De agora em diante, não estarei contando nada a ninguém, ou só a ti, meu íntimo amigo, meu amigo que eu não tenho o direito de dividir com pessoa alguma. Ou cuja intimidade comigo, para não destruí-la, não devo devassar jamais. Espero assim chegar ao fundo de algumas verdades, ao menos da verdade de mim.”
No diário, tão acostumado a falsos sorrisos e glórias, procurava um mínimo espaço de sinceridade. “Escrevi 10 páginas de humorismo para o rádio. Com o desgosto de sempre. Não me acho engraçado.” Vivendo entre o glamour do grand monde carioca — passeiam pelo livro figuras como Anita Ekberg, Dorival Caymmi, Yul Brynner, Martha Rocha, Di Cavalcanti, Oscar Niemeyer, Vinicius de Moraes, Jorginho Guinle — e as descidas aos infernos litros e litros de vodca e uísque depois, o boêmio jornalista sentia na pele o drama do nó entre aparência e essência. Por isso aborda, consciente, o problema da vaidade, centro nervoso do gênero confessional:
“O homem se habitua ao seu mistério e seu abriga nele até a morte. Mesmo quando confessa, quando parece contar-se e explicar-se ao máximo, não está mais que causando uma impressão. […] Geralmente gostamos de causar boas impressões. E fabricamos as impressões que gostaríamos de causar. […] Mas acontece que ver e sentir são atos espontâneos e casuais. Dificilmente, vemos o que nos está sendo mostrado. Quem enfeita um gesto e o realiza com intenção de êxito, perde-o quase sempre, entre outros que foram mais numerosos e eram naturais. Não nos devemos esquecer de que é inútil fazer a nossa beleza. Ela é uma descoberta do nosso próximo.”
É justamente esta tensão entre subjetivo e objetivo, sentimento e lucidez, espontaneidade e rigor, expressão e mistério, apuro no relato e exagero na vida, que faz do Diário um grande momento da literatura.
Vaidade e vácuo
O texto memorialístico, autobiográfico, auto-referente ou como quer que se chame a escrita baseada na subjetividade marcadamente autoral (isto é, que confunde a figura do autor na do narrador, e ambas, na do protagonista), é certamente uma das vertentes mais fortes da literatura de hoje — quando a vida pode ser uma escrita que o autobiógrafo passa a limpo. Sem, contudo, fazer uma abordagem crítica de seu texto narcísico, os autores que pautam a literatura na própria experiência correm o risco, no sentido amplo, de diminuir a incidência de um componente raro na literatura — a pura imaginação — e, no sentido estrito, de diminuir a necessidade de público de seus livros. Ele mesmo um gigante de vaidade, Antônio Maria reclamava:
“Hoje em dia, as pessoas são muito ansiosas. Querem, constantemente, devassar o seu avesso. […] Não seria melhor e mais modesto deixar que os outros nos descobrissem? E se ninguém nos descobrisse, que mal nos faria isto? O homem precisava ser mais orgulhoso de seu mistério. E cultivá-lo”.
Embora não tenha sido escrito para ser publicado, o Diário, com sua franqueza de princípios, atravessa o espelho feio e triste deste pernambucano para refletir as grandes angústias e pequenas alegrias de qualquer tipo de leitor, em qualquer época, que queira se aprofundar sobre a vaidade. A vaidade, que tanto fazia boêmios alardearem suas conquistas amorosas para que caíssem na orelha ligada do feio Antônio Maria, faz hoje empresários comprarem espaço em revistas como Caras, zé-manés perderem a dignidade em reality shows, gente vazia narrar sua solidão em blogs ou escritores e jornalistas obscuros se estapearem em público. Pela vaidade, muita tinta foi derramada. No caso de Antônio Maria, não foi em vão.
Por falar em tinta, lá vai mais um gole.
ISTO É ANTÔNIO MARIA
Antônio Maria Araújo de Morais nasce no Recife, em 17 de março de 1921. Começa a trabalhar aos 17, apresentando programas musicais na Rádio Clube Pernambuco. Em 1940, vem ao Rio para ser locutor esportivo na Rádio Ipanema. Mora ao lado de Fernando Lobo e Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Fica pouco tempo: 10 meses. Retorna ao Recife e se casa, em 1944, com Maria Gonçalves Ferreira. Depois de um ano vai à Bahia como diretor das Emissoras Associadas. Conhece Di Cavalcanti, Dorival Caymmi e Jorge Amado. Volta ao Rio, onde, durante mais de 15 anos, escreve crônicas diárias em O Globo e Última Hora. No fim de 1952 a rádio Mayrink Veiga parte para o ataque contra a Tupi e contrata seus grandes nomes, como AM — que ganha o mais alto salário do rádio no Brasil: 50 mil cruzeiros. Com ele, compra um Cadillac.
Aracy de Almeida é uma de suas grandes amigas — desprovido de qualquer cerimônia, certa vez pede a ela ajuda para lhe colocar um supositório (“Já tentei todas as posições e não consegui nada.”). Outra história boa é contada por Carlos Heitor Cony: vindo de SP, AM viu no avião uma mulher linda lendo o livro Matéria de memórias, de Cony. Aproximou-se, se apresentou como o autor do livro, e a mulher acreditou. Pintou para ela um quadro bastante dramático: era um desgraçado, as mulheres o abandonavam. “— Mas, Maria…” era tudo o que o espantado Cony conseguia dizer. “— Fica tranqüilo, Cony, fica tranqüilo porque em seguida nós fomos pra cama. Ou melhor, você foi pra cama.” E Cony, curioso: “— E aí?” “— E aí foi que aconteceu o problema” — gargalhava Maria. “— E aí você broxou, Cony! Você broxou!”
Das suas quase 100 composições — apenas 62 gravadas, entre sambas-canção e frevos — são hits Menino grande, Ninguém me ama, Valsa de uma cidade, Canção da volta, com Ismael Neto, Manhã de Carnaval e Samba do Orfeu, com Luís Bonfá. AM morre fulminado por um enfarte do miocárdio na madrugada de 15 de outubro de 1964, em Copacabana, quando se dirige para o Le Rond Point. Acompanhe seu blog (sim, o poeta não morreu): antoniomaria.blogspot.com.