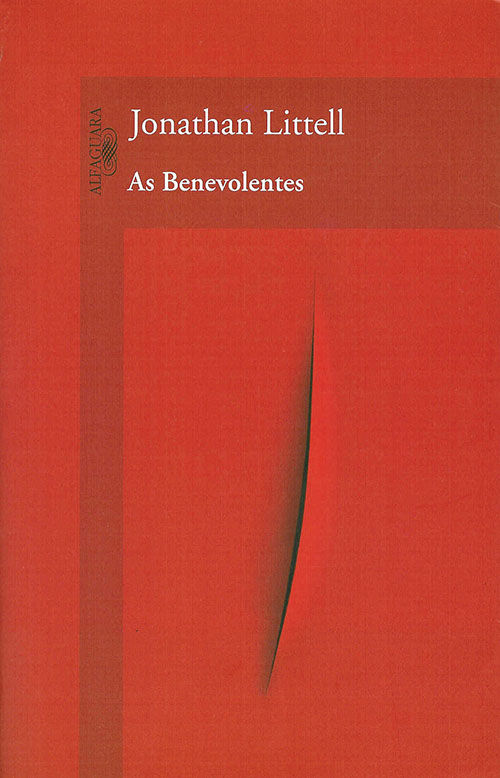A cada punhado de anos, surge algum livro ou autor que se torna maior pelas circunstâncias que o envolvem do que por suas qualidades (ou falta de) e características intrínsecas. Foi o caso de Hemingway, uma personalidade tão marcante, para o bem e para o mal, que os detalhes de sua vida pessoal, suas neuroses e paixões esmiuçadas e esgotadas pelos biógrafos e fofoqueiros de plantão, sobrepujaram a discussão sobre seu legado artístico. Hoje só se fala no velho Ernest como o machão fã de boxe e touradas, caricatura de si próprio, encurralado na persona que idealizou, criador de textos constrangedores no fim da vida (como o conto As neves do Kilimanjaro e o romance Do outro lado do rio, entre as árvores, ambos piegas); pouco se lembra do criador de algumas das mais perfeitas narrativas curtas do século 20, enquanto seus companheiros de geração são celebrados com a merecida justiça.
Algo parecido ocorreu no ano passado com As benevolentes, a falsa estréia do norte-americano naturalizado francês (e que escreve na língua de Stendhal) Jonathan Littell. Falsa porque ele lançou um arremedo de ficção científica, Bad voltage, no fim da década de 80, que hoje renega. A polêmica surgiu quando As benevolentes ganhou o desejável e prestigiado Prêmio Goncourt, entrando em uma galeria de vencedores que inclui, entre outros, À sombra das raparigas em flor, de Marcel Proust. Impulsionado pelo prestígio, o livro vendeu quase 300 mil exemplares nas primeiras semanas, um número assombroso para um calhamaço de 900 páginas.
E por que tanto burburinho? Por um único motivo, o tema explosivo de que trata o catatau. Tão controverso que os méritos literários ficaram em segundo plano: a biografia tenebrosa de Max Aue, ex-oficial nazista, contada por ele mesmo algumas décadas depois, aposentado como dono de uma fábrica de tecidos na França. Ora, alguém perguntará, e o tema de um romance não entra na conta de seus méritos ou deméritos literários? Normalmente sim. Não foi o caso aqui. Não se questionaram tanto a personalidade e os descaminhos da trajetória do narrador, mas a validade de Littell de colocar nas prateleiras uma saga tão calcada no evento que melhor provou o quão abjeto pode ser o homem e tratá-la com suposta naturalidade, sem julgamentos. “Ele está relativizando o Mal”, um crítico escreveu. Tolice. A textura do Mal sempre foi um dos grandes temas literários, de Shakespeare e Dostoiévski a Conrad e Faulkner. Até mesmo Mario Vargas Llosa caiu em uma armadilha ao condenar Littell por não deixar entrever qualquer esperança no livro — um critério facilmente desmontável. A verdade é que ainda sofremos com a culpa do Holocausto (foi um ato alemão, porém, acima de tudo, de seres humanos) e nossa época politicamente correta ainda se constrange com tais eventos dolorosos.
O conceito de humanidade é o ponto que norteia As benevolentes. Max Aue começa assumindo um posicionamento: “Irmãos humanos, permitam-se contar como tudo aconteceu”. Ele, antigo servidor de Hitler, um humano como nós? “A desumanidade, me desculpem, não existe. Existe apenas o humano e mais o humano”, afirma. Exato, se pensarmos no Mal como algo inextricável à nossa natureza falível. Saber que qualquer um de nós, em um momento extremo, é capaz de cometer um ato bestial não significa exatamente isso? O fato de a monstruosidade guardada dentro de nós ainda não ter se pronunciado faz dela menos monstruosa?
Littell tem afirmado em entrevistas que desejava escrever, na verdade, sobre a natureza do crime do Estado, mais do que sobre a natureza do Mal em si. O Estado, por certo, exerce função fundamental no comportamento de Aue. Não da maneira reducionista do meio sobre o indivíduo; o autor não é tão ingênuo. Seu narrador não é um seguidor cego de Hitler. Sequer sente pelos judeus o ódio convicto dos arianos. Às vezes, devido a sua função, uma espécie de organizador do fornecimento de comida dos campos de concentração, precisa inclusive protegê-los. Alguém lhe diz, citando Hegel: “Se o indivíduo é a negação do Estado, então a Guerra é a negação dessa negação”. A obrigação para com o governo acaba servindo de desculpa para que Aue expulse seus demônios através de crimes. Se pensarmos na Alemanha nazista como a conseqüência dos ideais de um homem (Hitler) aplicados à sociedade, as motivações pessoais podem muito bem, da mesma forma, falar em nome do coletivo, sobretudo em uma guerra. Na convergência dos dilemas público e privado, o coração de As benevolentes, encontra-se, portanto, o Mal.
Náuseas e febres
Contraditório e imprevisível, o personagem se situa no limiar entre a obediência e a revolta, entre o horror de encarar a sujeira e a inclemência ao perpetuá-la. É um homem culto, leitor de Platão, Sófocles e Stendhal, que pode tanto sentir nojo de ver prisioneiros sendo mortos quanto, em um rompante, assassinar um inocente a sangue frio. Parece utilizar o texto como uma maneira de expiar e analisar atos e fatos — e é um prazer observar a narração em primeira pessoa sendo praticada em prol do desenvolvimento psicológico, e não pela mera facilidade de se escrever assim. A relação do leitor com o narrador é incoerente como a personalidade do nazista. Não há, como os detratores acusaram, naturalidade na maneira como as chacinas e humilhações são conduzidas; o próprio Aue sofre com náuseas e febres. Littell nos convida a atravessar a trama como se fôssemos o protagonista, enjoando e sofrendo com o genocídio, como se desafiasse o leitor a se habituar, ao lado de Max, com a brutalidade.
A impossibilidade de prever as ações e reações de Aue faz com que As benevolentes mantenha sempre um fio de tensão. Bem aos poucos entramos em contato com detalhes de seu passado. Abandonado ainda na infância pelo pai, ele desenvolve ódio pela mãe, a quem culpa pela decisão do pai, além de uma paixão irreprimível pela irmã gêmea, que perdurará por toda a sua vida. Incapaz de levar a cabo com ela a relação que deseja, torna-se homossexual — uma maneira de manter a promessa de nunca se entregar a uma mulher que não a irmã. Acaba em um internato, ainda na juventude. Lá aumenta o ressentimento por sua genitora e pelo novo padrasto. Mais à frente, pairará sobre Aue a suspeita de assassinar a mãe e o padrasto, sem que ele próprio saiba se matou realmente ou não.
Atravessamos com o militar alguns dos momentos e cenários emblemáticos da Segunda Guerra, desde os fronts na Ucrânia, Criméia, Hungria e França, passando pela sangrenta batalha de Stalingrado e, já no final, a ocupação russa em Berlin (com descrições detalhadas e impactantes dos bombardeios). Dezenas de personagens cruzam o caminho de Aue — assassinos, médicos, garotas civis, figuras históricas como Himmler e Eichmann. Estranhamente, nas últimas 20 páginas a história dá uma guinada radical em direção ao cômico e ao picaresco, em um tom de completo descompasso com as outras 880 páginas. Não vale a pena revelar aqui o desfecho; basta dizer que deixa a impressão de que todo o resto era uma espécie de preâmbulo de uma grande piada. O desenlace não chega a arranhar o resultado final do livro, entretanto.
Toda a discussão em torno do tema de As benevolentes tem obscurecido os seus outros aspectos. Um deles é a prosa de Jonathan Littell e a maneira como ele conduz a história. Fora o prólogo em que o narrador se apresenta, nos dias atuais, todo o enredo é contado de maneira linear e segura. Littell escreve muito bem, com ritmo, alternando as passagens de guerra com momentos da vida pessoal de Max Aue. O início é um pouco difícil pela profusão de termos e patentes do exército alemão disparados em massa (há um glossário ao final do volume). Depois que leitor se acostuma com eles, a narrativa flui, sem grandes malabarismos verbais: “apenas” grandes personagens e cenas memoráveis. A matéria-prima ideal da literatura. Apoiando-se nela, Littell engendrou uma das pedras essenciais de nosso tempo. E que servirá de documento para que, no futuro, entendamos melhor o homem no que ele tem (teve?) de mais cruel, ambivalente e fascinante. Não é pouco.