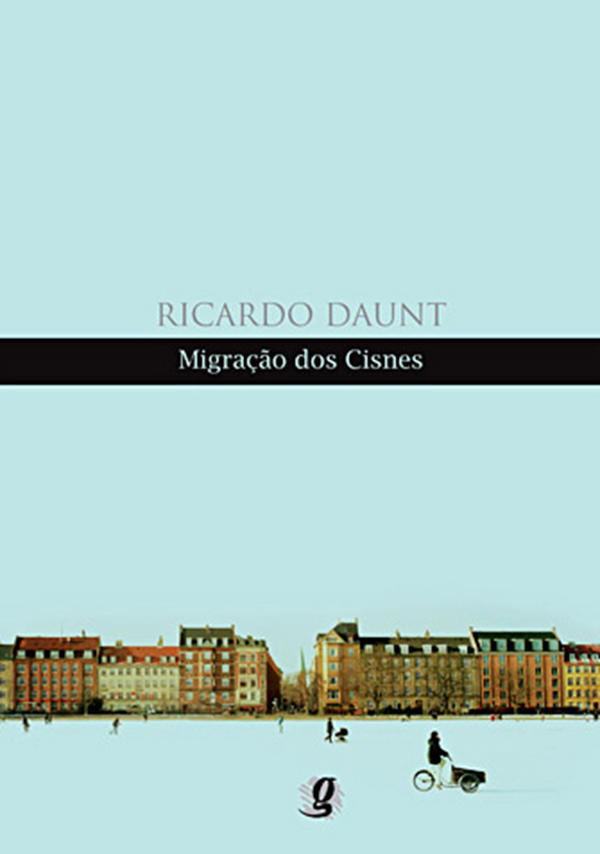Há escritores que se impõem, para começar um romance, um trabalho minucioso e preciso para primeira frase, a primeira palavra. Romances como Quarup, de Antônio Callado e Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, são bons exemplos. Dizendo já de início a que vieram, eles confrontam com os naturalistas do século 19 que, esmeravam-se na longa descrição de pequenas ações. Ao curioso basta se debruçar no primeiro capítulo do romance Inocência, do Visconde de Taunay. Durante horas e horas o autor fala e fala dos vários aspectos de uma borboleta, isso para introduzir na história o pesquisador alemão Meyer, um coadjuvante na trama, pois protagonista mesmo é Ciniro, o “médico” que chega à fazenda, conhece Inocência e se apaixona pela moça. Daí é que decorre a seqüência de tragédias e mortes bem ao gosto da época.
O novo romance de Ricardo Daunt, Migração dos cisnes, começa com este, digamos, sotaque naturalista. Lucien volta ao restaurante da universidade onde se formou e inicia o périplo pelo cardápio, o ambiente, a paisagem, as pessoas em volta. Até que vê um casal e, como a moça é oriental, pensa numa ex-namorada, também oriental, Su Ian, que, ao final, é um personagem secundário na trama.
Esta pode ser vista como a primeira das muitas armadilhas literárias do romance. Ricardo trabalha com uma verdadeira polifonia de ritmos e subtramas. O leitor, envolvido por estas linhas de curiosidade, vai aos poucos deglutindo as mais de 500 páginas do livro que, de sorte, trabalha, paralelamente, com três enredos e três protagonistas.
O primeiro deles é Lucien Sorel, um engenheiro francês. Pediu uma licença sem vencimentos à empresa onde trabalha, a GDF, para fazer uma viagem que mantém em segredo. Nos dois dias que antecedem à viagem, caminha por Paris como a se despedir da cidade. Em alguns momentos deste caminhar, Ricardo descreve detalhadamente as ruas, becos, casas dando um ritmo lento e até maçante ao romance que, de imediato, ganha dinamismo quando fala de uma boemia sofisticada, da inevitável violência das ruas, mas novamente lá estamos pianíssimo a dizer de vinhos e comidas.
Esta quase obsessão rítmica, aparentemente infundada, tem um sentido e perpassa pelos trechos dedicados aos outros dois enredos, aos outros dois protagonistas.
Manuel, o Manuelzinho do Benfica, é filho de Albano e Maria Luíza, os donos de um modesto restaurante em Lisboa. Goleiro profissional, foi demitido depois que se descobriu sua miopia, sua incapacidade de seguir na profissão. Passa a ajudar os pais no restaurante, mesmo sem perder o sonho de voltar à condição financeira de antes. Circula pela cidade — e outra vez passeamos na intimidade de ruas e avenidas — recebendo novas perspectivas de trabalho e paixão, mas o que importa é a viagem secreta que pretende fazer.
Lucien e Manuel são peças de um jogo montado por Joe Byrne Hayes, o Gepeto, um aposentado que vive na Irlanda, em Dublin. Junto com a filha Kathlenn, o aposentado, que jura ter encontrado um original inédito de James Joyce, persegue as peças de seu estranho xadrez pela intimidade da outra cidade, Dublin, é claro. E então, na página 295 entramos, enfim, no cerne do romance.
Todos perdidos
Ricardo Daunt nos conta de uma Europa partida em três mundos bem distintos. Na França há uma sofisticação cultural entranhada nas pessoas que também não se desapegam de um estranho sentido de violência, uma necessidade de agredir quando não restam mais argumentos. Portugal é um país arcaico, envelhecido, vivendo à sombra de seu passado de grandeza, perdido na perspectiva de um mundo globalizado. Ali também a violência, sobretudo a doméstica, é uma forma de autoproteção das pessoas. Já a Irlanda, com seu clima pesado, de nuvens carregadas, sobrevive pela admiração do próprio umbigo, do resguardo de suas tradições mais íntimas, mesmo não resistindo aos apelos da modernidade.
Todos, na verdade, estão perdidos diante da necessidade de partilhar seu interior, sua própria vida. Todos estão amedrontados, mas escondem os medos e se vestem de coragem. Daí a iniciativa de Gepeto, daí a ansiedade de Lucien e Manuel.
Curioso é como se dá o diálogo entre os três — o moderno, o velho e o tradicional. Buscando salvar, cada um, o seu modo de sobrevivência, negaceiam, jogam, vestem outras tantas peles. No entanto estão sempre de volta ao começo, aos sentimentos que não conseguem deixar pelo caminho. São, enfim, frutos de uma concentração cultural muito profunda. Ricardo deixa isso claro quando fala das ruínas desencavadas que os protagonistas encontram. São milênios de uma formação que não será esquecida em três dias, tempo real do romance.
O resultado de tudo isso é uma leitura política da Europa contemporânea. Unida em um bloco econômico, ainda prevalecem os sentimentos regionais, e eles são mais fortes. Metaforicamente, Manuel, Lucien e Joe são suas próprias nações que lutam para preservar suas individualidades. Ao final todos se entregam à solidão de onde, de fato, nunca se afastaram.
Migração dos cisnes é um romance que trabalha com infindas possibilidades literárias. Entre a agilidade e a parcimônia, é moderno e passadista. Ricardo transpõe para a linguagem a leitura que se pode fazer hoje da Europa, sua verdadeira protagonista. Daí sua linguagem variar entre a sofisticação do vinho e a ingenuidade dos bolinhos de Belém, entre a dureza urbana e o rural bucólico, entre a estridência das buzinas e a suavidade da música. Um romance dual, enfim, mas não maniqueísta, já que deixa abertas todas as possibilidades de leitura. É possível lê-lo até como uma história de amor ao moldes do velho Taunay.
Um livro que guarda em si profundidades abissais.