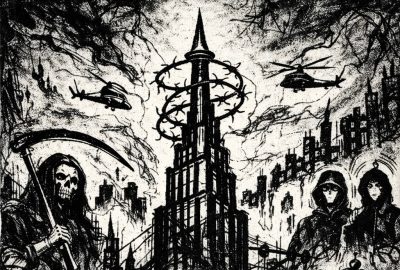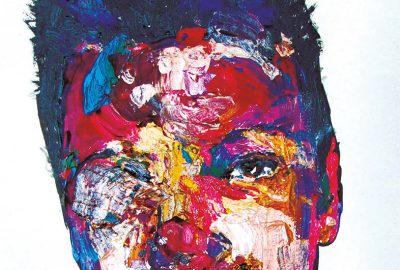Em Histórias do bom Deus, Rainer Maria Rilke conta que Deus assistia a Michelangelo enquanto o artista trabalhava em uma de suas esculturas. Muitas orações se dirigiam a ele, mas “a força de Michelangelo subia até ele como perfume de vinhedos” (cito a tradução de Pedro Süssekind). O narrador de Rilke explica que Deus se interessou pelas mãos de Michelangelo que auscultavam a pedra. “Por que esse homem escutava as pedras”, ele se perguntou. “Será que havia alma também nas pedras?” Até que decidiu intervir: “Michelangelo, quem está na pedra?”. E o artista respondeu “você, meu Deus, quem mais. Mas não consigo alcançá-lo”. Foi então que Deus sentiu que estava também em pedras, e conheceu a angústia, e esperou ansioso que as mãos de Michelangelo viessem libertá-Lo.
Essa narrativa funciona como uma pequena arte poética dos artistas que se dirigem a uma dimensão da existência que poderíamos chamar de sagrada, existencial ou ontológica, na falta de um nome apropriado. Não existe um nome apropriado para isso. Alguns artistas acreditam que sua obra deve nomear o mundo; outras pessoas preferem tentar furar os nomes e ver o que começa a escorrer através desses furos (a metáfora é de Beckett).
Em Antes de dar nomes ao mundo, Adriana Lisboa se aproxima dessa forma de conceber a tarefa da arte. Uma simples pedra, por exemplo, pode conter algo que ultrapassa a experiência imediata que se inscreve no nome “pedra”. A poeta fala sobre isso justamente em um poema sobre Michelangelo. Cito a primeira estrofe de pedra:
havia um São Mateus ali dentro
e Michelangelo sabia
mas como ir na ventura do entalhe
criando o mundo que no entanto
é o mesmo que nos cria?
como doar-se de tal modo à pedra
que pedra todavia
ela também tenha a fluência
de carne e espírito
Palavras e coisas
Antes de dar nomes ao mundo, quinto livro de poemas de Lisboa, se dirige a um estado de pré-criação, e associa a escrita da poesia a esse estado. Isto confere à poesia um lugar ambivalente e confuso. Criação e signo da pré-criação, ela lida com as palavras, e, ao mesmo tempo, evoca aquilo para o que nenhuma palavra é suficiente. Talvez por isso o livro comece por um delírio, isto é, por um capítulo intitulado pré-história com poemas que se destinam àquilo que “vive e pulsa enquanto se dissolve no ar”. Como o poema vem ver a lua: “estamos ensaiando/ a vida aberta/ em que tudo nos atravesse/ como se a nossa pele fosse feita/ (e é) muito mais de matéria escura/ como se o desabitado que habitamos/ e quase tudo em nós/ se costurasse pelo que não/ sabemos”. Você reparou que esses dois últimos versos confundem a nossa leitura? Devemos ler que quase tudo em nós se costura “pelo que não”, e sabemos disso, ou que quase tudo em nós se costura “pelo que não sabemos”? A falta de pontuação e o corte proposital do verso nesse “não /” faz isso conosco. Entre o “não” existencial e o “não saber” da linguagem, ficamos nós, nessa poesia, como que suspensos entre palavras e coisas.
Enquanto nós ficamos suspensos, Adriana Lisboa se dirige para duas dimensões da existência: o vazio, a falta, o silêncio, de um lado; e o mundo não-humano, de outro. Esse duplo direcionamento converge na produção de um efeito, nos seus versos: um efeito de vida. Como se a vida se tornasse ainda mais intensa quando uma determinada fissura se abre nela; ou no exato instante em que se rompe o que no humano é humano e aparece alguma outra coisa (um “bicho por trás da costura do sonho/ e nada precisa vir a ser”). Se o primeiro capítulo traz poemas que buscam uma condição pré-histórica, o segundo capítulo, chamado teia, realiza uma íntima conexão com a vida dos vegetais e dos animais. É diante do “não–” que atravessa, como condição de poesia, o gesto criador do livro de Lisboa, que emerge o “sim mil vezes sim” da vida que se sente então. Um sim que só pode ser sentido então como um incômodo. Em Cão sem plumas, João Cabral de Melo Neto dizia: “O que vive/ incomoda de vida/ o silêncio, o sono, o corpo”. Em a vida dos animais, Adriana Lisboa:
os animais ainda vão
incomodar por muito tempo
estão demasiado perto
outros nós mesmos que não
entendemos
os animais são o xeque-
mate final
o olhar engastado no nosso
e a demanda
Esta sensação aparece em outros poetas de nossa língua. Como Hilda Hilst (em Alcóolicas e em Poemas malditos, gozosos e devotos) ou, mais recentemente, na poesia de Leonardo Gandolfi (em Pote de mel e em Robinson Crusoé e seus amigos).
Por falar nisso, o terceiro capítulo (cujo título faz uma gradação entre o particular e o geral, beco rio quintal praça mundo) desdobra o “não– ” de Adriana Lisboa em mais uma camada: o “não-eu”. Outros artistas são mencionados, e ela fala deles, com eles e através deles. Poetas, como Cora Coralina e Adrienne Rich, são evocadas, mas também não-poetas, como Maria Auxiliadora, Joan Mitchell e Meredith Monk.
O poema que cita a multiartista norte-americana é significativo. Ele conta que Monk, quando começa um trabalho, só sabe o que não quer: “as peças musicais vão assim/ se formando por subtração” e “o silêncio é o sentido”, ele é “a emenda do som”. Isto faz lembrar a resposta que John Cage deu quando foi perguntado sobre como compôs 4’33’’, dizendo que construiu essa composição com muitos pedacinhos de silêncio. O quinto capítulo do livro de Lisboa, aliás, é escrito na forma de um diário de duas semanas em retiro de meditação.
Enlutado
Mas, de todos os capítulos, o que mais me comove é o quarto, chamado uma emoção em falso. Ele é dedicado ao que não mais vive (se é que podemos chamar assim aquilo que é matéria da rememoração e que intensifica a vida quando convocado). Trata-se de um capítulo enlutado, que se dirige à imagem da mãe e do pai. E seu mundo íntimo se mistura àquilo que a cerca como exterior. O poeta Edimilson de Almeida Pereira chama atenção para esse fato na orelha de Antes de dar nomes ao mundo: “esse tensionamento (aqui representado pela fricção entre a experiência pessoal e as demandas da realidade social) se reflete no trato com o tempo, a arte, o sagrado, o pensamento, enfim, com tudo que pode ser reinterpretado pelos artefatos da linguagem”.
Só que no caso desses poemas, aquilo que não consideramos linguagem também está falando, escrevendo, rasurando — se constitui como agente ou artefato de linguagem. Podem ser pássaros no céu, por exemplo, como no poema que dá nome à obra:
bandos de maritacas
esgarçam a manhã
e a voz que gritou no sonho
coalha
de surpresa e susto
antes de dar nomes ao mundo
elas podem mais do que nós
as maritacas em bando
debruando de verde o verde
desse fim de Mata Atlântica
Assim começa o poema, em que nos versos seguintes a poeta nos conta ter dedicado uma parte desse dia à leitura sobre o esqueleto de uma criança de Turkana que coloca questões importantes e controversas sobre a evolução hominídea no planeta (a partir de uma ligação do Homo ergaster com o Homo erectus). Ela conta também outra parte do mesmo dia em que assistiu, pela televisão, a um rapaz brasileiro que ganhava uma medalha olímpica no nado livre. Esse poema, que aparentemente ia para lugares muito estranhos entre si, é interrompido por uma moça que entra no quarto da poeta perguntando “você vai escrever sobre o seu pai?”.
e então vi que
desde o nado livre
até a revoada e a esmeralda do morro
tudo era o poema deste instante
das máquinas que odeio e amo
era o poema de entender que isto
será outro depois dele (depois de meu pai
depois do poema)
que minha irmã será outra irmã
que meu irmão será outro irmão
que vagaremos pelo lugar-comum
do poema deste instante
por muitos anos ainda
e eu talvez pense no menino de Turkana
e no nadador olímpico
e no tempo coalhado
de surpresa e susto
na voz dos bandos de maritacas
O susto e a negatividade atravessam esse poema, como o espanto atravessa a história do pensamento (uma história do não-saber, distinta da história do conhecimento). É a partir desse interstício que Adriana Lisboa consegue erguer uma poética do “não–”, em sintonia com o “não-vivo”, que reforça o que é vivo. Nessa poética, animais, plantas, minerais, falta, vazio, tempo, os mortos, a falta de sentido, tudo participa da escrita do poema. E aproxima, assim, a poesia dos riscos que os primeiros hominídeos fizeram nas paredes das cavernas.
A página em branco e a parede escura das cavernas são análogas, então, assim como história e pré-história, humano e não-humano, vivo e não-vivo. Esta é a aposta de Antes de dar nomes ao mundo. Adriana Lisboa nos diz: aquilo que não dura é o que dura (como os mortos, na rememoração). Ou, dito com as palavras da poeta, “lutar com a palavra é enlutá-la” — “a página em branco dura muito mais/ do que qualquer literatura/ já diziam os sumérios/ quando não havia páginas em branco/ nem literatura”.