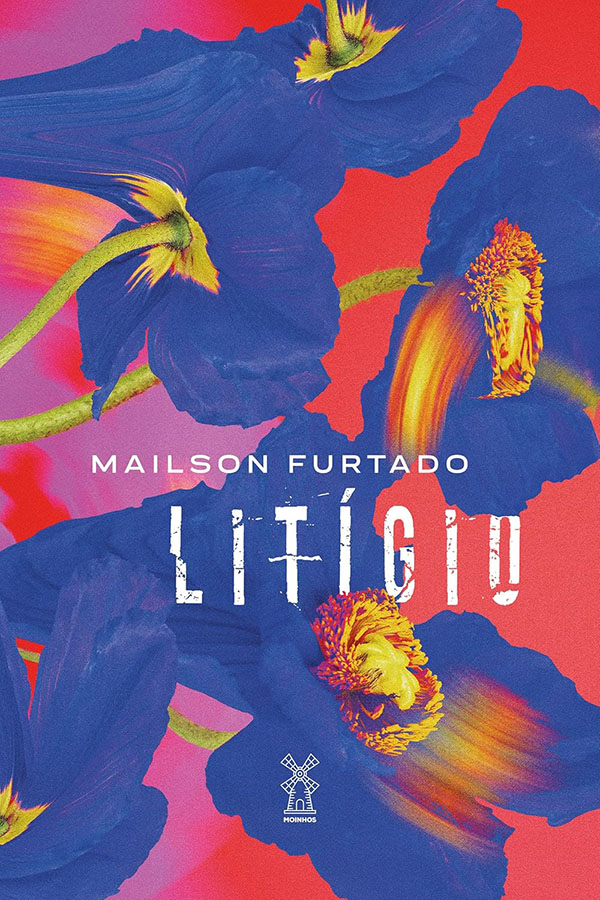Mailson Furtado é poeta marcante da cena literária brasileira. Venceu prêmio importante com produção independente em um universo em que poucos grupos editoriais somam autores laureados anualmente, bem como pautam e fazem curadorias dos principais eventos voltados à poesia. Isso não revela apenas alguém que supostamente tenha furado uma bolha, mas também alguém que consegue atrair os olhares de leitores para outras zonas, outros falares.
Em 2024, lançou O dia. Um dia que é noite. E de insônia. O drama de lidar com pensamentos desconexos, sombras nas paredes, tetos e janelas que nem sempre se abrem ao dia. O livro poderia se chamar “a noite”, “a vigília” ou qualquer composição que denotasse mais diretamente as imagens trazidas.
Mas não é disso que se trata. O livro parece fundir as incertezas de uma subjetividade em meditação com o dia que demora. E faz isso por meio de uma noite que aparentemente titubeia ao abrir-se em dia, “a noite simples-/ mente: não.// me nega”.
As estratégias de estrofação nesses três pequenos versos mostram um domínio do autor ao explorar recursos formais para a criação de efeitos, neste caso, da noite hesitante. O corte no meio do advérbio, para obter novamente a substância da palavra e sugerir de imediato uma noite sem complicações, encontra complementaridade não apenas na continuação da palavra, mas também no imprevisível surgimento do verbo mentir (o que nos daria “a noite simples mente”).
Ao seguirmos com a leitura, continuamos na zona ambígua aberta pelo corte no advérbio: “a noite simplesmente diz não”, como quem recusa a abertura do dia, mas a estrofe seguinte tensiona novamente o sentido imediato e, apesar do ponto final, pode, sim, dar a entender que ela, a noite, não está em negação com a subjetividade hesitante do sujeito lírico, antes, as hesitações, a da noite, do dia, e do sujeito se misturam tornando não apenas o poema, mas todo o livro descontinuado para quem espera a sequência das horas trazendo o dia. Afinal, “o dia […] me desmilingua o tempo”.
Todas as noites
Desmilinguir ultrapassa a sugestão mais informal, quase coloquial. Essa palavra sugere mais diretamente desestruturação. Do tempo da noite, do dia e, principalmente, do tempo do sujeito. O “poema em um ato”, como sugere a abertura do livro, na verdade não está restrito a uma noite, mas sim à noite. Noite que não passa, que se condensa, se dilata e revela o incessante agora do pensamento. Ou seja, é sobre todas as noites em que o sujeito se pega pensando. Não basta que a noite passe e o dia chegue para a conformação dos sentimentos. Estes não descansam num mundo de causa e efeito, são fluxos de uma subjetivação em conflito.
A ideia-imagem de um “eu” evocado pelo pronome reto e suas variações nos verbos conjugados estão presentes no livro todo e podem apontar para uma crise desse sujeito que não consegue conformar a noite ao dia, dado que este também se mostra pleno de sombras.
O dia parece se abrir mesmo apenas no livro seguinte, Litígio, publicado em 2025. Num projeto formal sensivelmente diferente, bem mais prosaico, acentua-se a imagem do dia. Não aquele meditativo do livro anterior, mas sim um dia que emerge no corpo a corpo com a rua. Esta obra poderia ser chamada “O dia”, ou ainda, “A rua”. Pois é nela, na rua, diferente de O dia, que as cenas se dão.
Se a crise no livro anterior é vivenciada em close, com os pensamentos, aqui, na obra mais recente, ela pesa sobre as ações; daí a força evidentemente narrativa. O litígio é nas ruas, quase sempre à luz do sol. É um livro cheio de vozes e mexericos. Coisa de quem, à maneira de um Manuel Bandeira, mostra as cadeiras sendo arrastadas para as calçadas no fim do dia para avivarem não apenas os fatos, mas também as línguas no amplo sentido. Um quê de observação curiosa, poderíamos mesmo dizer, fofoqueira, que faz lembrar essa outra tradição modernista que bebeu mais em João do Rio e seu lirismo de rua do que na eloquência dos Andrades. Porém, mais ainda no lirismo da mitologia poética que se abre em política de afetos entre as gentes menos conformadas aos grandes centros econômicos e tecnológicos. Algo que lembra a Evocação do Recife, de Bandeira, e os sulcos das línguas dos contadores de estórias de Guimarães Rosa. Mas que não fica aí, pois revela um lirismo vindo de D. Dalva e do feirante Manoel, tipos das ruas que fundam mais do que uma mitologia da infância, antes, uma mitologia dos não-saberes em tensão com os saberes.
Assim como em O dia, Mailson investe, em Litígio, num certo primor ao compor palavras. Mas diferente de lá, onde encontramos mais palavras desmembradas para abrir ambiguidades, aqui vemos composições que buscam des-abrir o sentido, e que, na esteira de um Manoel de Barros, não nos implicam em fechar, mas sim em desdobrar aberturas, como quem não apenas se arrisca em não saber, mas também como quem deixa surgir daí, desse desdobramento litigioso das contradições das ruas, uma mitologia do afeto, da alteridade e do desentranhar-se.
O silêncio
Quando Dalva — personagem de um dos poemas, que varria a rua não para servir ou ter sua paga, mas pelo simples e consciente fato de varrer (e com isso compor a manhã; glosa com João Cabral) — morre, a rua — tempo-espaço dessa figura que parece glosar também com Macabéa, não apenas pela evocação da estrela, mas por um certo não protagonismo social — “desembainhou o que não sabia sentir”, “a rua órfã tropeçou em não saber”.
Se o que abre a mitologia da infância no poema de Bandeira é uma reelaboração da memória costurada em reinventadas lembranças, aqui o mito mobilizado pela evocação desabre em silêncio, “como sempre ninguém acordou antes da hora./ de pé se punha a rua e lá fora chovia”.
Mas Dalva, com suas horas a varrer, impunha ao cotidiano das pessoas do bairro, das ruas, uma fratura na lógica social que vê na atitude humana uma subserviência às trocas capitais. Sua vassoura não estava a serviço do dinheiro que lhe poderia render na tessitura da manhã, antes, ela se assemelha àquela outra vassoura, a do filme Dias perfeitos, de Wim Wenders, que substituía o despertador do personagem Hirayama e se fazia instrumento de marcação do tempo e de chamada ao trabalho (limpar banheiros públicos). Mas, também como no filme, quem sai ao trabalho e assume o protagonismo da narrativa não é quem varre a calçada. Ou seja, essa Dalva que não brilha feito estrela (Macabéa) impõe um protagonismo às avessas, ela personaliza o tempo ao descontinuar o sono. No caso do poema de Mailson, o sono dos que dormem achando que sabem, mas que nunca dão conta de um simples gesto, o de varrer sem recompensa na sociedade em que a continuidade se sustenta numa lógica de trocas capitais e não afetivas.
Enfim, o que parece aproximar os dois livros mais recentes de Mailson Furtado é justamente o que os separa formalmente. Em O dia, o corte dos versos e nas palavras faz desmilinguir a ideia de que, subjetivamente, depois da noite vem o dia, ou seja, o que se descontinua é a conformação dos sentimentos do sujeito numa ideia de causalidade ou lógica. Em Litígio a continuação sintática (escolha pela prosa) é rompida pelo imprevisto das ações das personagens que não cabem em determinada conformação social. Os poemas dos dois livros mostram que pensar os afetos de modo intimista, mais consigo e meditativo, ou mais fofoqueiro, na boa prosa das calçadas, sempre revela que a mitologia que forjamos subjetivamente, a sós ou em coletividade, para compreender o que somos e o que os outros são só faz ver a dinâmica de não-saberes que nos constituem e o quanto todo o esforço em reconstituí-la em saberes lógicos nos coloca não apenas em contato com o engodo da lógica, mas sobretudo em contato mais imediato com a poesia da vida.