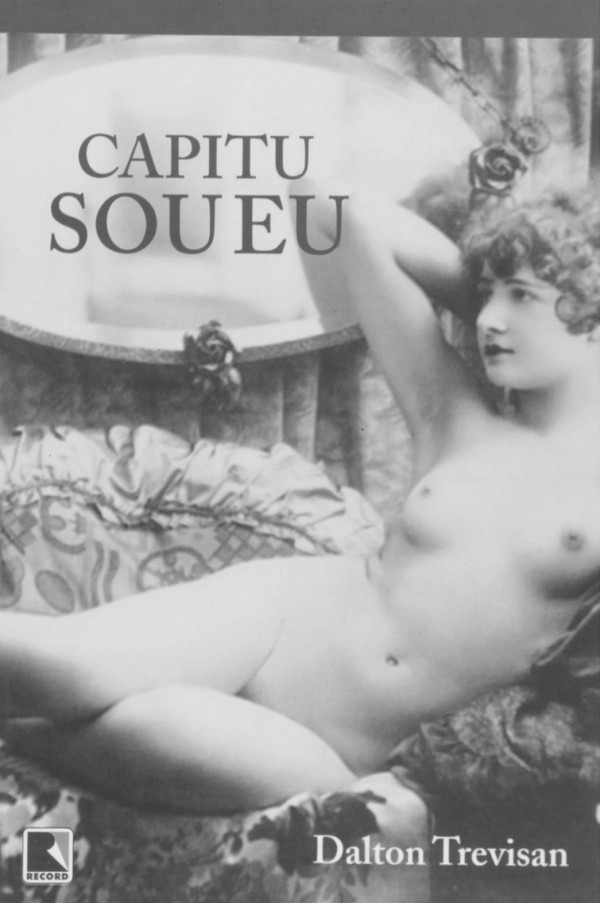Em Capitu sou eu, os personagens vivem em pólos opostos e complementares. De um lado, estão presos a uma suposta primeiridade, a um grau zero da sexualidade sobre a qual não parece incidir nenhuma injunção social. São puro instinto, descabeladamente arrastados pela pulsão do gozo. De outro, surgem os papéis sexuais, o olho social determinando atitudes, impulsionando a teatralidade. E entre estes dois espaços se passa a falha trágica, vem o drama: sexo (sexus=corte) é apenas sexo, não traz plenitude, não gera o absoluto, tudo se esvaindo num ato oco. Afinal, no mundo de Dalton Trevisan, não há lugar para a felicidade, para o pleno exercício do encontro como complementação e implemento da existência, muito menos para o perene. Espremidos entre um mundo que deixou de ser e outro que não é, acompanhamos a épica trivial de personagens que rememoram o passado e este é um lance vazio. Vazio porque o sonho não pôde ganhar contorno completo.
Ao rememorar a série infinita de sexo e mais sexo surge o descompasso que os condena à nulidade e a um gozo roubado, a um jogo teatral de papéis representados e sem essência. Cada gesto, cada busca são truncados pela mise en scène que os leva ao desespero, à insegurança de homens e mulheres diante do que se exige deles, brotando daí a neurose. A fuga é a memória de uma Curitiba que não existe mais, onde estão deslocados e perplexos, quando alguma coisa não dita substitui os vínculos e estes não podem ser cimentados como razão de vida.
Todos estão carcomidos pela solidão, todos se entregam ao sexo com certa fúria que mal encobre o niilismo a coroar suas atitudes. De meio, para estes personagens o sexo se transforma em fim e, neste fim, espera-os a esfinge querendo ser decifrada e eles sequer arriscam topar o desafio de se encarar nos olhos dela para tentar dizer não quem ela é, mas quem eles são. E quando eles tentam decifrar alguma coisa, o fazem com a entrega do corpo, com o jogo lúbrico e se descobrem tateando um mar de isopor, a dor do nada, a compulsão que chegou a um êxtase de palha seca a não lhes deixar qualquer lastro.
Por isso, os personagens terminam de mãos vazias, com os corpos marcados pela tirania da paixão que nunca os liberta, nem os satisfaz. Sexo é força física com um prolongamento ou com um substitutivo simbólico que é o poder. O poder de um homem ou de certa mulher sobre outros semelhantes e que serve apenas para comprovar a virilidade ou a feminilidade que são figuras de miragem, deixando todos perdidos no deserto. Daí que olhar o passado pode conter imagens poéticas de uma Curitiba perdida no tempo ou no espaço, mas nenhuma destas imagens tem força suficiente para instaurar a efetividade no aqui e agora. A paixão é um labirinto no qual cada um perdeu o fio para voltar à saída, à racionalidade, ao humano desígnio e eles ficam sem recuperar o ar, o sol, a lufada redentora frente aos miasmas que estes homens e mulheres tarados e asfixiados exalam dentro do comezinho do cotidiano que os atira contra a parede.
A cidade, circunscrita pela medida do saudosismo, ou da nostalgia com pigmentos mórbidos, não é cenário de possibilidades, mas um campo de batalha em que todos perdem: professoras, noivas, moças feias, rufiões, adolescentes, primas, meninos ensandecidos pela descoberta da sexualidade que é o primeiro jugo, a canga do mundo a aprisioná-los. Neste labirinto fechado e asfixiante, as taras são simplórias teatralizações da agonia. A agonia do desencontro, da impossibilidade de enxergar no outro motivação e estímulo para alguma coisa além do jogo primário dos instintos ou dos lances de espelho que os empurram para os braços vazios, incapazes de ninar, de ser porto de chegada, ser amparo. Cada um a seu modo está roído pela passagem do tempo, pelo descompasso entre o ser e o parecer, pela figura do outro que obceca, porém, jamais oferece a alavanca que permita quebrar as barras da prisão. O corpo e o sexo estão num trabalho físico de exorcizar o medo de não se ser suficientemente macho ou fêmea, daí que o vínculo sexual ergue-se no máximo como um atributo momentâneo, um atrativo suplementar de sedução que termina nele mesmo, cujo uso é sempre mais simbólico do que real, as súplicas de Sulamita que reboam no vazio da não-resposta, da ausência de alguém capaz de aplacá-las.
Arrastando-se num tempo passado de quando brotam lembranças, os personagens estão crus demais para o que a vida oferece ou deixa de oferecer. E ao tentar remodelar a vida segundo suas pulsões, caem na vala comum do machismo, da sexualidade desregrada, da impostura dos ícones que lhe são calcados como modelos de ser. Todavia, entre o modelo e a prática, aparece o fosso da individualidade. Nesta, todos se afogam, longe do mínimo plano coletivo de redenção. Danton Trevisan solta sua risada de mofa contra qualquer utopia e fere fundo ao trabalhar com a desesperança, com a burla, com o ludismo macabro em que cada personagem se aproveita um do outro, todos irmanados apenas no gozo rasteiro e efêmero. E, no final das contas, restam as efígies vazias, trincadas, irremediavelmente perdidas para a convivência saudável, seja o que for isto.
Seus personagens são como fôrmas ou modelos de estatuária de gesso. Sem massa, estão prestes a ser desfeitas com o mínimo sopro advindo da realidade que os cerca. E o que é esta realidade? A desilusão, o não-amor, a voracidade com que literalmente se comem, o joelho esfolado, as feridas nas pernas da mocinha, a mania de perseguição, o assassinato ou não, o mato em torno da casa como proteção contra o olhar do outro, o aborto, o namorar a moça e desejar a mãe dela etc. Famintos pelo gozo como sentido para a existência fuleira e para o cotidiano raso, nele encontram a estampa do sem sentido, o logro de um avançar épico de tanta circunvolução para atingir o topo de coisa alguma. Só que Dalton Trevisan não lança mão disto para tecer discursos lamentadores sobre a condição humana e suas vicissitudes. Pelo contrário: sem piedade, afasta-se de seus personagens e, com sua maestria de estocadas sutis, cinzela tipos acachapados, ri deles, entrega-nos seus fantoches amolecidos pela própria lubricidade. O autor não sente dó do gênero humano, nem tem grandes verdades para revelar a respeito dele. Fazendo cada um chafurdar na lama do próprio esterco, ele lava as mãos, corruíra isenta de tudo, como se dissesse: a mim compete mostrar e danem-se vocês com o que mostro. Julgar é problema do leitor, não do autor.
E desta atitude, surge a ironia implacável que começa com a desmistificação da própria Capitu: o caso da professora de letras com o aluno, bonachão, ela dez anos mais velhas que ele. O aluno é machista e o único da sala que não acredita na fidelidade da personagem emblemática de nossa literatura. E a professora tem seus esquemas desmontados no “põe tudo, seu puto”. Ela, com os filmes, com os ingressos pagos, com os convites arranjados; ele com o sexo, animal de carne contra o simulacro intelectual que pousa na sala de aula, mas sabe cruzar as pernas de modo apropriado. A professora é despótica na cama. De suposta aprendiz, transforma-se logo em mestra de toques. Ele sempre em silêncio, não porque preserva inteligência de destaque, mas simplesmente por não ter o que declarar. Cabeça vazia de idéias, percebe tudo o que ela faz para retê-lo e a cada vez, mais o afasta. A tia executora de promissórias vencidas é enjeitada como Capitu, e só lhe resta publicar um artigo na Revista de Letras sobre a traição da personagem machadiana como última trama e tentativa de reconquista. Temos aí a mítica da sexualidade que não aceita o declínio, o apagamento, a separação e nutre-se de secreta raiva ou despeito como forma de atingir o outro que, sendo jovem, tem o caminho aberto para mil outras jovens como ele. E disto, podemos perceber como a identidade feminina brota em parte dos modos como a professora se relaciona com o próprio corpo: “à sua mercê, na pose lânguida de pomba branca arrulhante. O queixo apoiado na mãozinha esquerda (…). O sestro de apertar o olhinho glauco que a faz tão sensual”e que, no frigir dos ovos, é trivial miopia.
Idêntico jogo ocorre entre o patrão e a empregada que atende aos pedidos daquele e acaba dando por si “toda em sangue” e, claro, “chorando na cama”, envolvida na mais completa solidão. O próprio sentido de um lúdico às avessas surge no “tudo que é jogo quando você é criança”, com o menino achando que a prima quer lhe passar as feridas das pernas, quando ambos se entretêm com um “papai e mamãe” à beira do abismo: outras crianças estão no quarto escuro e bastaria alguém acender a luz para surpreender os arrufos daqueles. Contudo, estando com a prima, o taradinho pensa é na tia, viúva moça, com prováveis muitos amantes. E na escatologia das feridas que recobrem a perna da guria, a luz enfim é acesa, o sexo é substituído por prosaica guerra de travesseiros, até que, enjoado pelo assédio e insistência da prima, o rapaz foge para o quintal, preferindo uma pelada de campo àquelas efusões de aprendizado erótico no seio da própria família.
De um lado e do outro há a irresistível solidão não arrefecida pelos arroubos carnais, a fissura entre o que deveria ser (a imagem da tia) e o que efetivamente é (a prima com as pernas descuidadas). E tais pernas nos oferecem o corpo vulnerável, o corpo em chagas, submetido ao olhar do outro e propiciador da fuga: as fantasias com a tia e sua provável vida sexual. Por isso, também, de um modo geral, os personagens ou mergulham no machismo ou seguem o condão da lembrança de uma Curitiba diluída na névoa de um passado que foi mais róseo, mais ingênuo e, assim, mais inteiro.
A ironia também brota do kitsch: “coxas portentosas” ou “colunas dóricas ou jônicas” sustentando “no centro a penugem do ninho de asinha de colibri”; os “longos cachos de uva tinta madura” para os cabelos ou ainda “o búzio do umbigo”, onde se esconde “em surdina” as vozes “de uma sereia assassina em série”. São as marcas dos loucos delírios dos embriagados pela carnalidade que mais castiga quanto mais prazer oferece e vice-versa. Personagens perdidos na vertigem da carne como consciência do pecado, da maldição de que não escapam, furibundos no desejo de espantar a solidão e mais a bebendo a cada ato, seja num simples beijo, seja no mergulho físico do prazer mais secreto e elaborado. Por isso, eles precisam de uma blindagem sexual e as imagens desgastadas do kitsch caem como uma luva para estes narradores tresvariados. Tresvariados porque quase sempre lembram estripulia do passado, quando da iniciação sexual, quando o amor era ainda uma promessa de redenção e realização, de centramento, de chão real para a vida: “saiu da linha, eu te arrebento. Te conheço, já estou sabendo. Você é aventureiro”. Figura-se aí o macho ameaçado, ele que tem no pênis sua última trincheira, sua principal característica a diferenciá-lo e também quase a condená-lo. Estes personagens estão a tal ponto convencidos de que sua identidade aninha-se entre as coxas que o menor turbilhão faz seu mundo desmoronar, enfraquece o cetro real, a virilidade deve ser sempre provada, apoiado-se no desempenho sexual: “caí direto na zona. Não queria outra vida”; “eu comi a cunhada primeiro e a mulher depois. A cunhada contou as proezas para a irmã, que se interessou”. Mas há a ameaça: “o maridão sabia da cunhada. Ficou meio cabreiro”. Em nenhum momento há uma luz jogada sobre o afeto, apenas no desempenho, naquela primeiridade antes referida, mas na qual também ecoa a figuração mental de um papel a representar, mesmo correndo risco. O enigma da reciprocidade não é chamado e o envolvimento é uma circunstância fortuita, um sugar o outro, a ponto de a coisa descambar para doenças: “Me deu na fraqueza. Peguei pneumonia, não tratei. O pulmão esquerdo rasgou. Sentei na cama tossindo sangue”.
Há também o caso do rapaz surpreendido pelo avô com a prima. É surrado e expulso, perfazendo a eterna diáspora da identidade fragmentada, em ebulição, no segregado do sexo que nada contempla, nem completa: “— Assassino, sim. Da tua própria filha. Bandido. Há de queimar no inferno. Monstro!” e como complementação trágica: “Absolvido no inquérito, mas não por ela, que o recebe aos gritos de três vezes maldito”. Vemos nesta passagem como o autor, por meio de seus narradores, trata de fazer tabula rasa da masculinidade, na confirmação de estereótipos que campeiam como coleiras nos personagens tantas vezes embrutecidos e, do mesmo modo, questiona tais atitudes.
Como a natureza nos dá um corpo genitalizado, é a cultura, de um modo geral e particular que não cabe discutir aqui, que imprime seu conteúdo, sua orientação, ou seja, o uso que fazemos deste corpo será direcionado pelas inflexões dos costumes e práticas e discursos da sociedade. Porém, em Dalton Trevisan, como já frisamos, é como se muitas vezes tal sociedade não agisse, havendo a degradação animal do sexo pelo sexo, como no conto Mais que o cipreste, em que a moça feia dá o golpe e se coloca no lugar da bonita e o rapaz aceita os encontros (no cemitério), como se fosse calcado dentro de trilhos de sulcos dos quais não tem escapatória e “longe, uma araponga maníaca martela o silêncio” numa elegia fúnebre àqueles pedidos de beijos e mordidas, na hora em que “nariguda e tudo” é “a mais linda de todas as irmãs”.
Enfim, na onda do café e do algodão, com cidade nova brotando em todo canto, a primeira entidade que se funda nelas é a zona, depois a delegacia, a igreja e o comércio, todas formas de prisão para estes personagens que se debatem dentro de uma couraça a impedi-los para a experiência do afeto, da ternura, do amor amadurecido ao longo da convivência. Na sua angústia, seguem o tacão do desejo e a inculcação da masculinidade mesmo quando esta brota no contato pedófilo com uma menina: “Eu não gostava. Ela queria beijar na boca. Boquinha faminta, pedia sempre mais”. Em suma, depois de todas as revoluções sexuais, descobrimos que não passamos de marionetes de nós mesmos, envoltos em tantas contradições e, longe de solucionar os problemas, arrancamos do baú outros muitos mais, percebendo, por meio dos personagens de Trevisan como a sexualidade está condicionada ao desempenho: excitação, ereção, penetração e ejaculação, nesta ordem, em que os critérios estão cerceados pela aura da funcionalidade. Sem romantismos, cada lance jogado no campo da sedução matreira que jamais corresponde a um enlevo afetivo. Para Dalton Trevisan, Romeu e Julieta estão completamente ultrapassados e, por este viés, o outro não é alguém a quem se aliar, mas de quem desfrutar, mesmo que desesperadamente, “ai quero te dar mesmo o que não tenho”, ou, como no conto em que a namorada faz aborto, enquanto o rapaz está de olho na mãe da moça: “a saia sobe, ela persegue-a com dedos longos e nervosos. Sacode o pezinho, ó pezinho. E de novo, ó panturrilhas. Ai, não: o som rascante da meia de seda (…)”. Noutros termos: se a sexualidade passa mais entre duas orelhas do que entre duas pernas, como quer Michel Dorais, as criaturas trevisianas parecem ir a contrapelo desta questão, trazendo para as páginas do autor a sexualidade apartada do amor, em que experiências globais são decepadas por atos egóicos, sem portar nenhum sentido se não o gozo que é sexo fast food de uma sociedade a perder todos os significados e enterrada na mercantilização erótica. Atento a isso, o autor paranaense desmonta o farisaísmo e aponta seu dedo para o centro pletórico desta mesma sociedade e quando quer faz poesia, como nas evocações dos odores e perfumes de certas ruas de Curitiba.