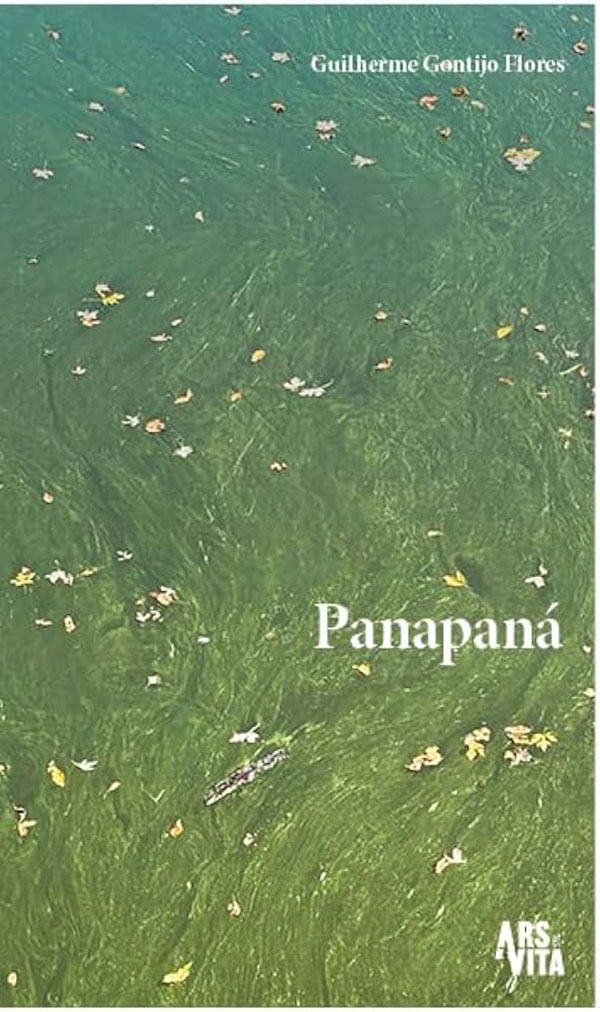A primeira vez que li um poema de Guilherme Gontijo Flores foi em 2013, quando o poeta Heyk Pimenta me mostrou, em sua casa, um exemplar de Brasa enganosa e insistiu que eu o levasse comigo. Salvo engano, é o primeiro livro de Flores, e foi publicado naquele mesmo ano pela Patuá. “É o editor da escamandro, aquela revista de tradução e de poesia contemporânea”, disse-me Heyk, “coisa fina”. O papel que essa e outras revistas e jornais contemporâneos tiveram para o boom da poesia em nossa década ainda não foi devidamente mensurado.
Seja como for, já àquela altura, a impressão que a obra me causou foi a de ter sido escrita por alguém intensamente comprometido com as palavras. Tanto no sentido de quem “namora” ou “transa” com a língua e com a poesia, em profunda intimidade, como no sentido de quem se envolveu com elas de forma tal que sua própria imagem saiu transformada do processo. Quer dizer, Flores me parecia ter sido comprometido, ou transformado, pela relação com as palavras.
O que significa esse duplo comprometimento na trajetória de Flores? Hoje, depois de mais de dez anos de Brasa enganosa, tendo o poeta dedicado boa parte de seu tempo à literatura e a diferentes tradições da palavra tanto na universidade — como professor e pesquisador — quanto em grandes casas editoriais e em veículos de comunicação, esse comprometimento aparece como abertura à alteridade. Flores está implicado com o outro.
Tal implicação se torna mais significativa em nosso tempo. Afinal, em uma época de narcisismo e autoafirmação heroica por meio da linguagem, quando a poesia é convocada como uma espécie de ferramenta através da qual um sujeito transparece e brilha em suas próprias palavras, os versos de Flores se destacam como tendo outra natureza. Através das palavras, o sujeito não se autorrepresenta, mas, mais precisamente, se transforma e se deixa afetar pelo outro. Isso acontece desde o seu primeiro livro, como disse — e com tamanha autoconsciência de continuar a tarefa poética de Rimbaud, aquela de tomar o eu como outro, que, em 2015, no livro intitulado L’azur blasé, lançado pela Kotter, o poeta emulou a sua própria dissolução e morte.
Por que a morte e a dissolução aparecem entre o eu e o outro? Porque é na abertura ao outro (em mim e/ou fora de mim) que me encontro com a finitude, isto é, com meus limites. Como transitar nessa fronteira, onde as coisas e os seres acabam e onde começam outras coisas e seres? Através da linguagem.
Alteridade e finitude
Agora, em Panapaná, o poeta segue confiando no imbricamento entre alteridade e finitude. Descentrado de si, toma a poesia não como método de autoexposição e autoexpressão, mas como força que o impulsiona ao contato com o mundo e que, consequentemente, o transforma. Em outras palavras, o poema surge aqui como experiência. Como nesses versos dedicados a um amor na primeira parte do livro, em que Flores diz:
É curiosa a ação do tempo, porque mudando
a carnação das coisas várias ao redor da nossa vida
esconde o que eu pressinto persistir. Por exemplo:
assim como um acento estranho num agá
altera sempre sua pronúncia numa língua longe
que ainda mal conheço, o teu perfume (e não
falei de uma fragrância de butique, não
pensei num fármaco sagrado que te oculte)
invade o meu e faz na minha pele um gesto
onde perdura a tua e assim me mudo
sendo teu
“Assim me mudo”: o poeta se muda porque o cheiro da amante se mudou para o corpo do poeta. E, nessa mudança, o poeta também muda, como um passarinho troca de penas. Mas não porque perde algo, e sim porque nele essa nova fragrância perdura. O jogo dos amantes que se mudam um para o outro é repetido no fragmento a partir do jogo de aparências que as palavras estabelecem em pares: “carnação” e “coisas”; “pressinto” e “persistir”; “acento” e “agá”; “língua” e “longe”; “fragrância” e “fármaco”; “tua” e “teu”.
Como diz em outro verso, o poeta estabelece com a amada, mas também com a língua, “um amor que só se dá no tempo”. Toma, assim, o tempo como sua principal matéria lírica, como outrora Drummond e Gullar. Mas com isso seu projeto poético se reencontra com uma aporia histórica na qual esses poetas também esbarraram (e que se verifica em poemas como Áporo, do primeiro, ou Omissão, do segundo). Mas a forma com que essa aporia atinge o nosso tempo é mais intensa. Que aporia é essa?
O nosso tempo é o mais comprimido de todos. Acossados pela falta de memória e pela impossibilidade de construção de utopias, com a promessa de destruição do mundo chegando por todos os lados a cada minuto, vivemos acorrentados a um presente distópico. Como fazer amor ou poesia “que só se dá no tempo” justamente num tempo que só conhece um brevíssimo agora e em que todo instante aparece já como ruína? Como fazer alguma coisa durar num tempo em que, citando Marx, “tudo o que é sólido se desmancha no ar”?
Essa aporia se manifesta na série de poemas dedicados aos filhos. Se a primeira parte se ocupa do amor erótico (e, por extensão, da questão da alteridade), a segunda se detém sobre uma pergunta enunciada no século passado, mas cujo alcance se torna insuportavelmente maior nestes anos: é possível fazer poesia após ou mesmo durante o fim do mundo? Quanto a Flores, o poeta pergunta “como poderá/ um som nascer do escombro”?
Eu não sei a resposta para essas perguntas, e acredito que Flores também se coloca no lugar de perplexidade diante delas. Não procura exatamente uma resposta. Mas encontra, nos escombros do fim do mundo, sinais de vida. E é com esses sinais que o poeta se compromete em sua fala endereçada aos filhos:
Meus pequenos, o que amamos
se perdeu e já se acerca,
mas vocês farão um mimo
neste mundo, neste carco-
mido mundo que, tão pobre
segue mundo, segue vida.
Eis a trama que se abre,
porque tudo segue vida,
e esta carta em pouca fibra
só entrega isso: vida,
porque tudo nos escombros
segue mundo, segue vida.
Como disse, o trecho pertence à segunda parte do livro. Ela se intitula Monami, e, segundo o próprio poeta afirma em nota, trata-se de uma “palavra em quimbundo para designar ‘minha criança’, ‘meu filho’.” Na mesma nota, Flores também esclarece que escreveu a seção “em muitos metros musicais que tenho usado em português por meio da tradução de poemas gregos e romanos”, pensando numa “execução vocal cantada ou entoada”.
Solução formal
O que é interessante nesse gesto é que aqui passado (tradição poética) e futuro (os filhos) se religam ao presente (o poeta ou o leitor que canta). A solução formal para a aporia não resolve o impasse do nosso tempo, mas propõe um desenho de comunidade familiar como lampejo de saída para a crise. A herança deixada para os filhos não é material — é a herança de muitos mundos que acabaram e que seguiram como mundo e como vida depois do fim.
Mas, entre as três partes do livro, a mais comovente é a terceira. Ela se intitula Araguyje ñemokandire — segundo Flores, “Primavera, ainda”, correspondendo a uma “expressão do mbyá-guarani para designar a virada do ano, a partir da noção de madureza e também da prática ritual dos cemitérios das ossadas.” Num dos poemas o poeta estabelece uma conversa com um passarinho. Gosto muito quando poetas conversam com passarinhos. A língua dos pássaros, aliás, é tema de cantos e poemas de diversas tradições da palavra, dos trovadores provençais aos ensinamentos dos próprios Mbyá-Guarani sobre o surgimento do mundo. De volta ao poema de Flores: nos primeiros versos, ele nos diz que o passarinho está berrando. Ele berra de sede, de fome, de gozo. Ou talvez berre “a própria vida sem sentido”. O poeta também se compromete com esse passarinho: no duplo sentido de amante, que cria com ele uma intimidade, e de metamorfose, de maneira a não se manter o mesmo.
No canto dele eu também me descubro
nascem-me plumas no bigode, mudo
contemplando os passarinhos de outubro
com seus nomes que aprendo enquanto mudo
de cores e tons. Obrigado, eu berro
por isso que pareceria um erro.
Obrigado pela dor e o desterro
de estar cantando aqui, agora, enquanto
a muda nova me permite ser o
que não sabia ser e cobra ao canto
seu quê de grito e riso e obrigado
por nos dar vida onde se espera morte
em vida, (…)
(…) por dar crias
enquanto o céu caía docemente
em cima das nossas cabeças frias
A poesia de Panapaná, como o berro do passarinho, se oferece como um presente, uma dádiva, num mundo em ruínas. Para atravessar o fim do mundo que nos ameaça, ela confia na aliança entre diferentes povos, tradições, seres, cantos e formas para a solução de problemas que ameaçam a nossa existência. Aposta nessa espécie de coletivo, de comunidade dos incomuns, que não permanecem os mesmos depois de formar comunidade. Aposta, portanto, numa incomunidade de cantores, escritores, leitores, ouvintes, que possa formar um estranho coletivo de cores e formas, como numa nuvem de insetos, um coletivo de borboletas, panapaná. Ou, como dizem os versos que dão título ao livro, o poeta aguarda o seu amor
no meio da panapaná, pra que essa nuvem viva,
para que os ovos rompam, bichos comam, tudo brote
de novo e outro, assim é que me rendo, assim aprendo.