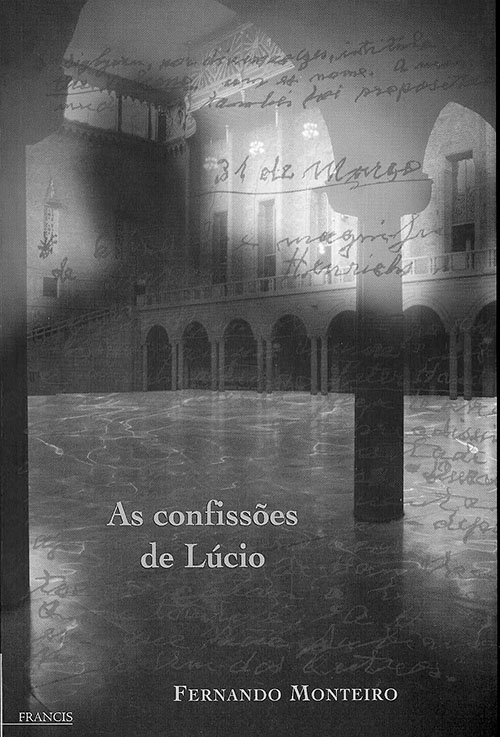Por Luís Henrique Pellanda e Rogério Pereira
Para quem escreve o pernambucano Fernando Monteiro? Segundo ele, não para os leitores do passado. E faz questão de convidar, para esse ato de imersão em sua literatura, “os loucos, os bêbados, as putas e os inimigos”, em cujos elogios promete acreditar. Com o recente lançamento do romance As confissões de Lúcio, Monteiro dá continuidade a uma história e a um projeto iniciados em 2002, com a publicação de O grau Graumann. Lúcio Graumann é um escritor brasileiro desconhecido entre seus conterrâneos e que, repentinamente, acaba laureado com o Nobel. Dias antes de receber o prêmio, porém, o homenageado morre. Atormentado, o jornalista Mauro Portela, que se considera plagiado por Graumann, antigo colega de profissão, fica encarregado de administrar o espólio literário do grande autor falecido. A partir dessa trama, Fernando Monteiro, misturando ficção e realidade, criações suas e personagens verdadeiros — entre eles, vários escritores nacionais consagrados —, debate questões bastante amplas sobre literatura no Brasil e no mundo, seus propósitos e suas mesquinharias. Sempre polêmico e combativo, é sobre esses assuntos que Monteiro falou ao Rascunho.
• O narrador de As confissões de Lúcio diz que “a literatura brasileira é uma luz estranha de tungstênio entre os lustres e as fogueiras do continente obscuro. Nossa alma no vácuo compreende o outro — mas não se compreende”. Esta também seria a sua definição para a literatura nacional? Qual a sua opinião sobre a atual produção dos autores brasileiros?
Antes de mais nada, gostaria de pôr em dúvida o valor das entrevistas de escritores a respeito dos seus livros. É uma coisa que precisaria ser repensada, pelos próprios e pelos editores de jornais e revistas. Porque o que acontece é, primeiro, a projeção de uma determinada imagem (ou auto-imagem), ainda que involuntariamente, do escritor entrevistado, sobre a tela das perguntas, muitas vezes em busca de explicações “horizontais” por sobre a verticalidade do teor de um livro. Claro, há livros e livros. Seja como for, uma vez ouvi García Márquez falar sobre isso: ele dizia que uma entrevista o fazia entrar, sem falha, na pele de “García Márquez”, e responder às perguntas como talvez o entrevistador de GM esperasse que GM respondesse, criando-se, daí, um labirinto de espelhos que às vezes resvalavam na ilusão egocêntrica e até mesmo na mentira… Bem, eu não sou García Márquez, mas acho que, ao responder a perguntas sobre seus novos livros, mesmo os escritores sem fama internacional, não deixam de fornecer uma leitura da sua obra (uma das possíveis), provavelmente prejudicada por ser justo a do autor, a daquele que já falou o bastante por meio do livro em si, o qual aguarda por ser lido “livre” da sombra do escritor como que vigiando os “significados” daquela obra, a leitura dela “corretamente” (do seu ponto de vista). Tudo em nome dessa vontade monstruosa de explicar que grassa no Ocidente desde o Iluminismo, pelo menos. Dito o que, passo a responder à pergunta, lamentando estar aqui para fazer isso (porque também é necessário divulgar os livros, segundo dizem). Qual era, mesmo, a pergunta? Ah, aquela coisa do narrador de As confissões de Lúcio, que diz que “a literatura brasileira é uma luz estranha de tungstênio entre os lustres e as fogueiras do continente obscuro. Nossa alma no vácuo compreende o outro — mas não se compreende”. Se esta seria também a minha definição da literatura nacional? Eu tenho uma definição dela? Talvez Mauro Portela, o tal narrador, tivesse uma. Esse “vácuo” abre outro vácuo na minha mente, penso na alma em branco da nossa cultura. Não sou, como o agora candidato a senador Ariano Suassuna, idiota o bastante para tentar propor uma mitologia para o Brasil (que nunca teve uma cultura autóctone) a partir daquelas idiotices sobre o Sertão da Onça Castanha, Malhada, sei lá, aquela coisa toda que forra a Pedra dele. Estou dizendo isso para irritar, de cara, quem rola de rir nas aulas-espetáculos do “professor de Bestética”, como Jommar Muniz de Brito chamava — hoje, não chama mais — o homem capaz de dizer que José de Alencar é mais importante do que Joyce e outras sandices. Mas por que eu desandei a falar do Suassuna? Por causa da cultura de Pindorama? Ele é ela? Não. A cultura brasileira é uma esfinge que nunca decifrou a parte que apenas acaba de (começar a) fazer parte do seu estômago de antropófaga, a cultura brasileira é esta resposta longa — e apenas a primeira — sobre um livro inteiro tentando responder a isso em duzentas e tantas páginas, e a resposta certamente é incompleta, porque somos como Deus: estamos ainda nos formando dos nossos próprios erros.
• Desde Aspades, ETS Etc., sua obra se caracteriza por estar sempre às voltas com o falso, num permanente jogo com o leitor. Esta opção criativa se distancia de um certo naturalismo que impera na literatura atual. O senhor se considera um escritor marginal?
Totalmente. Me considero marginal, lateral, fora da série numerada da literatura tupiniquim e do álbum de figurinhas brasileiras com os lugares marcados na memória oficial (muitas das quais fotografadas para o Rascunho olhando para o fotógrafo com “ar inteligente”, com direito a debate nas folhas centrais e duplas e tudo o mais). Esse “naturalismo” para mim é inexplicável, e fede como queijo de coalho enrolado com um rato morto num trapo do guarda-roupa do quarto de empregada nos fundos da casa. Essa gente quer restaurar Zola via a (falsa) “grande arte” de Rubem Fonseca? Só aqui no Brasil o desconhecimento das coisas poderia passar por originalidade retardatária. Vou tentar ser bem didático quanto ao que penso: não é possível, simplesmente não-é-possível escrever, hoje, com a confiança de outrora no tecido narrativo — a “máquina em pane” da qual fala José Castello, nosso único crítico, neste momento, realmente contemporâneo e acordado para a necessidade de duvidar do texto, de interrogar a escrita, de pôr em dúvida a narrativa, como último recurso da modernidade (depois, nem isso haverá mais), certamente. A maior parte dos escritores de ficção do Brasil, nesta hora agônica, está ESCREVENDO PARA O PASSADO. Bote isso aí em caixa alta.
• O senhor sempre combateu a atuação da Academia Brasileira de Letras. Em As confissões de Lúcio, as referências à ABL são bastante irônicas. Por que esta “batalha” contra os imortais?
Há dois ou três anos, eu escrevi um longo artigo, neste jornal, sobre a ABL, que responderia bem essa pergunta. Nele, eu explicava que vejo a Academia — qualquer academia nos moldes dezenovescos da nossa “querida” ABL — exatamente como uma sobrevivência (até curiosa) do passado, no conteúdo e na forma imitadas da francesa, com espadas, dourados e penachos feitos dos bigodes de José Ribamar, vulgo Sarney, e outros beletristas lá assentados como “imortais”. De qual imortalidade se está falando? O que há de veludo, alfenins, chás e bombons na maldição do ato de escrever? Porque escrever é uma maldita pulsão que nos assola, isto é, assola a alguns, destrói suas vidas e os afasta da norma e até da felicidade (do rebanho). Escrever só é uma profissão porque os livros editados são vendidos e remuneram os escritores, de alguma forma, por meio de direitos autorais e até de prêmios como o Camões (no valor de quase 180 mil dólares), que acaba de ser recusado por Luandino Vieira, em Portugal. Aproveito um assunto da ordem do dia para “didatizar” o que foi chamado de minha “batalha” contra a vitória de Pirro de ser acadêmico, imortal, múmia, o que quiserem. Trata-se da reação à recusa do prêmio Camões 2006, por parte do talentoso e digno escritor angolano José Luandino Vieira. Veja como isso foi recebido na Academia Brasileira, segundo o jornalista Ancelmo Góis: na sua coluna, ele informou que “caiu como uma bomba”, lá, a notícia da recusa do prêmio mais importante da literatura em língua portuguesa, etc. Góis informou que Marcos Vilaça, presidente da Academia, disse que “respeitava o gesto do escritor”, porém considerava que “Vieira faria melhor, já que é tão envolvido com as causas populares de Angola, se aceitasse o dinheiro e depois o doasse para alguma entidade ligada a estas lutas”. Isso é pura Academia, o espírito mesmo das pessoas que estão lá, ou que querem estar, obrando. Porque respeitar o gesto do Luandino, ora, todos temos que respeitar (para começo de conversa), não é verdade? Imagino a tarde da notícia, na Academia cheia de velhinhos (e o aborrecente Paulo Coelho, garotinho do Palácio Trianon, onde vaga o fantasma revoltado do grande Machado) em torno da longa mesa de pastéis, empadas e bolo para degustarem com o chá das quintas-feiras (a reunião é às quinze horas, paga “jetom” e tem “livro de ponto”). Escritores brasileiros são muito sensíveis a prêmios e, principalmente, a dinheiro e a tudo que traga dinheiro: cargos, empregos, sinecuras, assessorias especiais e vantagens diversas. Então, devem ter ficado, primeiro, chocados com a decisão do Luandino, até mesmo irritados com ela, chateados com a recusa do sonhado Camões. Haveria algum Vieira brasileiro, capaz de, por princípios, recusar 100 mil euros e mais um diploma dourado que já foi para as mãos (no Brasil) de João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, Rubem Fonseca e Lygia Fagundes Telles? Duvido. O bolso é um lugar de especial sensibilidade na bolsa literária local, onde se briga feio por prêmio até de prefeitura. Isso é autêntica Academia, o seu eu coletivo e profundo, incomodado, no fundo da alma mofada, pela notícia de um escritor africano a esnobar a Europa das honrarias (e das academias) portuguesas, espanholas, suecas, francesas e outras. Se Luandino houvesse aceitado o prêmio — de acordo com a maliciosa tese de Marcos Vilaça — para depois “doá-lo” (sic), primeiro, ninguém estaria escrevendo sobre o assunto, porque tudo teria decorrido como dantes, sem novidades no “quartel de Abrantes”. Segundo, nas reuniões futuras da Academia, só se ouviria o descrédito: “Luandino doou nada! Cem mil euros! Só acreditaria vendo!”. Isso é pura, sempiterna e hilária ABL legítima, velha de malícia político-literária de um século em torno da longa e farta mesa do plácido palácio das letras, que recolhe aluguéis e rendas de todo lado e não mantém um único programa de traduções dos escritores importantes, de bolsas-trabalho para os novos e tudo mais que ela até poderia fazer, se não fosse naturalmente engessada, solene e supérflua. Deixando o Camões de lado, façamos, no final, a pergunta inevitável: para que diabo serve uma academia, a não ser para a vaidade empavonada dos presidentes Sarneys e dos magos Coelhos? (Não esqueçamos: Getúlio Vargas e o general Aurélio de Lyra Tavares também viraram imortais eleitos pelos votos dos notáveis que lá são sepultados, os crânios pelados virados para o passado da mesma maneira que…)
• Além de Lúcio Graumann, que escritor brasileiro merece ganhar o Nobel de Literatura?
Não vou responder dizendo apenas que não vejo nenhum à altura (como realmente não vejo) porque o Nobel já distinguiu escritores medíocres como Toni Morrison e Dario Fo, para citar premiações recentes (e houve inúmeras outras injustificadas, ao longo do tempo: John Galsworthy, Jacinto Benavente, Pearl S. Buck, a lista de nulidades laureadas é longa). Outros — como Yeats, Shaw, Mann, Eliot, Saint-John Perse, Seferis, Singer, Cela, etc. — foram realmente merecedores da láurea internacional. Porém, uma coisa é certa: o taco deles era forte. Ninguém — mas ninguém mesmo — é premiado com o “caneco” sueco de mais um milhão de dólares (atualmente), sem ter traduções e, principalmente, curso do seu nome na bolsa internacional de literatura, fazendo-se conhecido no âmbito da alta cultura, seja lá o que isso ainda queira dizer, na era da alta vulgaridade. Isso, porém, é outra discussão. O importante, por ora, é ressaltar que nenhum “Graumann” de Santa Cruz do Sul será premiado assim como acontece no meu “volume um” (O grau Graumann, Editora Globo, 2002). Portanto, é inútil esperar por algo, neste momento, ainda mais remoto do que o Oscar dourado (que poderá até estar “pintando”, como se diz). Até agora, entre os brasileiros, quem teve a melhor chance — sob esse aspecto — foi só Jorge Amado, sem dúvida. João Guimarães Rosa tinha obra para tal, mas essa não tinha curso suficiente (e, talvez, fosse “preciso” premiar um português antes — porque eu ouvi dizer, de fonte segura, que os acadêmicos suecos achavam uma “gafe” dar o prêmio a um escritor do Brasil, país “herdeiro” de uma língua ainda não distinguida antes do soporífero Saramago ter o seu mau-humor laureado pelos velhinhos. Isso — também — é pura Academia, também lá no Norte da Europa).
• Ao fim de As confissões…, lê-se que “literatura não se faz sem arriscar o pescoço dos autores não-amadores. Por que, então, poupar o pomo de Adão do longo pescoço dos editores?”, numa referência a possíveis personagens reais ao longo do livro. O senhor considera que a falta de profissionalismo guia a relação das editoras com os autores?
A leitura do trecho final não é essa. Há, ali, um jogo satírico com as advertências usuais do tipo “qualquer semelhança é mera coincidência”. Pelo contrário, naquele aviso final, eu estou reiterando: “qualquer semelhança não é mera coincidência”, as pessoas estão citadas pelos seus verdadeiros nomes e tudo o mais. E é a verdade. Vou contar uma historinha (verdadeira). Antes de enviar o livro para a Francis, enviei o original de As confissões… para a Companhia das Letras. E recebi uma recusa muito educada, até mesmo gentil, porém vazada nestes inacreditáveis termos — passo a ler a carta datada de 29 de março de 2001, que tenho aqui em papel timbrado e assinado —: “Caro Fernando. Com muito gosto lemos o seu livro encaminhado através da Elisa. Como tudo o que é seu, é desnecessário opinar sobre a qualidade do texto. No entanto lamento dizer-lhe que não obtivemos das duas leituras realizadas a convicção de que este seja o livro certo para que uma mudança para a nossa editora se concretize. Há um desconforto [o grifo passa a ser meu] com o fato de a editora e pessoas do nosso conhecimento fazerem parte do enredo, etc. Um abraço, Luiz Schwarcz”. Sem comentários. E prosseguindo: sou consciente de que muita coisa do Confissões está à espera — talvez por muitos anos, ainda — do amadurecimento do leitor brasileiro. Mas, pelo menos a Francis, apesar de nova, está já amadurecida para o “projeto Graumann”, que não se esgotou com o romance recém-lançado na 19.ª Bienal do Livro.
• Quais serão os próximos passos do enigmático Lúcio Graumann?
Está acertado com o editor da Francis, Roberto Nolasco, o lançamento do terceiro e último volume da trilogia, ainda neste ano. Sairá, numa caixa, juntamente com O grau Graumann e As confissões de Lúcio, ambos em relançamento.
• Fernando Monteiro é melhor escritor que Graumann?
Fernando Monteiro, pra começar, não ganhou o Nobel. Ainda. Entretanto…
• José Castello disse, numa resenha recente publicada no jornal O Globo, que o senhor “não escreve para brilhar ou comover, mas para produzir perturbação”. O senhor concorda? Como se produz perturbação nos leitores de hoje?
Castello é uma voz lúcida e quase solitária em certas posições corajosamente assumidas. Por sinal, acredito que ele vá pagar caro pelo fato de estar, aqui e ali, denunciando, mais do que acertadamente, a crítica engessada que se urde nos departamentos de Letras das nossas universidades. Mas a caravana ladre e os cães passam. Quanto ao que ele diz na resenha, suponho que, em certa medida, alude a uma crença nossa, que inclusive foi discutida, em Curitiba, quando daquele projeto de debate em torno do ato de escrever, com escritores convidados ao Teatro do Sesc da Esquina, em 2003 (Inventário das sombras, coordenado por Castello). Essa crença é a de que o escritor, ou melhor, o artista da modernidade (plena) precisa produzir significação antes de mais nada — para não perder o último vagão do bonde da estética não confundida com a bestética ensinada nos cursos de Letras (e, já agora, nos cursos de “formação de escritores” dispostos a ensinar até as manhas das entrevistas e outras mumunhas). Eu precisaria do Rascunho inteiro para explicar essa tese que me propus a discutir no Sesc, num evento que até rendeu uma cena de As confissões…, na qual Mauro Portela encontra (por acaso?) o Lúcio Graumann num vôo para Londrina, com escala em Curitiba. Uma forma, também, de homenagear a cidade que tenho como minha — depois do Recife da cruz que carrego.
• Para que leitores o senhor escreve?
Não os do passado, certamente — com toda estima e respeito que me merecem os mortos que tiveram o privilégio de ler as primeiras edições de um Joseph Conrad, por exemplo. Você sabe, eu acredito que todo escritor escreve para aprender. Não para aprender a escrever, veja bem, mas para aprender, saber, conhecer algum núcleo misterioso das coisas e o seu eu, o qual será o compartilhamento final da experiência da sua obra com o fantasma do leitor sem rosto, num quarto solitário. Escrevo para o leitor que eu sou, para o leitor fora de mim, e para o futuro que se entorta na dobra do presente insondável. Palavras solenes, ao som de violino feito com a boca torta dos loucos que já não querem ler (como Nijinsky). Eis aí, surgiu aqui uma boa idéia: convido os loucos para lerem os meus livros, junto com os bêbados que deixaram de ser crianças porém se tornaram bêbados, ao menos. E não quero que nenhum acadêmico me leia, mas todas as putas delicadas e meus inimigos (não esquecê-los!), pois acredito no elogio deles.