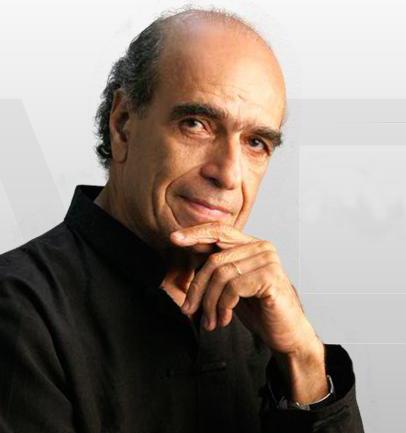Tendo que dar um curso na Casa do Saber/Rio em 2012, intitulado Como a ler a poesia de Carlos Drummond de Andrade, me vi obrigado a refazer o caminho da “leitura” que, entre 1965 e 1969, havia feito de sua obra e a rever a questão da “leitura” que outros fizeram de sua poesia. O livro Drummond, o gauche no tempo — hoje em sua quinta edição pela Record — havia sido publicado pela primeira vez há exatamente 40 anos pela Editora Lia, do saudoso Léo Vitor, quando em 1972 celebravam-se os 50 anos do modernismo e os 70 anos do poeta. O livro foi lançado no Teatro Ipanema, num espetáculo de que participaram Rubem Correa, Ivan Albuquerque e outros atores.
Consideremos: o título do curso parece ser de uma obviedade irritante. Como é que alguém pode querer ensinar “como” ler a poesia de um dos autores mais “lidos” em nossa língua? Os “leitores” que estão “lendo” Drummond não estão lendo Drummond?
A questão parece simples, mas é simplesmente complexa.
Ler a leitura que se faz é uma dupla atitude, é, como dizem na universidade, metaleitura: é ler uma radiografia, ver o que não se vê aparentemente. E o que vou fazer aqui é mais que uma releitura, é uma metaleitura de minha própria leitura e da leitura alheia. E digo logo uma coisa entre o surpreendente e o estapafúrdio: às vezes a leitura que fazemos de um texto (ou fenômeno) se torna mais compreensível e transparente muito tempo depois que a produzimos. Isto é o mesmo que dizer que produzir uma leitura nem sempre é sinônimo de compreender integralmente o próprio processo em que nos metemos. No meu caso, alguns anos depois de realizar a leitura da poesia de CDA é que me senti inteirado e capacitado a compreender melhor. Acho que hoje, mais de 40 anos depois, é que estou pronto para defender a tese que defendi em 1969 na UFMG. Quanto mais fazia conferências por todo o país (e no exterior) sobre a obra do poeta itabirano, mais clara se tornava a própria leitura, como se fosse possível redescobrir o que já havia descoberto.
Isto significa que no trabalho crítico há algo comum a todo processo de criação. Assim como o poeta não se dá conta de todos os processos que colocou em movimento, também o analista, por mais onisciente que seja, não controla todo o sistema que utiliza. E é possível, como no meu caso, que, revendo o trabalho anos depois, descubra/perceba nele coisas que não havia percebido (embora lá estivessem).
Tipos de leitura
Esperando que isto não esteja muito confuso, tento me explicar.
Consideremos o que poderia ser uma platitude: há uma enormidade de tipos de leitura que podem, em princípio, ser agrupados em dois tipos: leitura do leitor comum e leitura do leitor profissional.
Leitura do leitor comum
Decorre de várias motivações. Pode o leitor se acercar emocionalmente de um poema que descobriu por acaso. Tal leitor pode ser também um leitor contumaz: lê para curtir, para sentir o mistério e/ou magia de palavras comuns que, usadas por escritores, dizem coisas que o leitor não pode/não sabe dizer por ele mesmo.
Este é o que eu chamaria de “leitor em estado puro”, se é que existe tal coisa. Ele lê para ser lido pelo texto que lê.
Leitura do leitor profissional
Aqui cabe já um novo conceito de leitura, ou seja, leitura como crítica e/ou interpretação. Esse tipo de leitura se descola da leitura ingênua e espontânea e pretende ser mais “profunda”. Busca um entendimento mais racional e técnico. Tenta-se aí explicar o efeito que o texto produziu no leitor. É feita por professores, resenhadores, ensaístas. Pretende ser informativa e explicativa em vários sentidos. Lida com o texto e com o contexto. Na maioria das vezes é uma “paráfrase” do texto, uma maneira de dizer o que está na obra, porém de outra maneira, como se o leitor/crítico fosse uma espécie de intérprete.
Evidentemente que esse segundo tipo de leitura tem vários matizes e pode se desdobrar de maneiras múltiplas, que implicam num grau crescente de complexidade. Tentemos caracterizar algumas dessas leituras para assinalarmos as características daquela que realizamos da poesia de Drummond. Correndo o risco de uma categorização sumária, eis os tipos de leitura possíveis de serem encontradas em torno da obra desse poeta:
1. Leitura historiográfica
Aqui se localiza a época em que viveu o autor, as revistas e jornais onde colaborou, a geração a que pertencia. Faz-se um levantamento de sua participação no modernismo brasileiro, sua localização na literatura, na vida política e social, tanto quanto a seqüenciação de suas publicações.
2. Leitura estilística
É um tipo de estratégia que vigorou nas faculdades de Letras e nos jornais até os anos 1970 e que consistia em destacar sobretudo os torneios estilísticos das frases. São leituras pontuais de certos poemas e comportamentos formais. Assim, estudava-se, por exemplo, como Drummond, apesar de modernista, utilizava a rima (A rima na poesia de Carlos Drummond de Andrade, de Hélcio Martins); de que maneira desenvolvia o processo de repetição de palavras (tese de Gilberto Mendonça Telles), como utilizava a técnica “palavra-puxa-palavra” nos poemas (Esfinge clara: palavra-puxa-palavra em Carlos Drummond de Andrade, de Othon Moacyr Garcia).
3. Leitura fenomenológica?
Em parte ainda no território da estilística, busca perceber extratos da composição do poema. O exemplo melhor é o de Maria Luiza Ramos, que aplicou no poema Elegia de Drummond a teoria e técnica de Roman Ingarden.
4. Leitura filológica e lingüística
Mesmo tendo certo parentesco com a abordagem estilística, detem-se em estudar vocabulário, variação lexical e evolução da língua no autor.
5. Leitura comparada
Procura paralelos e/ou afinidades entre Drummond, Valéry, Supervielle, Dante, Camões, Molière, etc. É uma maneira de se acercar da obra dos autores através de um jogo de espelhos onde sobressaem afinidades e divergências.
6. Leitura formalista
Detem-se no aspecto das formas poéticas utilizadas pelo autor ou no seu caráter “inventivo”, procurando ressaltar sua originalidade ou sua linhagem numa história das formas literárias.
7. Leitura comparativa com outros gêneros
Ressalta-se aí a relação entre poesia e artes plásticas, cinema, jornalismo, teatro, música, etc. É um tipo de crítica paralela, um modo de conhecer uma coisa através da outra.
8. Leitura biográfica
Privilegiando a biografia do autor, descreve sua formação e os passos de sua obra, suas relacões sociais, políticas e amorosas, contextualizando o texto.
9. Leitura temática
Destaca temas que sobressaem em seus textos: família, terra, cidade, erotismo, cromatismo, ironia, pai, solidão, memória, infância, história, etc.
10. Leitura interdisciplinar
Realizada a partir de aspectos psicológicos, filosóficos, sociológicos, geográficos, religiosos, políticos e econômicos. Trata-se de espelhar uma disciplina (literatura/poesia) em outra.
É possível que existam outras leituras de Drummond, e alguns estudos mesclam uma estratégia com outra. Todas essas leituras pretendem ser uma contribuição para o entendimento do autor.
Minha leitura
1.
Sempre disse aos alunos que comigo faziam tese de mestrado e doutorado que havia duas possibilidades ao se aproximarem de seu trabalho: ou o desempenhavam formalmente para conseguir o título almejado ou jogavam-se existencialmente no tema/autor/obra, convencidos de que aquele investimento intelectual iria modificar também sua vida, pois ao analisar a obra de alguém tinham a oportunidade de passar em revista não só o próprio conhecimento adquirido, mas a sua própria filosofia de vida. Portanto, abusando do trocadilho: uma tese não é uma hipótese; nos melhores casos, é um rito de iniciação.
2.
Ao ler sistematicamente (entre 1965 e 1968) o que havia sido escrito sobre Drummond e estudar sua obra, tive ao mesmo tempo várias sensações: primeiro, a de que as leituras críticas se repetiam. Isto, em princípio, é natural. Seria impossível que os cerca de 600 textos sobre ele (na década de 1960) fossem sempre originais. A maioria era “declaração de amor” sob espécie de resenha ou crítica. Em geral, os autores desses textos não conseguiam “formalizar” seu pensamento. Eram atestados da admiração e louvor ao poeta extraordinário que tinham diante de si. E limitavam-se a estudar — às vezes brilhantemente — poemas isoladamente, e não toda a obra. Quando se referiam à obra em geral, não produziam um conhecimento novo. Em síntese, o texto do poeta me dizia mais coisas do que seus intérpretes. A transposição para a prosa ensaística até enfraquecia o que a condensação mágica da poesia oferecia.
Tentanto visualizar o que eu lia, pode-se dizer que os ensaios sobre sua obra se dividiam em dois grupos, assim configurados:
Grupo 1: Estudos que privilegiavam imagens substantivo-concretas.
Aí sobressaíam tópicos como fazenda, pai, cidade, família, Itabira, ilha, infância, história, poesia (ars poetica), etc.
Grupo 2: Estudos que privilegiavam imagens/inquietações adjetivas.
Solidão, incomunicabilidade, preocupação social, ironia, erotismo, maturidade, procura, amor, memória, etc.
Os estudiosos dissertavam especificamente sobre esses temas/images/sentimentos tentando ver o todo na parte. Eram, em geral, trabalhos tópicos, temáticos, estilísticos. Quando relacionavam alguns dos elementos substantivos e adjetivos, não formalizavam um modelo interpretativo do conjunto.
3.
A parte inicial do meu trabalho, primeiramente, foi intuitiva e em aberto, como quem joga uma rede para colher tudo o que o mar pode oferecer.
Em seguida, virou algo mais específico: comecei a fichar toda a obra do poeta, poema por poema, livro por livro. Iniciei, como quem faz um balanço num almoxarifado ou num arquivo disperso, um trabalho de anotação de tudo o que estava na superfície, sobrenadando nas frases dos poemas. Não havia necessariamente uma ordem nisto, era algo como aquela enciclopédia estranha e meio anárquica a que aludia Borges.
Nesta parte do trabalho, anotei em centenas de fichas todos aqueles temas que a crítica dizia existir, todos os torneios retóricos, estilísticos — ou seja, mapeei o que diziam mais o que não tinham dito e que eu estava descobrindo. Mas isto, evidentemente, ainda não bastava. Poderia ficar por aí, já seria um levantamento razoável de obra àquela altura (1965/1969), quando só duas teses haviam surgido sobre Drummond. Ocorreram então os seguintes momentos/movimentos que hoje, à distância, vejo mais claramente na estruturação de minha análise.
4.
Depois de um amplo levantamento de tudo aquilo que sobrenadava na superfície do texto e do contexto drummoniano, percebi, como numa reação química, que certos elementos se procuravam, se atraíam, se complementavam formando pares.
Iniciava-se a primeira descida a uma camada menos visível da obra. Ela começava a se organizar aos olhos do analista, como no microscópio as células de um organismo começam a se aglutinar em busca de um sentido e/ou vida. Alguns desses pares eram: província/metrópole, campo/cidade, fazendeiro/burocrata, pai/filho, Itabira/Belo Horizonte, Itabira/Rio, Brasil/Europa, janela/rua, ilha/continente, espiar/contemplar, lagoa/mar, interior/exterior, pequeno/grande, escuro/claro, noite/aurora, mar noturno/farol, mariposa/luz, amor/morte, metrópole/necrópole, destruição/reconstrução, poesia/memória, essência/aparência, tudo/nada, instante/eternidade, poesia/jogo, vida/teatro, etc. (digo “etc.” porque foram centenas de itens/fichas anotados).
5.
Ao mesmo tempo em que descobria a tensão entre os pares que se solicitavam, selecionei os que me pareciam mais fortes, mais informativos. Havia uma percepção de que esses pares selecionados tinham a característica daquilo que futuramente eu ia conhecer na lingüística e nas análises de mitos, como elemento marcado e elemento não-marcado. Ou seja, havia algo explícito e implícito, mais ou menos exposto, um dito e não-dito. Os elementos desses pares podiam estar in presentia ou in absentia.
6.
A seguir, parti para uma estratégia quase ausente da crítica brasileira, que é a estilística quantitativa. Iniciei a contagem estatística dos principais referentes dessa poesia: província/metrópole, referentes cromáticos (claro/escuro) e as metáforas relativas à água em sua múltipla aparição. Esses referentes condensavam muitas informações, eram a síntese da síntese.
Poema por poema, livro por livro esses dados quantitativos indicavam dados qualitativos. A estilística quantitativa fazia o aspecto material dialogar com o imaterial, o objetivo com o subjetivo, o poético com o estatístico.
Se a estilística quantitativa era praticamente ignorada nas análises de obras no Brasil, também não conhecia àquela época nenhuma experiência entre nós que levasse tal levantamento ao terreno da informática. Em 1970, criando a pós-graduação de Letras na PUC/RJ, iniciei pesquisas no Rio Datacentro com a idéia de montar ali um banco de dados sobre literatura brasileira.
Comparado com o que existe nesse campo hoje, era tudo muito primitivo. Os computadores eram enormes. Você só podia perguntar ao computador o que de antemão já sabia. O processo era por meio de cartões perfurados, nos quais eu deveria marcar o que futuramente gostaria de ver confirmado. Neste sentido, forneci aos computadores os dados que tinha e ele me devolveu a ilustração visual do que ocorria no interior da obra estudada.
Assim, enriquecendo a tese já defendida, a primeira edição de Drummond: o gauche no tempo trazia diversos gráficos executados pelo computador ilustrando os dados estatísticos, estilísticos e estruturais levantados. Em outros termos, assim como aqueles pares anotados mantinham uma tensão informativa sobre os sentidos da obra em estudo, a análise quantitativa iria me conduzir a conclusões qualitativas, dizendo-me que alguns sentidos latentes nessa poesia poderiam quantitativamente ser mais bem apreendidos.
No meu estudo estão diversos gráficos resultantes das estatísticas em cada livro até aquela época (Reunião, de 1969, englobava a obra de CDA).
7.
Outra percepção também surgia no tempo em que a tese estava em elaboração: não só os elementos se reuniam aos pares e podiam ser quantificados, mas surgiam como variáveis de um sistema que os reunia, os trespassava dando-lhes coerência. Uma coisa era anotar um ou outro par isolado, outra era correlacioná-los procurando uma identidade entre eles. Além das variáveis, havia uma variante que atravessava todos esses elementos, era a invariante: tempo. A noção, por exemplo, de província/metrópole, lagoa/mar, claro/escuro, amor/morte ia se modificando à medida que o tempo transcorria. Estruturalmente, a invariante (tempo) puxava/ordenava todos os temas antes espalhados ou dispostos apenas aos pares. Tempo/espaço passaram a ser o ímã, a força gravitacional e crítica de todo o trabalho. A pesquisa, portanto, havia saído de um deslizamento pela superfície do texto (por onde anda a estilística e a crítica interessada em temas, aspectos retóricos e tópicos), mas se concentrava no núcleo invisível/ausente aos olhos do leitor e do analista comum, e que a análise estruturadora presentifica.
Releva fazer aqui uma observação (pessoal) que tem correlação com o estudo desenvolvido, sobretudo com a questão do tempo. E surge algo interessante em relação ao método de pesquisa, à obra analisada e à trajetória do analista. Vou me dando conta disto depois de ter feito aquele livro, depois de ter dado aquele curso. Há, portanto, uma análise da análise, um método em progresso. Em geral, os estudos e análises não revelam este aspecto, o que é uma falha metodológica (e até epistemológica). É preciso sempre saber de que lugar, de que ponto de vista o observador está se expressando. Estou querendo dizer que assim como os planetas têm suas conjunções ou épocas mais propícias para serem observados, há fases em que a colocação do observador dentro do sistema é mais favorável e até coincidente para a análise. A metáfora astronômica tem a ver com isso. Os estudos na Física sobre a localização do observador em relação ao fenômeno (conforme Einstein e Eisenberg) explicam parte do que estou tentando dizer.
Sendo mais claro: a percepção da problemática do tempo na ocasião em que fazia a tese me ocorreu porque existencialmente eu estava também redescobrindo o tempo e o espaço. Portanto, esta não era uma questão exterior a mim. Vivendo pela segunda vez no exterior, numa cultura diferente da minha, aproximando-me dos 30 anos, estava dando um balanço geral na minha visão de mundo. Enquanto eu estudava o “outro” também estudava a mim mesmo. E tinha consciência disso. Eu não poderia perceber na obra alheia essa invariante se ela não fosse um reflexo, produto também de minhas inquietações. Houve, portanto, uma sincronicidade, uma simbiose, uma superposição de perspectivas. Eu estava em condições ótimas para minha análise. O texto e contexto se imbricavam.
Sabem os cientistas que suas descobertas ocorrem em momentos de conjunção/confluência em que a percepção se torna mais aguda. Por que Arquimedes e não outros, por que Newton e não outros, por que Einstein e não outros atinaram com certas percepções, equações e fórmulas? Por que tantos olharam as nuvens e os regatos e a torneira pingando água e só Mitchell Feigenbaum foi capaz de fazer a “teoria do caos”, organizando o acaso e o caos cientificamente?
Com efeito, no curso dado na Casa do Saber eu havia fornecido alguns elementos sobre essa conjunção espácio-temporal entre o analista e a obra analisada, a exemplo daquela crônica Fazer 30 anos. Ao escrever este texto agora, ia eu deixando isto de lado e me perguntei por que estaria negando por escrito o que havia oralmente dito aos alunos. Concluo que este texto que escrevo é uma obra em progresso. Assim como a análise que fiz há cerca de 40 anos não é estática no tempo e no espaço, menos estratificada foi se tornando com o curso e com este texto, que me faz pensar, repensar, digerir como boi (“Boitempo”?) que tem quatro estômagos e volta sobre o mastigado várias vezes.
Isto, reafirmo, não é uma divagação pessoal como parecia à primeira vista. Isto é enfrentar a questão do método em terrenos em geral ocultados do público. E o elemento pessoal, psicológico tanto pode ser um obstáculo intransponível como pode facilitar a conjunção analítica.
8.
Nessas alturas, não eram mais suficientes as análises literárias, retóricas e estilísticas, e me vi lançado no estudo do tempo, seja na literatura, na filosofia, na ciência. A interdisciplinaridade se impunha. Proust, Bergson, Cassirer, Bachelard, Einstein, Eisenberg, Niels Bohr e as mais variadas teses escritas sobre o tempo, fossem em El Cid, Beckett, Virgílio, Borges, Machado, Joyce, Eliot, Faulkner, Pessoa, etc., passaram a me interessar.
Se fosse possível ilustrar graficamente o movimento que a poesia analisada refletia, seria algo como uma grade onde estariam todos os temas, motivos e recursos estilísticos, trespassados por três linhas temporais — presente, passado e futuro —, mas com setas indicando as repectivas direções. As direções aparentemente divergentes entre passado e futuro, no entanto, acabariam condensadas numa noção de duração, fluxo contínuo que é o presente lírico-poético.
9.
Como conseqüência — primeiro porque estava superando os pares, segundo porque a categoria tempo só pode ser entendida em sua correlação com o espaço como um continuum (tempo/espaço) —, desdobrei o estudo do espaço em vários autores e no próprio Drummond. A sintética afirmativa de Novalis “tempo é espaço interior, espaço é tempo exterior” articulava tudo. Imagens espácio-temporais disseminadas na obra do poeta podiam ser agrupadas até mesmo de uma forma que ia do particular ao geral: corpo, espelho, retrato, passando por casas, edifícios, cidades e aliciando outras como canto, gaveta, arquivo, baús, armário, mala, máquina, etc. Mais que simples palavras, esses termos passavam a ser espaços a serem analisados em sua riqueza de implicações.
10.
Essa crescente entrada na camada mais profunda da obra levou a outra observação: certas imagens/assuntos/temas sofriam uma metaformose na seqüenciação da obra. Era como se houvesse um vaso comunicante entre certos termos de significados diferentes. A palavra rosa, por exemplo, pertencia, em certos poemas, à significação da luz, do diamante, da orquídea, da poesia e da memória. Surpreendi o não-isolamento das imagens e a conexão estrutural entre elas. Estava diante do que se chamava imagens continuadas. Certos significados trespassavam várias metáforas. Assim, existiam conexões expressivas entre termos aparentemente distantes que a poesia reconfigurava.
11.
Nos estudos literários é comum utilizar o termo “eu lírico” para mostrar a universalidade de certos traços do poeta. Assim, isola-se tecnicamente a biografia e aproxima-se mais da objetividade. No entanto, eu estava diante de algo mais denso e informativo dentro do caráter sistêmico da obra analisada: havia um personagem latente que articulava todo esse universo de perplexidades, um personagem/persona, um “Eu” que era um avatar, um simulacro do poeta, desenvolvendo uma peripécia no tempo e espaço. O tempo/espaço não eram categorias soltas, mas uma experiência humana indissolúvel dentro do indivíduo. E esse indivíduo estava se exibindo na primeira estrofe do primeiro poema do primeiro livro: o personagem gauche estruralmente era crucial para aglutinar toda a obra.
Essa coisa que me pareceu gritante, nunca a havia visto tão ostensiva em nenhum autor. E, claro, o poeta não havia premeditado, não havia pensado, naquela década de 1920/1930, quando escreveu esse poema, que se colocasse abertamente esses dados iria facilitar a tarefa de seu analista. Mas quando ele começa a repetir nos poemas aqueles traços anunciados e quando anota (conscientemente) no texto embaixo da foto de sua família “1915. Carlos Drummond de Andrade (primeiro à esquerda)”, já estava trabalhando a própria representação.
De repente, toda a teia de temas anotados esparsamente pela crítica e por mim ganhou sentido numa rede. Foi como se num só tecido duas coisas se complementassem: a urdidura e a trama. A urdidura é o conjunto de fios horizontais de um tecido que cruzam e ganham consistência quando os fios da trama cruzam o conjunto transversalmente. Tecnicamente se poderia dizer que sintagma e paradigma se articulavam. Toda a obra era um sistema no qual as peças, antes soltas, se articulavam. E eu não estava delirando, não estava inventando. O que eu descobria estava no texto expresso, explícito. A microanálise do texto apontava as palavras fundamentais do autor que agrupam um sentido implícito em seu discurso poético.
Havia, portanto, já saído da leitura inicial dispersa; havia passado pelo segundo estágio da leitura dos pares; havia avançado e descoberto a invariante que ordenava outros temas; tinha agora algo ainda mais consistente: um personagem.
12.
Que personagem era este? Como caracterizá-lo?
Lembro-me de ter lido num dos ensaístas do “new criticism” americano que o crítico funciona mesmo como um astrônomo. Olhando o céu demoradamente, ele começa a ver a organização do texto. É assim que o céu é um texto para quem o sabe ler: surgem surpreendentes centauros, escorpiões, ursas maiores e menores. Os índios brasileiros também vêem o céu, vêem aí outros animais de acordo com seus valores cosmogônicos. No entanto, é preciso cautela. Não se pode simplesmente decretar que o céu (ou obra) tem tal ou qual figura. Há uma questão de verossimilhança. Empiricamente, a observação tem que ser constatada.
Ora, estava tudo expresso na poesia à minha frente. Melhor e mais espantoso: as informações estruturadoras e o estudo estavam na primeira estrofe do primeiro poema do primeiro livro: o personagem era gauche, nasceu sob as ordens de um “anjo torto” e vivia na “sombra”. Não bastava anotar essas características. Tecnicamente, elas exigiam uma formalizacão, sem a qual continuariam no nível de impressões. Sob aquelas palavras gauche/torto/sombra configuravam-se elementos objetivos operacionais: espaço/forma/cor. Mas isto ainda podia ser mais bem formalizado. Era necessário sair do impressionismo crítico. Então cheguei a esta tríade que universalizava aqueles atributos do personagem: topologia/ morfologia/ cromatismo.
O personagem desenvolvia uma peripécia no espaço, tinha uma forma e as cores ilustravam seu drama. Possuía agora nas mãos os instrumentos objetivos operacionais para trabalhar. Poderia compreender melhor o que estava disperso nas análises: o gauche psicológico e sentimental; a displaced person geográfica e cultural; e o excêntrico literário e social. Texto e contexto se informavam, poesia e vida se completavam. A análise extraía da obra uma estrutura, e não simples impressões.
13.
O leque foi se abrindo. Sinônimos de gauche, “torto”, “sombra”, e exemplos de “excêntricos” e displaced se multiplicavam. O campo semântico se expandia. Confirmando a vocação dramática dessa poesia, o personagem gauche, usava várias máscaras, cada uma com uma função conforme os atos e quadros do drama: José, Robson Crusoé, bruxa, o elefante, K, etc. Essas máscaras eram variáveis de um sistema de representações; representações que usavam disfarces nominais (como “Carlos” e “Carlitos”) e pronominais (“eu”, “tu”, “você”). Estava me aproximando de um núcleo de significados: se todo poeta tem um dramaturgo dentro de si, se na poesia há monólogos, diálogos e uma representação, restava entender essa dramatis personae no theatrum mundi.
14.
A obra do poeta podia ser compreendida, então, como uma peça de teatro em três atos, que haviam sido nomeados (inconscientemente?) por ele em lugares diferentes dos seus livros, e que cabia ao crítico apontar, agrupar. Todas as oposições anteriores condensavam-se na oposicão paradigmática. Eu versus mundo. O que até então outros anotaram de maneira geral podia ser formalizado, condensado numa fórmula, numa tensão dramática. Digo “fórmula” como poderia dizer “modelo”. Certas fórmulas, certos modelos construídos pela ciência têm a virtude de condensar e de representar uma realidade “ausente”. A fórmula final de Einstein sobre a relatividade sintetiza e representa uma realidade que se presentifica e se torna compreensível na equação exposta E=mc².
Na época da escrita da tese eu não havia entrado a fundo na obra de Lévi-Strauss para saber como ele visualizava, como ele “dava a ver” a estrutura da organização social dos índios brasileiros, como extraía modelos sintéticos que explicavam a passagem do cru ao cozido e a passagem da natureza à cultura. De minha parte, conseguia visualizar, dar consistência estrutural e estruturante àquilo que antes estava esmaecido e não configurado. A fórmula, a equação, o modelo que a obra do poeta sugeria era este: estava diante de um fluxo contínuo no tempo e espaço e de um ator específico que representava uma peça de teatro em três atos:
1. Eu maior que o mundo (“Mundo mundo vasto mundo/ mais vasto é meu coração”, Poema de sete faces);
2. Eu menor que o mundo (“Não, meu coração não é maior que o mundo/ É muito menor”, Mundo grande);
3. Eu igual ao mundo (“O mundo é grande e pequeno”, Caso do vestido).
As palavras dessa “equação” eram do poeta. Como um analista, eu estava pontuando para o paciente o que ele mesmo dizia. Essas palavras estavam dispersas na obra, mas faziam parte de um sistema rigoroso, tão rigoroso quanto é o sistema que coordena o caos do inconsciente.
E as dezenas de temas e tópicos de sua obra passavam por esses três momentos com características muito especiais (as imagens continuadas, por exemplo) que reafirmavam o conjunto. As três divisões ou fases da obra do poeta podiam ser vistas de outra maneira e não se limitavam à cronologia e aos títulos dos seus livros.
15.
Nessas alturas eu não estava mais lidando com as díades, mas descobrindo as tríades. Não estava apenas reunindo os pares, mas percebendo outro elemento mediador tempo/espaço que tornava visível o sistema que tinha à minha frente. Havia passado do dois ao três. Da antítese à dialética.
Forçoso é introduzir aqui uma obsevação sobre essa leitura regressiva e progressiva que estou realizando. Digo “estou” porque ela continua a ser feita não apenas entre 1965 e 1969, não apenas enquanto dava aquele curso na Casa do Saber, mas, espantosamente, continua a ser realizada. Quero dizer, por exemplo, que este texto já estava pronto quando certa noite, numa insônia significativa, veio-me ao espírito claramente que em minha tese eu havia feito (sem me dar conta) a passagem do dois ao três, da díade à tríade como um salto dialético e metodológico.
Se isto estava na tese original, era somente agora que, de repente, isto se formalizava ao meu espírito. Foi como se a formalização crescente e latente em meu estudo agora se tornasse mais visível. E essa tríade era verificável não só naqueles três momentos “eu>mundo”, “eu<mundo” e “eu=mundo”; ela se configurava ainda de outra forma, que tento explicar: a crítica, em geral, sempre viu na obra de Drummond a existência de três fases, nomeadas “irônica”, “social” e “metafísica”. De certa maneira, isto corresponde aos fatos textuais. No entanto, essa classificação é muito frouxa, impressionista e óbvia. A rigor, é até imperfeita, pois a obra posterior do poeta de “sete faces” desdobra-se em outras facetas. Poder-se-ia, nessa linha, dizer, por exemplo, que depois da fase metafísica viria a fase da memória, ou da redescoberta da estória pessoal e da história nacional, ou, enfim, da criação singular “diário poético” em que se convertem seus últimos livros.
Mas isto é uma observação sem formalização. Já a formalização da tríade ajuda a melhor entender o projeto poético em andamento. Aqueles três momentos do Eu e o Mundo são paradigmas que abrigam algumas metamorfoses de sua poesia e abrangem toda a obra. Tomemos a título de exemplo os elementos (alguns) amplamente estudados no livro: as metáforas aquáticas, os referentes visuais e os elementos topológicos vistos agora nesta diposição triádica:
Eu>Mundo Eu<Mundo Eu=Mundo
lagoa rio mar
espiar ver contemplar
janela rua avenida
Dou esses três exemplos como poderia indicar a transmutação triádica de ironia/drama/compreensão ou província/cidade/memória. O fato é que uma série de elementos que identifiquei no trajeto do gauche configura a tríade como elemento da maturidade do personagem. Se a díade (como impasse) psicologicamente marca a relação primeira (da mãe do bebê) e geometricamente refere-se à bidimencionalidade, a tríade não apenas supera os elementos antitéticos, mas refere-se à harmonia possível na escala humana.
16.
Nesse contexto estruturante e estrutural, nessa visão sistêmica da obra, foi ficando claro (com Heidegger) que o verbo entendido como Zeitwort (palavra carregada de temporalidade) era elemento importante para se compreender o movimento do personagem gauche que saía de seu canto provinciano para a metrópole/necrópole de seu tempo, expondo-se tanto à destruição (física) quanto à construção (metafísica) do conhecimento poético.
Já não era mais questão de analisar os substantivos e as adjetivações, mas redescobrir o verbo drummoniano em sua potencialidade. Não bastava falar, aludir; imperioso era demonstrar objetivamente. Havia que analisar os verbos. Uma pesquisa mostrava que verbos como procurar, pesquisar, andar, seguir, carregar, pisar, ir, vir, perder, caminhar, nadar, deslizar, viver, viajar, amar tinham importância no deslocamento do personagem. Alguns poemas, nesse sentido, eram exemplares, como A um hotel em demolição, no qual a partir da afirmativa “todo hotel é fluir” anotei dezenas de termos relativos ao fluxo e à destruição.
17.
Aos verbos e seu sentido de fluxo contrapunham-se (aparentemente) os substantivos, que deveriam ser o lugar da retenção do tempo e do fluxo: corpo, bolso, quarto, espelho, retrato, gaveta, cofre, baú, mala, urna, casas, edifícios, cidades. E esses substantivos davam notícia da catástrofe humana do indivíduo exposto à destruição no tempo. Por outro lado, a categorização de Bachelard ao perceber na poética do espaço “objetos que se abrem”, “objetos-sujeitos” e “objetos mistos” ajudou a formalizar a pesquisa. Na verdade, o fluxo/destruição do indivíduo no tempo/espaço passou a ser compensado pela memória, pela palavra poética capaz de restaurar metafisicamente o que fisicamente vai se desintegrando.
18.
O estudo da memória, do além do tempo/espaço, conduziu inevitavelmente à indagação sobre o tudo e o nada. O poeta que na segunda fase havia dito “o tempo é minha matéria”, ao final vai dizer “minha matéria é o nada”. Memória é forma de re-sentir, de repetir, recriar, mas em outro plano. A partir do livro Boitempo isto vai se cristalizar. A província (o passado) é restaurada afetivamente, não mais ironicamente como nos primeiros livros. O poeta não espia; desenvolve o agudo olhar, contempla. Agora sim faz mais sentido a epígrafe de Claro enigma: “os acontecimentos me entediam”. Já se sentindo além do tempo, ultrapassado o conflito do claro/escuro, no plano da memória há uma luminosidade intemporal da rosa, do diamante, da flor. O gauche que antes dizia “fique torto no seu canto”, agora, estrapolando as categorias de tempo, dirá: “Eis que eu mesmo me torno o mito mais radioso/ e talhado em penumbra sou e não sou, mas sou”.
19.
Depois de ter enfrentado a delicada e sofisticada questão do “nada”, da “recusa” às soluções fáceis para a solução (relativa) do mistério e do enigma, havia que aprofundar uma questão exposta no tema da destruição: a morte. A morte que estava presente nas casas, no corpo, nos edifícios, na cidade, nos amigos que se vão, no amor e na própria poesia. Evidentemente esse personagem se comportava como “um ser para a morte”. Acordar para a morte, um despertar crescente da consciência no tempo. Conhecer a morte como modo poético de alongar a vida. Neste sentido, o pensamento de Heidegger em O ser e o tempo e em Introdução à metafísica instrumentalizava a compreensão dessa poética: o gauche é aquele “estranho” a que se referia Heidegger (das Heimliche) que sai e se retira do “familiar, caseiro, íntimo” e, como o personagem decantado no coro da Antígona de Sófocles, encontra na morte a aporia final.
20.
Heidegger, que tanto estudou a linguagem poética de Píndaro, Hölderlin e Sófocles — aproximando o poeta e o filósofo, achava que a poesia era um exercício de conhecimento —, me oferecia ainda alguns conceitos muito operacionais. A poesia de Drummond se refere a inquérito, busca, procura, segredos, símbolos, mistérios e enigmas. Num dos poemas, indaga: “trouxeste a chave?”. E ele mesmo diz: “é mal dos enigmas não se decifrarem a si próprios”. Também assevera: “o enigma tende a paralisar o mundo”. E eu diria: o enigma tende a paralisar a leitura, a compreensão do texto. Portanto, há que decifrá-lo. Há um deslocar-se, um encaminhar-se do canto escuro e provinciano do indivíduo para a pólis de seu tempo. E dois instrumentos heideggerianos me foram úteis:
20.1.
Primeiro, o conceito de poesia como logos (“reunião revelante”). Diz Heidegger: “quem é o homem, não chegaremos a saber por meio de uma definição erudita senão poetando originariamente, fundando poeticamente”. E como não bastasse o caráter sistêmico de sua obra, e junto com a pesquisa verbal e existencial, constatei que Drummond nomeou significativamente sua poesia completa de Reunião. Uma reveladora coincidência entre o poeta e o filósofo.
20.2.
Por outro lado, o conceito de obra como projectum (um constante lançar-se à frente de si mesmo) estava em consonância com o périplo desenhado pelo gauche nos três atos de sua relação com o mundo.
20.3.
Igualmente, a noção de “destruição” em Drummond dialogava com a mesma noção no pensamento heideggeriano. E mais ainda com os conceitos de “ruína” e até de “fama”.
20.4.
Também o conceito de aporia (presente em Sófocles e Heidegger), ao mesmo tempo em que dava um sentido superior ao poema Áporo, coadunava com o conceito de estranho (gauche/displaced), aquele que é expulso do que lhe é familiar (gauche) e encontrava ressonância na questão do homem como ser para a morte.
Releva observar que tecnicamente eu não estava mais fazendo simplesmente um estudo comparado entre filosofia e literatura. Estava trazendo para dentro do estudo literário instrumentos da filosofia, e não levando a literatura para fora de si mesma.
21.
Finalmente, um conceito existente na psicologia, na religião e, sobretudo, na literatura vinha completar esse quebra-cabeça e esclarecer os enigmas enfrentados: epifania. Cito, então, autores modernos como Joyce e Eliot que tinham consciência deste fenômeno. Filósofos racionalistas como Descartes experimentaram essa dimensão do conhecimento até naquele sonho de 1619 que gerou O discurso do método. Em nossa literatura, Clarice Lispector (como mostrei posteriormente em diversas análises) era uma autora epifânica. A epifania, enfim, reunia os conceitos tomistas de integritas, proportion e claritas que iriam explicar o classicismo de Drummond.
Se epifania tem três acepções confluentes — a revelação súbita de uma verdade (psicologia), revelação de Cristo aos gentios (religião) e a obra de arte como revelação —, em Drummond havia uma epifania em progresso. Se a obra, como na epifania, tinha vários pontos luminosos, alguns poemas, aqui e ali, irradiavam mais luminosidade. Assim, poemas que haviam sido analisados apenas estilisticamente, apenas retoricamente, passavam para outra dimensão até que se chegasse ao clássico. A máquina do mundo extrapola a temática de Camões ou o diálogo com Dante e deve ser analisado junto com Relógio do rosário: em ambos a “recusa” da solução absoluta do enigma é fundamental para esclarecer dialeticamente o próprio sentido do enigma.
Curso/percurso
Se é difícil refazer o curso dado na Casa do Saber, impossível é sintetizar o livro ou a metodologia utilizada na análise da obra de Carlos Drummond de Andrade.
Se no tempo em que fiz tal análise havia uns seiscentos artigos e estudos sobre o poeta, hoje talvez sejam seis mil. E minha análise, pelo número de edições desse livro, pela permanência na bibliografia crítica do poeta, parece resistir. E há um dado intrigante que não posso deixar de lembrar: depois de 1969, quando meu livro ficou pronto, o poeta publicou várias obras novas. Lembro-me que quando eu lecionava na Universidade da Califórnia (1965-1967) um professor me perguntou se não temia fazer uma tese sobre um autor vivo cuja obra estava em construção. A pergunta não era de todo estúrdia. No entanto, eu estava localizando um tipo de estrutura intemporal da obra que não era invenção minha. Se Hölderlin dizia que “odeia o Deus sensato o crescimento intempestivo”, eu sabia que estava lidando com um autor que não dava “saltos intempestivos”. Pois os livros posteriores vieram confirmar e aprofundar os modelos propostos.
No entanto, mais de 40 anos depois, em 2012, 110 anos do nascimento do poeta, ao terminar o curso na Casa do Saber, uma aluna que por coincidência foi minha colega de turma na saudosa Faculdade de Letras da UFMG, Heloisa Carvalho, contou-me espontaneamente que certa feita, aqui no Rio, encontrou o poeta no elevador. E não tendo o que lhe dizer, mas querendo se comunicar, falou:
— Eu queria lhe dizer que fui colega de faculdade do Affonso Romano de Sant’Anna, que escreveu uma tese sobre o senhor.
Drummond prontamente respondeu:
— Pois é, minha filha, ele me desparafusou todo…
Eu já tinha ouvido do poeta essa declaração, já tinha lido isto na imprensa, e para mim soou mais como a confirmação de afinidades, da eficiência do método utilizado. Sabia que o poeta indicava minha tese como modelo a ser seguido para aqueles que queriam também fazer tese sobre ele. Ou seja, meu método de trabalho não era um método exterior à obra, mas um método surgido das entranhas da obra num diálogo com o olho do observador. Um método que somava contribuições interdisciplinares várias, mas as trazia para dentro do campo literário, fazendo o texto falar suas potencialidades.
Diria que essa preocupação estruturante sempre esteve presente em meu espírito, antes e depois do estruturalismo. Exemplo posterior é Barroco: do quadrado à elipse (2000), no qual proponho um novo modelo de interpretação do Barroco (ontem e hoje, nos vários campos do conhecimento) a partir da derivação do quadrado e do círculo para a elipse. Já em Análise estrutural de romances brasileiros (1972), construí dois modelos interpretativos não como ponto de chegada, mas como ponto de partida para a análise.
Sobretudo, minha peripécia ao analisar a obra de Drummond excedia à comum declaração de amor a um autor, extrapolava o dever de uma tese universitária e, como eu dizia na introdução do livro, “decifrar o enigma do poeta identificou-se com o decifrar o enigma de todo homem, e o meu próprio”. Daí aquela experiência epifânica que narrei numa crônica e que transcrevo aqui como forma de exprimir o inexprimível da experiência poética.