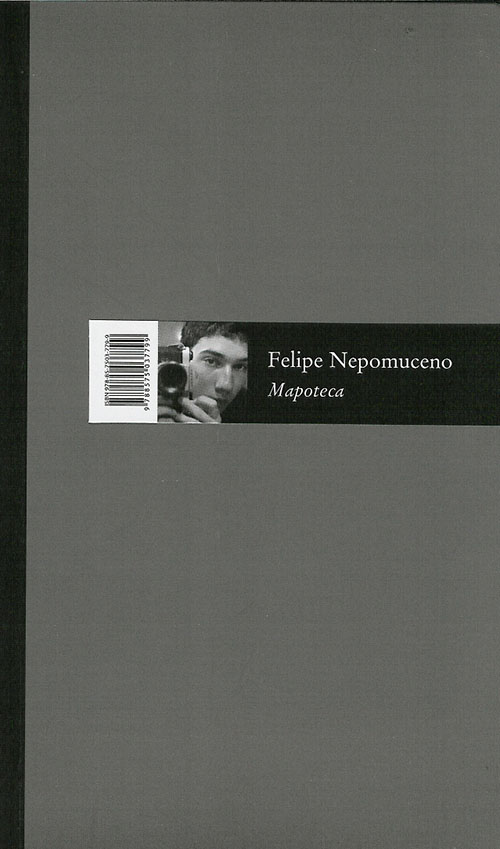Por entre as latitudes, longitudes e meridianos de um quiasmo arriscaríamos começar (ou encerrar!?) o mapeamento deste Mapoteca, arquivo vivo de poemas escrito e (des/re)organizado por Felipe Nepomuceno: seja se apresentando como geografia de sua poética, seja como poética de geografias, o autor nos chama a percorrer seus livros em um único livro e, a um só tempo, suas passagens pelo mundo afora na passagem, a cada vez única, pelo mundo adentro de sua — agora nossa — poesia.
Essa aparente apresentação de um mapa de obra (na reunião dos livros O marciano, Calamares e O aquário) trai, no entanto, a si mesma ao trair a própria noção de “mapa” que, para a geografia, consiste na representação de um todo estático, enquanto, em Mapoteca, se dá — e, paradoxalmente, se desfaz — nos traçados do inacabamento e da abertura a territórios de escrita ainda não visitados nem trazidos, até então, ao público. Afinal, outras seções, aparentemente constituída de inéditos, se somam ao que poderia ter sido somente um mapeamento, ou seja, uma antologia de poesia reunida. Quando, na geografia, os desenhos de relevo, clima e vegetação acompanham e se fazem ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisagem, a noção de “cartografia” emerge mais pertinente. E é nessa recusa à precisão e à imobilidade do mapeado, em nome da dúvida dadivosa do cartográfico, que Nepomuceno não chega aqui à sua obra completa: parece partir, sim, sempre da incompletude de que vive cada paisagem da escrita. E é neste sentido que ele, o escrito — enquanto escrito da paisagem, escrito de passagem por países e idiomas tantos — passa também por mudanças ao longo das páginas, tanto no que diz respeito ao conteúdo quanto à forma (e supondo que haja realmente dicotomia entre forma e conteúdo). Do predominante emprego do poema conciso (um tanto aforismático, simultaneamente sintético e fragmentário) até a aparição surpreendente dos contos (não menos poéticos) na obra, tudo se encontra e se desencontra sujeito à errância de um viandante, de um nômade, de um exilado, de um urbano cigano capaz, inclusive, de cartografar e cartografar-se na plasticidade genuína, anterior à palavra, dos desenhos que também publica-rascunha.
Uma poética de geografias como esta não comparece, portanto, na condição de uma construção verbal e criativa que traz determinados lugares como temáticas de sua aventura. Eles também a tornam seu tema: não fazem dela apenas um lugar, outro, em que meramente se escrevem, mas o lugar novo que escrevem, que deles é filho porque acolhe e recolhe sua memória genética; seus influxos e sintomas; sua história como herança: “A cidade onde vivo/ é somente um livro” é o que ouvimos da boca das palavras que batem pernas por tamanho universo urbano.
Talvez essa possibilidade de entender o poeta e o poema não como os sujeitos desses lugares, muito mais como seus objetos, possa diminuir a sensação que temos, a todo tempo, de estarmos diante de uma escrita circunstancial e restrita ao pontual de um instante flagrado segundo o ponto de vista de seu escritor-viandante, sem qualquer chance de se sustentar na contemporaneidade de um leitor em encontro com ela. Se, ao revés, deixarmo-nos ser flagrados como o verdadeiro instante dessa escrita, a sua nunca ultrapassável circunstância, poderá ela nos alcançar e comover. Do contrário, e graças ao caráter de quase anotação dos poemas, não ter ido, em momento algum da vida, a cidades como Turim, Barcelona, Buenos Aires, Nova York e Brasília, por exemplo, ou, pelo menos, não conhecer minimamente a realidade factual ou a história dessas localidades, nos impedirá de ouvir o que os aforismáticos poemas têm a dizer para além da subjetividade do autor. Uma vez que não parecem decididos a tornar essas cidades mais íntimas de nós, eles esperam que já sejamos previamente íntimos de cada uma delas, mas isso ocorrerá apenas quando entendermos que a intimidade maior deva ser com o próprio desconhecimento das cidades estrangeiras que nos compõem. Seremos íntimos de todos esses cenários quando eles, agora personagens sobre nosso palco, espécies de heterônimos de nossos lócus anônimos (“Existem muitos mexicanos espalhados pelo mundo”), vierem dar voz ao forasteiro topus que nos des-desenha. Quando convivermos não com a falsa promessa de uma referência a lugares visitados, sentidos e registrados, mas com o cumprimento do deslocamento desses espaços, da sua fuga ao registro (porque, aparentemente sintéticos, os poemas deste livro acabam por adiar qualquer síntese ao manterem em suspenso seus sentidos, nas bordas em que se revelam inteiros enquanto fragmentos). Caberia ao leitor, assim, habitar não a extensão de um suposto espaço mapeado, concluído, mas os contornos frágeis em que ele e nós extraviamos e nos quais o que se fixa é apenas a não-fixidez do que segue em movimento. O que se registra é a própria tentativa da registro, que, não se cumprindo efetivamente, isenta a palavra de toda subjetividade e objetividade, para que ela se faça somente — e essencialmente — o verbo que nos lança no ínterim (no transe do trânsito, espacial e temporal) do que ainda não é por estar sempre em via de ser. Na via do ser: “Velas, dunas e páginas/ não vivem sem Movimento”.
Quando, finalmente, em nossa aparente obra humana reunida, descobrirmos os livros inéditos de nosso corpo em cartografia, Mapoteca será nome para esta biblioteca não mais feita pela notação circunstancial, mas pelo que (a)parece mais notoriamente radical em nossa carne: o fato de que não nos constituímos apenas do que conhecemos e vivemos, mas de um ilimitado desconhecer e morrer que nos abre a porta para a vida, de modo que qualquer cidade já visitada siga ainda como terra estrangeira e imaginária. De modo que eles, o estrangeiro e o imaginário, sejam o que mais se avista e se toca na cidade sem ponto nem vista onde, inventando-nos, (não?) nos enxergamos.