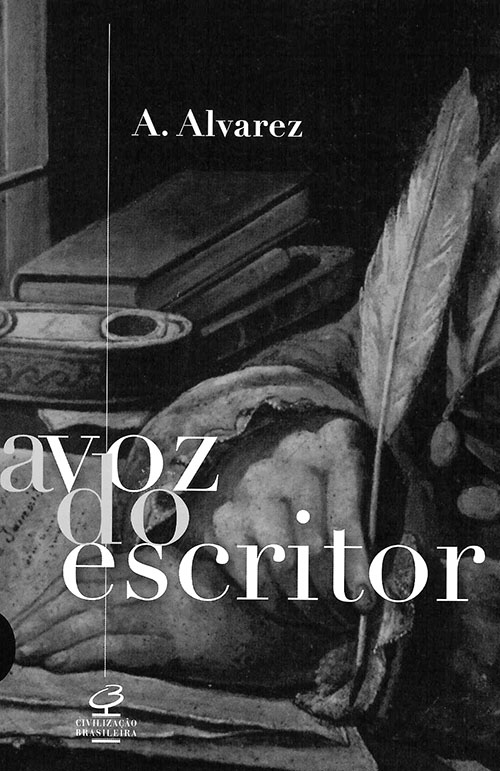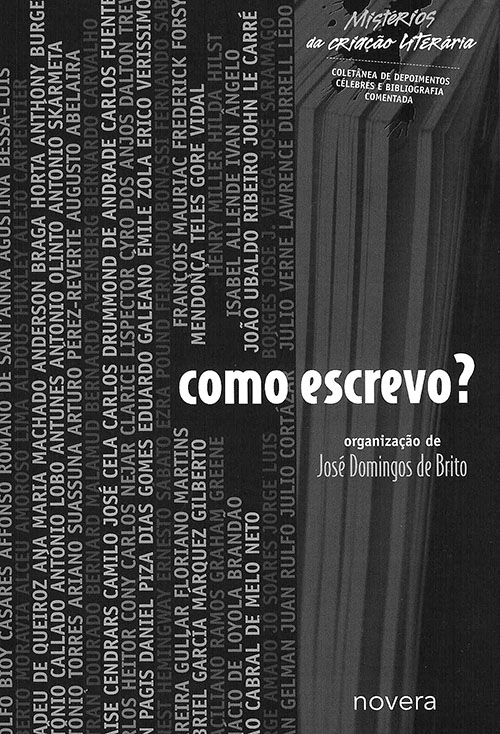Oficinas literárias se disseminam pelo país. Eu mesmo, sempre cheio de dúvidas, comecei a coordenar oficinas regulares em Curitiba. Elas respondem a uma demanda cada vez mais freqüente daqueles que se interessam pela literatura e que desejam, ou se iniciam, escrever. Mas será possível ensinar a escrever? Em minhas pequenas oficinas literárias — que prefiro chamar de “oficinas da imaginação” — algumas pessoas me pedem isso. É função da escola, e não de oficinas livres, transmitir o conhecimento e o manejo da língua. Portanto, oficinas não ensinam a escrever.
Alguns, ainda mais iludidos, acreditam que oficinas literárias formam escritores. Dito de outra forma: que, se não ensinam português, ensinam a escrever textos literários. Nem o mais brilhante dos mestres tem o poder de transformar alguém em escritor. A arte de escrever não comporta transmissão. Se a idéia é domesticar a escrita alheia, a literatura passa a léguas disso. Pode-se, no máximo, provocar, incitar, apostar numa inquietação. Se digo que literatura não se ensina é porque, para escrever textos criativos, uma pessoa precisa bem mais do que uma dedicada e metódica educação. É preciso, antes, que algo se escreva dentro dela. A literatura começa com uma experiência de ruminação interior. É uma aventura pessoal e secreta. Não comporta adestramento, não é uma técnica — como o manejo de uma máquina, ou o cultivo de uma fazenda — que se conquista pelo esforço e pela repetição.
Um grande escritor como Cristovão Tezza relata, sempre, o estado necessário de meditação profunda, de contemplação, que antecede e prepara sua escrita. Quando começa a escrever um livro, Tezza se põe a perambular pela casa, horas, dias, semanas a fio. Num estado que se assemelha à divagação, remói idéias, visões imprecisas, situações. Quando, enfim, se senta para escrever, muitas vezes não produz, ao longo de todo um dia, mais que meia-dúzia de linhas. Sempre à mão, em um caderno, o que sublinha a posição fundamental de eterno aprendiz, ele se contenta em gaguejar algumas palavras. Não importa que escreva só um punhado de frases: interessa, sim, que, numa espécie de gestação abstrata, incorpórea, uma narrativa se forma, lenta, dentro dele.
Um escritor não chega a decidir que vai escrever um romance, ou um poema. Tampouco controla o ritmo e o tom do que escreve. Algo atua sobre ele, dentro dele, através dele — e à sua revelia. Há um elemento autônomo, e crucial, sempre em jogo. Se a literatura é uma carruagem, o escritor não é o cocheiro que chicota os cavalos. O escritor é o passageiro que se acomoda solitário na cabine, desprotegido, encoberto por espessas cortinas, carregado sabe lá para onde. É a conexão com esse desconhecimento, e não a prática de alguma arte de “bem escrever”, que dele faz um escritor.
Borges desprezava seu primeiro conto, Homem da esquina rosada que, como lembrou um dia, escreveu com grande cuidado, “lendo em voz alta cada página”. Em outras palavras: com o fervor de um aluno exemplar. Por uma premonição misteriosa, que confundiu com o pudor, preferiu assiná-lo não com o próprio nome, mas como Francisco Bustos, o nome de um de seus bisavôs. Essa opção obscura pelo nome alheio e antigo pode ser tomada como um sinal de que, de alguma forma, mesmo “escrevendo bem”, Borges escreveu Homem da esquina rosada para cumprir uma incitação externa, e não interna. Para atender ao desejo de outro.
Mais tarde, entendeu que o verdadeiro início de sua carreira literária estava não nesse conto, mas numa série de exercícios que escreveu pouco depois, e que sequer chegava a considerar literatura. Ele os chamou de História universal da infâmia e os publicou na revista Crítica, entre 1933 e 34. Esses exercícios eram pseudo-ensaios, eram falsificações, não cumpriam as exigências clássicas do conto. Parecia claro: não eram contos. Para escrevê-los, Borges lia sobre a vida de pessoas conhecidas e, em seguida, as deformava. Julgava que fossem simples jogos de espírito, nada mais que isso.
“Por alguma ironia, Homem da esquina rosada era realmente um conto, enquanto esses exercícios assumiam a forma de falsificações e de pseudo-ensaios”, anotou, mais tarde, em sua Autobiografia. Contudo, é no campo do “pseudo”, isto é, do falso, que a literatura (a ficção) se faz. Tira-se disso que é no erro, no desvio, é quando escapa de todo ensinamento, e não no cumprimento severo das normas literárias e dos cânones, que um escritor se torna escritor. Ninguém se educa para ser um escritor; a literatura está mais próxima de uma deseducação do que de uma educação.
Ouvir a própria voz
Com esses exercícios que na verdade são contos geniais, Borges encontrou sua própria voz, e se tornou um grande ficcionista. Encontrar sua voz particular é a grande tarefa do escritor, e não cumprir regras gramaticais, praticar um português impecável, ou exibir um estilo elegante. “Ninguém se torna um escritor sem conseguir, antes disso, ouvir a própria voz”, diz o ensaísta inglês Alfred Alvarez em A voz do escritor, belo ensaio traduzido recentemente pela Civilização Brasileira. Alvarez é crítico literário do The Observer, de Londres, e professor aposentado em Oxford.
Trata-se de uma experiência radical, que se prolonga por toda a vida e que, em alguns casos extremos, coloca a própria vida em risco. Pense-se na loucura amarga de Antonin Artaud, na solidão superlotada de Fernando Pessoa, nas vozes que perseguiam Virginia Woolf, na vida à deriva de Joseph Conrad. “Para um escritor, a voz é um problema que nunca o deixa em paz”, diz Alvarez. Mais que problema, é um enigma, que nunca chega a resolver, e com o qual o escritor se vê obrigado a lidar por todos os seus dias. Como ouvir a própria voz? Não existem instrumentos, nem exercícios, ou mesmo rituais, que levem a isso. É coisa que não se ensina, que um escritor aprende consigo mesmo, ou não aprende.
Alerta Alvarez que ter uma voz não é a mesma coisa que ter um estilo. Isso, ter um estilo, que cheira mais à alta costura que a literatura, é coisa que qualquer escrevente pode cobiçar. Pior: aqueles que chegam a “ter um estilo”, em grande parte dos casos, se asfixiam em sua própria couraça, o estilo se torna uma camisa-de-força. Até porque um estilo — como um penteado, ou uma marca de automóvel — adota-se, vem de fora. Um estilo é uma casca, uma performance que se aprecia, ou se rejeita, enquanto uma voz não chega a ser uma escolha, uma voz é uma maneira inconsciente de soar.
Encontra-se a própria voz pelos caminhos mais inesperados. Para ser escritor, William Faulkner teve de trabalhar como carpinteiro, pintor de paredes e chefe dos correios. Franz Kafka mofou, por anos a fio, em um escritório de seguros. Orides Fontela se viu com a miséria, a penúria mais extrema. Joseph Conrad levou uma dura vida de marujo. Jean Genet converteu-se em ladrão. François Villon, em assassino. José Saramago passou anos, décadas inteiras dirigindo jornais. Ernesto Sabato formou-se em física e matemática. Hilda Hilst se comunicou com espíritos através de ondas de rádio. Não existem caminhos retos que conduzam à literatura, eles são sempre tortos e movediços.
E o que distingue a voz própria? O fato de ela ser diferente de todas as outras, de não se parecer com nenhuma. Então, como se pode ensinar isso? Simplesmente não se pode ensinar. Pode-se, no máximo, atravessar experiências que favoreçam esse encontro. Experiências literárias, ou seja, leituras. Ler e escrever, e ler e escrever, não para acertar, mas para cavar. Experiências que expandam o olhar e ampliem o timbre da voz de quem escreve. Que alarguem os limites — chegamos à palavra chave — de sua imaginação.
Daí eu preferir pensar em “oficinas da imaginação”. Assim como não se ensina a escrever, tampouco se ensina a imaginar. Mas a imaginação pode ser estimulada, atiçada, e mesmo, e infelizmente, desperdiçada. Ao preferir a imaginação, o que se trabalha não é a língua, nem a história da literatura, e muito menos o “escrever bem”, ou qualquer outro valor fixo. Trabalha-se, ao contrário, a diversidade, a irregularidade, o desvio e o susto. “A gente faz algo, através de nossa imaginação, que não é uma representação, mas sim algo inteiramente novo e mais verdadeiro que qualquer coisa verdadeira”, descreveu, certa vez, Ernest Hemingway. “Eis por que se escreve, e não por qualquer outra razão que se saiba.”
A formulação de Hemingway é clara: um escritor parte daquilo que carrega dentro de si e que só com muita dificuldade, e alguma decepção, consegue encontrar. A decepção é outro elemento chave. Como nunca escrevemos aquilo que planejamos, ou desejamos escrever, como nossa escrita está sempre muito aquém, ou muito além de nossos planos, o escritor precisa suportar o desapontamento, imenso, que a literatura provoca. Nenhum escritor está satisfeito com o que escreve. Assim como estranhamos nossa voz quando a ouvimos em um gravador, ou repudiamos nossa imagem quando a vemos numa fotografia, também assim nossa escrita parece, quase sempre, imperfeita e alheia. E aqui é preciso dizer com todas as letras: ela realmente é.
Até porque, como observou mais de uma vez o argentino Julio Cortázar, a literatura não tem leis. Se há uma coisa que a literatura não apenas não comporta, mas sobretudo não suporta, é a norma. Então, como transmitir, como ensinar leis, normas inexistentes? “O romance é um grande baú, é a possibilidade de expressar uma multiplicidade de conteúdos com uma liberdade enorme”, disse Cortázar numa longa entrevista ao amigo Ernesto Gonzáles Bermejo, publicada no Brasil pela Jorge Zahar. “Na realidade, o romance não tem leis, a não ser a de impedir que a lei da gravidade entre em ação e o livro caia das mãos do leitor.”
Única lei: seduzir o leitor. Mas esta é uma lei sem forma, e que não pode ser fixada em letras, já que para cada leitor, a sedução é uma coisa diferente. A literatura, diz Cortázar em outro momento, vem mais de uma “experiência de desajuste”, isto é, mais de um desarranjo, de uma desordem, do que de um bom funcionamento. Diz ele ainda: “Em determinados momentos, as coisas se apartam de mim, se movem, correm para um lado e, então, desse oco, dessa espécie de interstício que eu não sei exatamente o que é, surge um estímulo que, em muitos casos, me leva a escrever”. O escritor, observa também, deve saber suportar uma certa “suspensão da incredulidade”. Ao contrário do cientista, que está sempre a criticar a realidade e os princípios que a governam, o escritor deve acreditar no que vê. Um escritor precisa aceitar fatos incongruentes, presenças incertas e verdades improváveis. Ele deve suportar a perplexidade e a incompreensão, matérias mais nobres da literatura, ou só escreverá coisas previsíveis.
Recorda Cortázar que, enquanto escrevia os capítulos mais difíceis de O jogo da amarelinha, trabalhava em tal estado de porosidade e de desamparo, sentia-se tão frágil e exposto que dependia da mulher para fazer as coisas mais banais. “Ela me dava colo, me levava para tomar um pouco de sopa”, recorda. “Eu estava completamente dominado. Comer, tomar uma sopa, eram as atividades literárias. A outra coisa — a literatura — era o verdadeiro.” A literatura é tão maior do que quem a escreve que aquele que escreve, sob seu peso, às vezes até se infantiliza.
Como se ensina isso? Antes ainda: é mesmo o caso de ensinar — de macaquear? Na moda, se todos passam a usar calças com a cintura baixa, basta usar também. Na ciência, conjunto organizado de conhecimentos, o que importa é a demonstração — é saber provar o que se diz. Na religião, o mais importante é reproduzir, letra a letra, sem qualquer contestação, as palavras dos livros sagrados. A filosofia não se faz sem um conjunto de princípios e de conceitos manobrados com rigor. Mas, e a literatura? Tudo o que se pode fazer é trabalhar com leituras e mais leituras, rascunhos e mais rascunhos, criando assim uma atmosfera de intimidade e de liberdade interior, densa de tal modo que facilite (mas nada é garantido, pois não existem regras) o aparecimento da escrita.
Nunca é demais repetir a sentença genial de Clarice Lispector: “Não sou eu quem escrevo, são meus livros que me escrevem”. Tal experiência não comporta transmissão, ou adestramento. Não existem escritores bem formados, ou bem habilitados. Muitos psicanalistas acreditam na existência, e na boa prática, de uma psicanálise-didática; mas pensar numa literatura-didática é um absoluto contra-senso. Até existem escreventes bem adestrados, com técnica afiada e saberes na ponta da língua: mas escritores, a rigor, não são. Bons escreventes, eles se contentam em cumprir o legado da tradição, em criticar o passado, em dialogar com mestres e reverenciar doutrinas. Literatura isso não é. Fazem lembrar a vida medíocre de um Bartleby, o célebre escrivão criado por Herman Melville, ou do nosso melancólico amanuense Belmiro, de Cyro dos Anjos. Bartleby foi o mais sábio: um dia descobriu que, a qualquer pedido de performance, o mais correto era responder: “Acho melhor não”. A partir dele, pode-se entender o sábio silêncio daqueles escritores taciturnos que o catalão Enrique Villa-Matas retratou em seu Bartleby & Cia.
O real e a literatura
Outro argentino, Ricardo Piglia, aponta a relação estreita entre os movimentos do real (esse grande fundo de susto e desconhecimento que está encoberto pelo que chamamos, trivialmente, de realidade) e a literatura. Numa das cenas mais comoventes de Crime e castigo, lembra Piglia, Dostoiévski relata um sonho de seu protagonista, Raskólnikov. No pesadelo, Raskólnikov vê um grupo de camponeses alcoolizados que surram um cavalo até a morte. Em desespero, o rapaz se abraça ao cavalo agonizante e lhe dá um beijo. O romance de Dostoiévski é de 1866. Duas décadas depois, em 3 de janeiro de 1888, o filósofo Friedrich Nietzsche, um leitor apaixonado de Dostoiévski, repetiu (encenou) a cena de Raskólnikov. Numa rua de Turim, Itália, ele se abraçou chorando a um cavalo que um cocheiro castigava brutalmente, e depois o beijou. A citação de Dostoiévski, transformada em ato, é para alguns o início da loucura de Nietzsche; na verdade, é o apogeu de sua filosofia. E por que não dizer: de sua poesia.
No mesmo ano de 1888, surgem dois dos livros mais radicais de Nietzsche: O crepúsculo dos ídolos e O Anti-Cristo. Sua filosofia, embora talhada em forte lastro crítico, não se baseia em experiências livrescas, mas em uma dolorosa experiência pessoal. Em vez de manejar conceitos filosóficos, Nietzsche fez de suas idéias um teatro e, com isso, mais que fazer filosofia, fez poesia. Ele “sofria” de pensamentos, era objeto e também personagem (vítima) deles — exatamente como o impulso insano para escrever fez de Clarice Lispector não só escritora mas, sobretudo, uma personagem, uma vítima de sua literatura.
Franz Kafka gostava de citar um trecho da correspondência de Gustave Flaubert: “Vivo absolutamente como uma ostra. O meu romance é a rocha à qual me agrilhôo e não sei nada do que se passa no mundo”. Em seus diários, Kafka anota uma idéia parecida: “Repouso em cima do meu romance tal como uma estátua que olha para a longe repousa sobre o soco”. Tanto Flaubert, como Kafka se referem à relação enviesada, sinistra, que os escritores têm com a literatura. Uma relação de “má índole”, que beira o desastre e a ruína — e as vidas tormentosas de Flaubert e de Kafka, dois homens que viveram para escrever, ilustram bem isso. Relação de agrilhoamento, em que atuam forças secretas como o desespero, a obsessão e a solidão. Que Kafka, em outra página de seus diários, descreve assim: “É num estado convulsivo de dor que se cria”.
Só que a dor de Kafka é, para cada escritor, uma dor diferente, de modo que nem mesmo o teatro da dor pode ajudar alguém a se tornar escritor. Não é uma questão de fachada — como costumam pensar aqueles psicanalistas que, empenhados na imitação do mestre, adotam desde logo a barba e o cachimbo. Nada disso, nenhum ritual, nenhum teatro garante coisa alguma. Então, de nada serve adotar maneiras dolorosas, ou afetar um grande sofrimento. Um escritor pode esbanjar alegria, por que não? É Flaubert, ainda, quem anota em sua Correspondência, em 1853: “Para dizer em estilo próprio feche a porta, ou ele tinha vontade de dormir é preciso mais gênio do que fazer todos os cursos de literatura do mundo”. Estilo próprio não diz respeito à moda, nem se refere à última palavra. Também não trata do “bem feito”, ou do “bem acabado”. Não é uma grife, que se negocia no mercado.
Muitos escritores acreditam, ainda, que a literatura é um grande monstro que avança, compenetrado, sempre em linha reta — rumo a quê? Caberia ao escritor, nesse caso, situar-se no longo fio da história da literatura, conhecer na ponta da língua todos os bons e maus antecedentes, criticá-los, “superá-los” (como uma criança “supera” a fase oral e chega à genital) para, assim, sabendo exatamente onde pisa, dar o grande salto à frente. São os fiéis da idéia de ruptura, que atormenta os escritores desde o modernismo. Ensinar literatura, nesse caso, seria ensinar história da literatura e, também, adestrar os jovens escritores no pensamento crítico, de modo que, sabendo onde pisam, e decidindo onde não querem pisar, possam — como bons estrategistas — dar o passo preciso na direção correta, a caminho, sempre e sempre, da última novidade. Não é algo parecido que se ouve, por exemplo, no mundo da publicidade? Tal escova de dente foi ultrapassada por outra, que contém cerdas mais flexíveis e resistentes. Tal televisão promete imagem mais nítida que as outras. O último modelo de refrigerador…
“Não se deve confundir a mera mudança com o progresso”, adverte o argentino Ernesto Sabato em um belo ensaio como Heterodoxia. “Se é fácil provar que uma locomotiva é superior a uma diligência, não é tão fácil provar que nossa pintura é superior à do Renascimento”, ele diz. E diz mais: “A crença no progresso geral consiste em supor que um senhor que viaja em um ônibus é espiritualmente melhor do que um grego que se desloca em um trirreme (embarcação à vela da Grécia Antiga). O que é bastante duvidoso”. Não, não basta conhecer e criticar a história da literatura para se tornar um escritor. Isso faz, no máximo, um competente professor de literatura. O que, com todo o respeito ao professor de literatura, é muito diferente.
Mas, então, o que falta? Na verdade, a matéria da literatura é essa própria falta. É um enigma, cuja decifração jamais se conclui. “Todos os romances de todos os tempos se voltam para o enigma do Eu”, diz, a propósito, o escritor checo Milan Kundera. “Desde que você cria um ser imaginário, um personagem, fica automaticamente confrontado com a questão: o que é o Eu?” A formulação de Kundera aponta para um aspecto perturbador da literatura: ela não é feita de respostas (de fórmulas, métodos, soluções), mas de perguntas (de dúvidas, inquietações, enigmas). E perguntas perturbadoras, como as formuladas pelos filósofos antigos. O máximo que se pode fazer numa oficina literária, se não se quer ser só distrair, ou iludir, é estimular a formulação de perguntas. Fazer perguntas e suportá-las, resistindo à tentação de responder facilmente para, em vez disso, manter-se aferrado — como Nietzsche a seu cavalo agonizante — ao que não admite uma solução.
Aqui podemos lembrar o que Herman Hesse, o grande escritor alemão hoje tão esquecido, diz ao “jovem problemático” que lhe escreveu uma carta no ano de 1932, pedindo uma resposta do mestre a suas inquietações. “Sim, diga sim a si mesmo, a suas particularidades, a seus sentimentos, a seu destino. Não há outro caminho”, limitou-se a responder o escritor. O que lhe sugere Hesse? Que ninguém livra ninguém de si mesmo. É com isso, com esse “não livrar”, com esse fracasso, que a literatura trabalha. “Ignoro para onde isso conduz”, admite Herman Hesse, “mas leva à vida, à realidade, ao arrebatamento e ao necessário”. Sugere ao rapaz problemático, sobretudo, que não se iluda com a possibilidade de uma solução. “Sempre que dedico minha fé a uma boa fórmula, ela logo me parece duvidosa e despropositada e logo passo a buscar novos apoios e novas fórmulas”, admite. Essa matéria inquieta, que não se deixa fixar e que não se esgota em um nome é, por fim, a matéria da literatura.
O risco de ser um copista
Aferrar-se à própria voz — e, por tabela, à própria sensibilidade, à própria dor, ao próprio olhar — é, sempre, muito difícil. É isso que, no entender do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, separa o “pensador de força própria”, aquele que pensa por si, do “filósofo livresco”, que se limita a pensar idéias alheias. A lembrança de Schopenhauer, enquanto revisito idéias a respeito da arte de escrever, idéias que me marcaram e abalaram muito, não deixa de me meter medo. Ninguém está livre do risco de se tornar um simples copista. Schopenhauer (1788-1860) defende suas idéias num pequeno e precioso ensaio, Pensar por si mesmo, que está em seu Parerga und Paralipomena (algo como Acessórios e remanescentes), livro de 1851. Cinco capítulos deste livro, todos dedicados à literatura, aparecem na seleção A arte de escrever, publicada pela LP&M, sob a coordenação de Pedro Süssekind.
Em Pensar por si mesmo, Schopenhauer faz uma forte advertência a respeito dos perigos da leitura. “Ler significa pensar com uma cabeça alheia, em vez de pensar com a própria”, ele adverte. “Nada é mais prejudicial ao pensamento próprio.” É claro, Schopenhauer foi, ele também, um grande leitor; não se trata de uma campanha nem contra a leitura, nem contra a literatura. Mas foi, mais ainda, um leitor sábio. Em vez de ler para “relatar o que este disse, o que aquele considerou, o que um terceiro objetou e assim por diante”, como fazem os “filósofos livrescos”, o autor de O mundo como vontade e representação lia para buscar confirmações, variações, sínteses em torno daquilo que ousara pensar por si. Ele explica a diferença: “Quem pensa por si mesmo só chega a conhecer as autoridades que comprovam suas opiniões caso elas sirvam apenas para fortalecer seu pensamento próprio”, diz. “Enquanto o filósofo que tira suas idéias dos livros tem essas autoridades como ponto de partida.”
A leitura, diz Schopenhauer, deve ser um ponto de chegada em que o pensador testa o que já trazia dentro de si. E não uma atividade erudita, como é para tantos filósofos letrados — e tantos escritores! — que escrevem para citar, para atestar suas leituras, para agradar e, sobretudo, para obter aprovação. Estratégia na qual a voz própria tende só a emudecer. Para chegar a si, é preciso ter paciência, desistir da onipotência e esperar que algo o atinja. Diz ainda o filósofo: “O pensamento sobre determinado objeto precisa aparecer por si mesmo, por meio de um encontro feliz e harmonioso da ocasião exterior com a disposição e o estímulo internos”. A conexão entre o que se lê e aquele que lê define a literatura. “É justamente esse encontro que nunca chegará a acontecer no caso daqueles filósofos livrescos.”
Aqui cabe voltar a uma bela idéia de Ernesto Sabato: a de que o diálogo — entre um escritor e seu crítico, entre dois escritores, entre um leitor e um livro — não se parece nem com a catequese, nem com a conversão. “Diálogo, sim. Mas não sofístico, nem catequístico, nos quais sempre sai ganhando o autor do libreto”, escreve. “Diálogo livre, herético, mal-educado.” Estão dadas as bases do “quase nada” que se transmite em uma oficina literária. Em vez de ensinar regras, desmontá-las. Em vez de aplicar a norma, estimular a experiência da heresia que é a voz particular. No lugar de uma educação literária, melhor pensar em uma deseducação, em que o sujeito se dispa de ilusões, afaste-se dos automatismos, e desista de vez do desejo de brilhar e de agradar. Para, só então, sob sua conta e risco, chegar a si mesmo.
Volta-se inevitavelmente a Nietzsche: “Toda conquista, todo passo adiante na senda do conhecimento é fruto de um ato de valor, de dureza contra si mesmo, de própria depuração”. O chegar a si, à própria voz, não é um embelezamento, ou uma performance, muito menos o fruto dourado de um adestramento. É um descascar-se, um escavar como o do escultor que corta e corta a sua pedra, até que, lá de dentro, com as mãos sangrando, tira sua arte. Mas não existem garantias — pois não estamos no reino pragmático das transações bancárias e dos acordos comerciais. Dessa experiência pode, até, sair um escritor. Nada garante que isso acontecerá. Mas, se não sair, ao menos sairão homens um pouco mais apegados a si mesmos, um pouco mais corajosos.