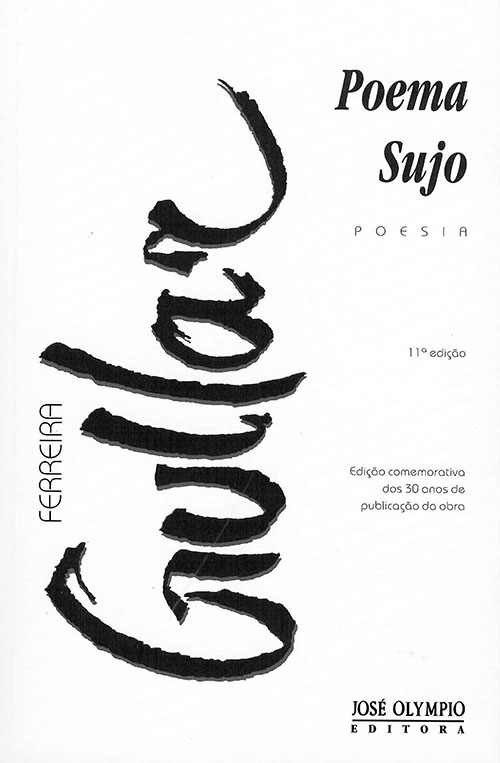A passagem do tempo, que esvazia tantas obras e tantos escritores, só engrandeceu o Poema sujo, o mais importante de Ferreira Gullar. Trinta anos depois de seu lançamento, em pleno regime militar, ele se mostra não apenas maior, mas, sobretudo, mais vivo. Enquanto o tempo dos militares tendia à imobilidade (“Como se o tempo/ durante a noite/ ficasse parado junto/ com a escuridão”), o tempo democrático, ao contrário, é veloz e impiedoso; em vez de simplificar, complica a realidade; com a mesma rapidez que consagra, execra. Se artistas, celebridades, políticos, padecem desta corrosão (muitas vezes injusta), que resistência se poderia esperar de um poema?
Pois o Poema sujo exibe, três décadas depois, uma atualidade brutal. Mostra seu caráter premonitório e reafirma a posição nobre que Ferreira Gullar ocupa na poesia brasileira do século 20. Poema sujo. Por que sujo? São muitas as misérias de que trata o poema. Versos em que Gullar, exilado político em Buenos Aires e retido, assim, no “turvo presente” — confuso, violento, sujo —, busca consolo na fictícia limpidez do passado. Limpidez? A volta ao passado não é uma viagem confortável; é, ao contrário, uma experiência trabalhosa, que se vive em vertigem.
Na cidade estrangeira, Buenos Aires, longe dos seus e de suas coisas, só resta ao poeta partir do que tem de mais íntimo: o corpo. “Meu corpo de 1,70 m que é meu tamanho no mundo/ meu corpo feito de água/ e cinza/ que me faz olhar Andrômeda, Sírius, Mercúrio/ e me sentir misturado”, escreve. Uma nebulosa, uma estrela, um planeta vermelho: distâncias vertiginosas que fazem do corpo, poeira. “Toda essa massa de hidrogênio e hélio/ que se desintegra e reintegra/sem saber pra quê”, Gullar descreve. Por contraste, apontam a debilidade do homem, mas também sua grandeza.
Corpo cósmico, mas nem por isso metafísico, corpo saturado do real, contagiado pelo real, que “se pára de funcionar provoca/ um grave acontecimento na família”. E, com mais precisão, o poeta delimita: “sem ele não há José Ribamar Ferreira/ não há Ferreira Gullar”. É de si, portanto, cidadão e poeta, que fala; é ele, Ferreira Gullar, o poeta mas também o homem, quem escreve estes versos. E, escrevendo, descortina clarões sobre o passado, em busca de uma formação que, como se faz em segredo, ele chama de “aulas de solidão”.
Para exercer a solidão, o poeta partiu de casa, rumo ao mundo. Da janela do trem, fez a descoberta assombrosa: “aqueles bois e marrecos/ existiam ali sem mim”. Deixa de ser o centro do mundo, torna-se um marginal — alguém que, em vez de ser um Eu esplendoroso, espreme-se nas bordas do real.
Os 31 anos que se passaram desde que escreveu seu Poema sujo (“às quatro horas desta tarde/ de 22 de maio de 1975/ trinta anos depois” — da infância que lhe foge) tornaram o tempo ainda mais veloz, e o presente mais inacessível. Gullar escreveu seu poema entre maio e outubro de 1975. No fim daquele ano, gravou uma fita cassete, em que o lia em voz alta, e deu-a ao amigo Vinicius de Moraes, encarregado de levá-la ao Rio de Janeiro. A gravação é transformada, agora, pelo Instituto Moreira Salles, em um CD que acompanha a edição comemorativa do livro. Vinicius transcreveu o poema e, logo depois, reuniu, no Rio de Janeiro, um grupo de intelectuais e jornalistas para uma primeira leitura pública.
Sem a presença de Gullar, que sobrevivia na Argentina como professor de português, o Poema sujo foi, enfim, lançado em 1976. O poeta só voltaria ao Brasil em março de 77. Foram tempos moles, disformes (“porque não é possível estabelecer um limite/ a cada um desses/ dias de fronteiras impalpáveis”). Diluição que se adensava à noite, “porque de noite/ todos os fatos são pardos,/ e a natureza fecha”. Ainda assim, o poeta gostava de caminhar pela noite, “sob a fantástica imobilidade/ da Via-Láctea”. Sob o céu escuro, descobria diferenças sutis, como a que separa a “noite da lamparina” da “noite da eletricidade”.
Ali, refletia sobre a noite dos miseráveis, na favela da Baixinha, em São Luís: “a noite na Baixinha/ não passa, não/ transcorre:/ apodrece”. Para entender a noite proletária, a mais difícil das noites, o poeta prossegue, é preciso entender “que um rio não apodrece do mesmo modo/ que uma pêra”. É preciso embrenhar-se no desfiladeiro das diferenças, mesmo se a noite, com sua vocação mentirosa, se esforça para tudo igualar. Assim também, “um rio não apodrece do mesmo modo que uma perna”, ele constata. Cada coisa é seu caminho, cada coisa é o movimento que faz.
Bicho-poema
Daí o Poema sujo, bicho-poema que se enrosca, que gira sem direção, contaminado pelas ventanias do real. Ainda agarrado à fantasiosa firmeza do passado, o poeta chega à vida parada de Newton Ferreira, o quitandeiro, seu pai. Para encher o vazio do tempo, debruçado sobre o balcão do armazém, ele lia o “X-9”. Para sair de si, mergulhava em um mundo de gangsters americanos, enquanto logo dali, no trânsito da avenida, a tarde, ao contrário, passava rápida, “ruidosamente”.
O pai é a semente da qual o mundo se desenrola. Sua memória lhe ensina os vários ritmos (os vários movimentos) de uma tarde. Os vários mundos que, cada um a seu modo, se desenrolam do mundo. Debruçado no balcão, lendo seus contos policiais, Newton Ferreira “nada sabe das conspirações/ meteorológicas que se tramam”. Mundos paralelos, mundos invisíveis, mundos que se sobrepõem, se anulam e se chocam — mundos impensáveis entre as prateleiras da quitanda de Newton, onde “o tempo não flui/ antes se amontoa”.
O poeta se agarra às prateleiras, mas nem assim escapa do presente. Recuperar o passado, ainda mais um passado de nódoas e de borras, é tarefa impossível. “Nem a pé, nem andando de rastros,/ nem colando o ouvido no chão/ voltarás a ouvir nada do que ali se falou”, ele admite. Na distância, ainda assim, consegue juntar alguns cacos da cidade de São Luís do Maranhão — cidade suja, ela também — que um dia habitou.
De exercício de memória, o Poema sujo se converte em uma reflexão sobre a eternidade, e o modo como — no mundo veloz de hoje — dela cada vez mais nos afastamos. “O certo é que/ tendo cada coisa uma velocidade/ (…)/ cada coisa se afasta/ desigualmente/ de sua possível eternidade”, escreve. Eis é a sujeira: o real que prende e corrompe, o presente perpétuo em que nos debatemos. Quanto mais avançamos, mais distantes estamos não só do eterno, mas do perfeito. Daí não ser na imobilidade do eterno que se vê melhor, mas, sim, na sujeira do movimento. Não é na paz do passado (quando todos já se foram) que se vê melhor, mas nas ondas turbulentas do presente.
Poeta do movimento e do agora, Ferreira Gullar se espanta com as coisas que o passado devorou, e que não podem mais retornar; mas se assombra, mais ainda, com a força do presente. “Se é espantoso pensar/ como tanta coisa sumiu/ (…)/ a isso/ responde a manhã/ que/ com suas muitas e azuis velocidades/ segue em frente/ alegre e sem memória”. É no presente, e em sua sujeira, que está a liberdade.
O presente é a matéria do Poema sujo — e é espantoso que, 30 anos depois, o presente, apesar de nos carregar dentro dele, se torne cada vez mais opaco. Presente instável, indecifrável, em estado de contínua cerração. No nevoeiro espesso do agora, as coisas guardam várias velocidades, o dia tem vários centros, o mundo gira e gira, sem parar. E é nessa sujeira que, se observamos com cuidado, encontramos sua riqueza.
A cidade tem vários ventos, vozes, falas. “E são coisas vivas as palavras/ e vibram de alegria do corpo que as gritou”, ele diz. E essas vozes e falas, como as coisas, não estão apenas em si, mas estão no outro. Estão, a rigor, fora de si. “Cada coisa está em outra de sua própria maneira/ e de maneira distinta/ de como está em si mesma”, o poeta descreve. Sair de si para ser o outro, nos faz ver o Poema sujo, é a melhor maneira de voltar a si. A única que, ao nos descentrar, nos faz coincidir com o que somos.