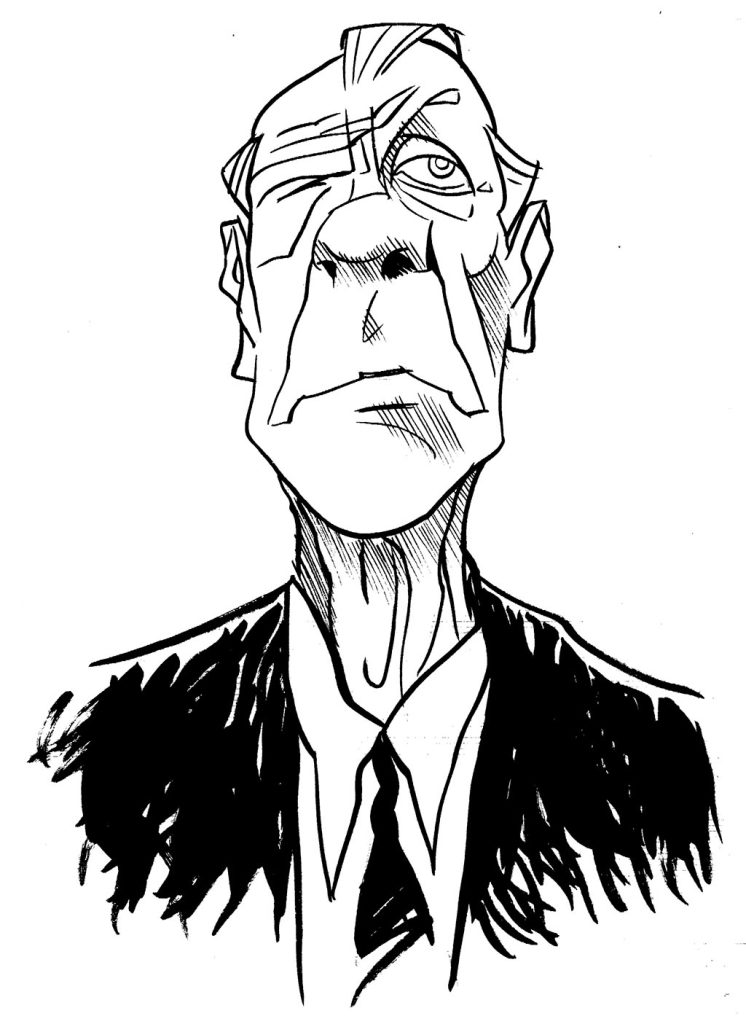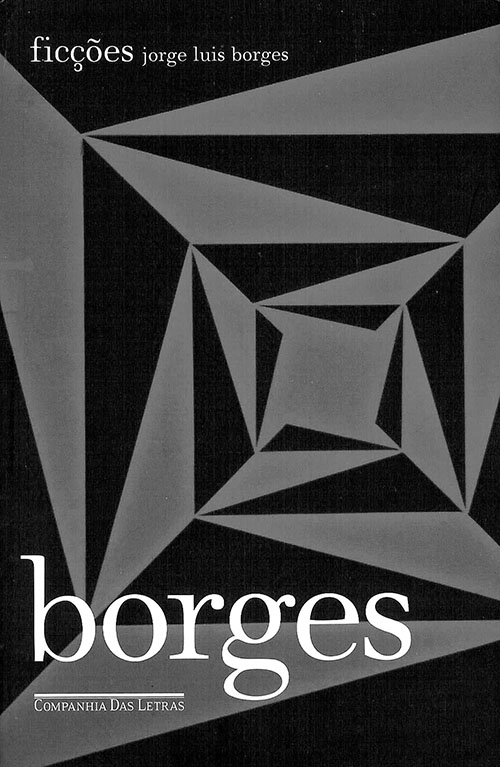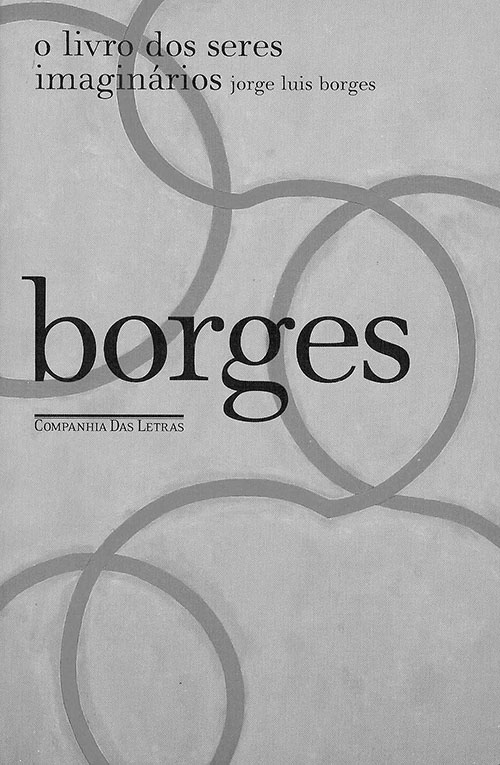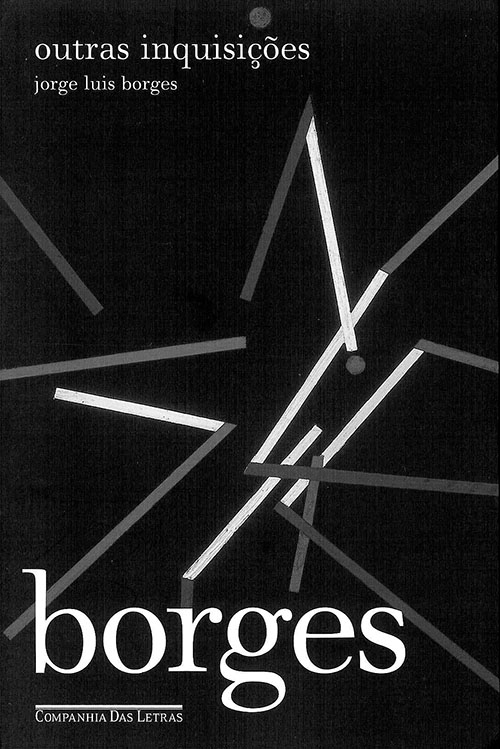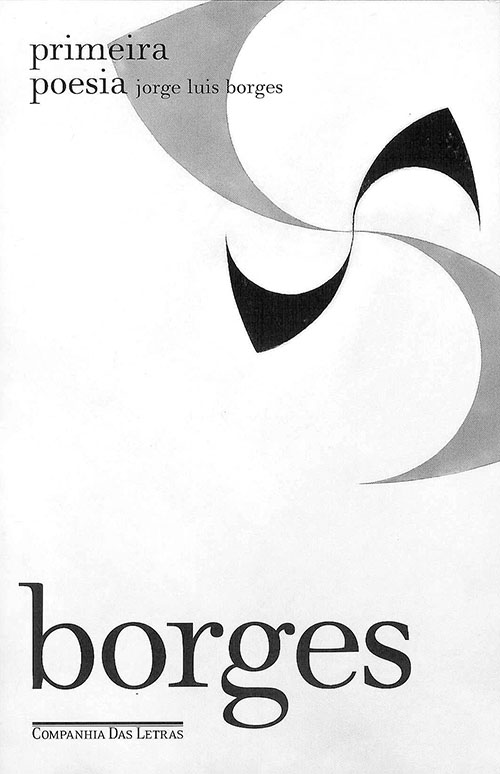A história de Jorge Luis Borges é a de um homem de letras que viveu o século 20 quase por inteiro e não soube ser outra coisa senão contemporâneo de si mesmo, contemporâneo apenas de sua memória. Nascido em 1899, viu um século nascer, crescer e morrer. Seus 86 anos de vida lhe permitiram preceder a teoria da relatividade e ir-se já depois da invenção dos microcomputadores. Afora sua breve participação não militante no ultraísmo e suas traduções juvenis de poetas expressionistas, nenhuma das paixões do século passado exerceram grande atração sobre este escritor que inseriu definitivamente a literatura argentina na universal, e que o fez sem modismos, movimentos, teorias ou panfletos. Sua cegueira hereditária, que foi lhe tirando a visão aos poucos (“a cegueira gradual é como um lento entardecer de verão”, gostava de afirmar), talvez tenha contribuído para o aumento de seu desinteresse pela literatura contemporânea. Se se quer ser moderno, pensava ele em 1969, quer-se absolutamente nada, pois todos nós somos fatalmente modernos e não podemos viver em outro tempo que não o nosso. Por outro lado, se se quer ser criativo, quer-se tudo, desde que não se olhe para os lados: só o passado pode nos dar a educação necessária para a plena criação.
Pode-se chamar Borges de perenialista, de conservador, de elitista. No entanto, esses e mais uma vasta gama de epítetos não bastam para definir um escritor de verve fantástica, cosmopolita, matemática, apaixonado por paradoxos e cultuador das formas que assumem o impossível. Era um leitor de contos, não de romances. Era, primeiramente e sobretudo, um leitor; depois um poeta, depois o resto. Escrevia ensaios que se assemelhavam a contos narrados em primeira pessoa. Escrevia contos que caberiam perfeitamente ser publicados em volumes de ensaios. Escrevia poemas que muitos consideravam nascidos em prosa. Em suas conferências, às vezes é difícil distinguir suas opiniões estritamente pessoais de suas citações livrescas. Se houvesse se dedicado à redação de um diário, provavelmente nele teria redigido um esboço da história universal, a qual acreditava ser a sua vida.
Ao que se sabe, no entanto, Borges não manteve nenhum diário, pelo menos não no sentido corrente da palavra. Fazia apenas apontamentos em folhas dispersas, reunia citações avulsas em cadernos. Sua vida essencialmente imaginativa parecia não lhe permitir confissões de outro gênero. Todavia, é irresistível a idéia de que todos os tomos já publicados de suas obras completas constituam um diário jamais deliberadamente iniciado, certamente jamais concluído. Esse diário — Borges não o soube, mas nós o sabemos — foi escrito para que seus leitores o devassassem irresponsavelmente, o perpetuassem, o desviassem de modo fortuito e indefinido, impedindo que seus personagens e móbiles — os animais fantásticos, os arrabaldes de Buenos Aires, os teólogos de belas heresias, as falsas refutações de falsos argumentos — nunca tivessem termo em suas possibilidades de permutação.
Próximo de sua morte, Borges afirmou descrer da imortalidade pessoal. Ela não lhe interessava, em absoluto, pois a ele era assombrosa a possibilidade de continuar sendo Jorge Luis Borges indefinidamente pelo tempo. (Gostava de relembrar esta frase diversas vezes repetida pelo seu pai: “quero morrer inteiramente”.) Para ele, a identidade pessoal sempre foi um enigma. Que significa eu ser quem eu sou e não outro? Como posso continuar sendo o mesmo deste instante ao próximo? A essas questões, constantemente refeitas ao longo de sua vida, o argentino respondia com uma hipótese bastante engenhosa: para Borges, a literatura era um sistema impessoal de códices imaginários para cuja eternidade contribuem escritor e leitor, e é bastante provável que todos os livros já escritos e por escrever partilhem de uma mesma autoria, a única que se prolongou e se prolongará da aurora à noite dos tempos. “Pois o que ocorre a um homem ocorre também a todos os demais”, afirmou incontáveis vezes.
Da mesma forma que os diários contém os espelhamentos e as referências labirínticas próprias à vida de cada um, os livros de Borges contém as suas (aliás, o espelho e o labirinto fazem parte do que entendemos pelo nome Borges). Percorrida toda a sua produção, é possível conjeturar que para ele são totalmente contingentes e permutáveis os atos de escrever um ensaio, um poema ou um conto, pronunciar uma palestra ou dar uma entrevista. Ele mesmo observou que para a imaginação talvez não haja diferença entre prosa e poesia. Nas cinco conferências de Borges, oral (1979), o vemos discorrer sobre os enigmas que mais ocuparam sua mente ao longo de quase seis décadas de atividade literária: o livro, a imortalidade, o tempo, Emanuel Swedenborg e o conto policial. É lícito acreditar que em sua cabeça dividiam o mesmo espaço o objeto que é a extensão da memória da humanidade, uma hipótese a respeito do que há além da morte, a ilusão que construímos para que não deixemos de ser quem somos, um autor de obscuras visões do paraíso e do inferno, um gênero literário moderno. O modelo da biblioteca de Babel — aquela de seu mais famoso conto, aquela que seu autor identificava com o universo — era a própria imaginação de Borges.

Um artífice
Deram-lhe fama internacional principalmente os contos. É de se supor que fosse da crença de que metade de toda ficção já produzida afigura como despropósito, um imperdoável dispêndio à paciência e intelecto humanos. A muitos pode parecer pueril a idéia de que o que pode ser narrado em dez páginas não deve ser narrado em duzentas. A Borges, que a reenunciava vezes sem conta tal como uma outra vintena de motes, era bastante razoável. O Ulisses não lhe proporcionava prazer algum; James Joyce, portanto, jamais poderia ser considerado bom escritor. Proust era um prolixo. O romance francês do século 19, de uma ponta a outra, não poderia arrancar de Borges mais que bocejos e alguma prostração moral proporcionada pela leitura “densa”. Toda literatura “intimista” ou de gosto psicologizante lhe incomodava, a considerando um pastiche irresponsável, caótico. Pois as tentativas de aproximar a literatura do real, mediante a inserção naquela de supostos mecanismos por nós utilizados neste, não só não lhe era possível como também, se viável, sumamente indesejável. É preciso compreender Borges como um artífice. É preciso, através de Borges, compreender toda a literatura como uma elaboração artificial que possui suas próprias regras e não tem compromisso algum de responder a parâmetros cotidianos. É preciso compreender a literatura como literatura.
Disso depreende-se imediatamente a paixão que nutria por tramas e seus rigores. Em um conto borgiano, nada pode ser desproposital ou injustificado; os excessos românticos, as impurezas lógicas ou as irregularidades do espírito não são sua matéria de trabalho; ou melhor, podem sê-lo apenas marginalmente, sendo assinalados com brevidade em uma frase, uma descrição, um adjetivo. Sua prosa aspira a uma perfeição estilística cujo zelo não está especialmente na lapidação da língua. Está na construção dos textos como um esforço criativo integral, na perícia em torná-los tão irredutíveis quanto cada uma das letras registradas nas Escrituras. Já foi observado injustamente que os personagens de Borges são planos ou caracterizados com pobreza; o que equivale mais ou menos a dizer que Borges, ele mesmo o mais habitual de seus personagens, é um homem de pouca distinção. Podemos defendê-lo afirmando que seu conhecimento estava voltado para o que o ser humano produziu através dos séculos; a alma humana não lhe era muito penetrável. Em uma defesa mais leviana, mas ainda de grande validez, pode-se aventar que, nesse quesito, o mito em que foi transformado contribuiu muito positivamente para o enriquecimento de determinados contos. A idéia, que pode parecer radical, talvez pudesse ter lhe agradado um tanto: quem lê Borges sem nunca ter ouvido falar de sua figura não pode fazê-lo da mesma forma que os conhecedores do mito.
A precisão das tramas, muitas vezes, se estendia pela matematização de lugares imaginários. Tome-se Biblioteca de Babel, célebre conto de Ficções (1944). Nele, um homem senil nos dá notícia de que o universo, por alguns conhecido como Biblioteca, é composto por um número infinito de salas hexagonais, cada qual preenchida com quatro estantes de cinco prateleiras, cada prateleira contendo trinta e dois livros de formato uniforme, com quatrocentas e dez páginas onde se lê quarenta linhas de oitenta letras negras. Todos os livros possíveis (os escritos e os que estão por ser escritos) podem ser encontrados na biblioteca, até mesmo as “autobiografias dos Arcanjos” e o Livro que contém o conhecimento de todos os demais. Nenhum volume é igual a outro. Os homens (ou bibliotecários) os guardam e são responsáveis pelas salas mal iluminadas onde se encontram, salas que se comunicam entre si por meio de corredores e escadas. No saguão, há um espelho. Minúsculos compartimentos estão destinados à satisfação de necessidades fecais; outros permitem que se durma de pé. É neste universo que se move precariamente uma humanidade sonâmbula, seduzida pela ilusão de que poderia encontrar um livro que explique a origem da Biblioteca e do tempo, bem como de todo o passado e todo o futuro. A esperança é gradativamente substituída pela angústia. No entanto, sempre perdurará a possibilidade de que algum homem tenha lido o Livro; de que algum homem tenha se tornado Deus.
Este conto, tal como o Universo, é construído a partir de impuras possibilidades e probabilidades. É possível que exista o Livro; então, o Livro existe. É possível que nunca se encontre o volume que guarda todos os segredos presentes, pretéritos e futuros; é uma possibilidade. É provável que todos morram e o universo se perpetue impassível, em um silêncio que só atestaria a irrelevância dos homens; é uma hipótese tenebrosa, que amedronta a todos, mas é uma hipótese. Sua matemática comprova que não se trata de exagero a afirmação de que a vida do homem também é construída a partir de possibilidades e probabilidades. Mesmo porque aí não há espaço para qualquer espécie de rigidez previsível ou ordem estática. Pois, na Biblioteca de Borges, os homens não sonham (o compartimento que se destina ao repouso é construído de modo a que não durmam mais que o fisiologicamente necessário). Os homens não sonham porque já estão vivendo uma eternidade sonhada por algum deus.
Não é falsa, portanto, a impressão de que sua literatura assoma como um mundo com leis próprias e fantásticas; isso não provém do acaso. O argentino elaborou um universo pessoal de referências e de fato chegou a imaginar um mundo onde suas conjeturas sobre o tempo, por exemplo, fizessem sentido: em Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, conto que também integra Ficções, ele imagina (em latim, imaginar e descobrir são sinônimos) uma comunidade secreta que durante os séculos vai redigindo o mais ambicioso dos livros, que é uma enciclopédia sobre um planeta imaginário — Tlön. À medida que os homens vão se interessando e se encantando por este mundo inexistente, perdem o contato com sua vida cotidiana no real; gradativamente, a realidade de Tlön invade a da Terra.
Primorosamente realizado em sua precisão, este relato é representativo de certa crença muito própria a Borges. O ensaísta considerava a história da literatura como a história dos tons em que são pronunciadas algumas mesmas metáforas ao longo dos tempos; o mesmo pode ser dito particularmente de sua obra. Por exemplo, em certa região de Tlön os nativos falam uma língua que não possui pronomes pessoais; lá não se diria “fui”; se diria “foi-se”. Borges relembrou esta fantasia em diversos ensaios, em situações e tons variados, a tendo extraído da filosofia de Hume, o filósofo que acreditava inexistir a identidade pessoal. Se nos poemas de Fervor de Buenos Aires (1923) a tarde, que é soberana, por vezes se vê raptada pela noite, nos versos da cegueira de Elogio da sombra (1969) e História da noite (1977) é a escuridão que sofre alguns lampejos de claridade; em mais de um sentido, o primeiro e o último Borges são essencialmente o mesmo.
Alguns outros exemplos são igualmente significativos. Em O outro, conto que abre O livro de areia (1975), o vemos já velho, completamente cego, sentado em um banco ao sul de Boston, em Cambridge, quando encontra consigo mesmo dezenas de anos mais jovem; sentados lado a lado, conversam sobre o passado de um e o futuro do outro; falam sobre seus gostos literários, o que mudará, o que permanecerá; ao fim, o velho oferece ao rapaz uma cédula de dólar com data contemporânea a ele, e recebe do jovem uma antiga moeda; cada um teria uma lembrança material impossível do assombroso encontro. Esta fantasia, que é de uma tranqüilidade terrível, condessa três obsessões muito caras a Borges: a realidade da imaginação, a não linearidade do tempo e o duplo. Esses tópicos são abundantemente explorados em seus livros. Em um ensaio, admira na flor de Coleridge (que ele colhe em um sonho e traz para a realidade) a metáfora mais adequada para a inseparabilidade entre vida e ficção, relembrando a fábula de Chuang Tzu, que sonhou ser uma borboleta e ao acordar se perguntou se não seria uma borboleta sonhando ser homem. Em uma nota sobre H. G. Wells publicada em Outras inquisições (1952), compara a flor de Coleridge ao relógio impossível que o protagonista do romance A máquina do tempo traz do futuro, impossível porque criado em um tempo que ainda não existe. Em um verbete de O livro dos seres imaginários (1967) dedicado a “O duplo”, anota que, segundo uma tradição talmúdica, um homem que buscava a Deus acabou por se encontrar consigo mesmo.
Infâmia
Para muitos leitores, é incompreensível, ou até constrangedora, a verdade de que o primeiro Borges contista foi um homem de humor ímpar e de irrepreensível apreço por histórias de sangue, morte e vigarice, por fantasias históricas que exploravam a infâmia em suas variadas formas. De 1933 a 1934, Borges publicou no suplemento dominical do jornal Crítica os relatos que, um mais tarde, seriam reunidos e impressos sob o título de História universal da infâmia. Hoje, já não resta dúvidas de que ali o escritor trabalhara um gênero originalíssimo em sua utilização de elementos jornalísticos (um sensacionalismo delicioso), de descrições vergonhosamente superficiais e de montagem cinematográfica. São essas as técnicas nada sérias que o auxiliam na redação de textos como O atroz redentor Lazarus Morell, O incivil mestre-de-cerimônias Kotsuké no Suké e O provedor de iniqüidades Monk Easteman. Os próprios títulos já dão nota do estilo espalhafatoso e paródico que quis impingir a essas histórias, todas elas anteriormente narradas por outros autores. Não são contos. São talvez um tipo de texto situado entre o jornalismo e a ficção e que corresponderia àquilo que em música se chama “divertimentos”. Borges, ao fim do volume, indica as fontes que o inspiraram. Bem ao seu estilo, algumas são falsas; com igual propriedade, as histórias que relata não são apenas reelocução de umas tramas já conhecidas; seus enredos sofrem ligeiras perturbações e passam por uma revitalização humorística que por vezes de fato leva ao riso. Como no trecho inicial da narrativa em que se dedica a nos contar de história de Billy the Kid:
A imagem das terras do Arizona, antes de qualquer outra imagem: a imagem das terras do Arizona e do Novo México, terras com ilustre fundamento de ouro e de prata, terras vertiginosas e aéreas, terras de meseta monumental e das delicadas cores, terras com o esplendor branco de esqueleto descarnado pelos pássaros. Nessas terras, outra imagem, a de Billy the Kid: o cavaleiro fixo sobre a montaria, o jovem dos duros tiroteios que aturdem o deserto, o emissor de balas invisíveis que matam à distância, como um feitiço.
O deserto encordoado de metais, árido e reluzente. O quase menino que, ao morrer aos vinte e um anos, devia à Justiça vinte e uma mortes — “sem contar mexicanos”. (Tradução: Alexandre Eulálio)
Em História universal da infâmia, apenas um texto pode ser chamado de conto. É O homem da esquina rosada, que se tornou estranhamente conhecido à época de sua publicação. É, em parte, uma mitificação da violência romântica de homens educados em uma cultura suburbana ou rural; é a Argentina povoada de compadritos e gauchos, de habilíssimos conhecedores da arte das facas. Neste relato, Borges prega a peça de que o homem que nos conta a história de um assassinato (e que a está contando para o próprio Borges) seja ele próprio o assassino, coisa revelada ao leitor apenas no parágrafo final. É um jogo com um tipo de ilusionismo bastante peculiar, o qual é propiciado apenas pelo tipo de desorientação que a literatura permite: o acontecimento central da trama não nos é dado a conhecer; o assassinato se passa em um lugar inacessível à observação de quem crê estar acompanhando a cadeia dos fatos. É um narrador que fala de si se ocultando e, quando finalmente revela a natureza de seus atos, não o conseguimos vislumbrar em lugar algum. O culpado fica impune, pois ninguém sabe ser ele o assassino. O leitor também ficou muito próximo de não saber de nada.
A estrutura do conto é notavelmente próxima ao de relatos policiais. É importante lembrar que Borges por anos dirigiu junto a Adolfo Bioy Casares, outro grande escritor argentino que era seu amigo íntimo, uma coleção de romances policiais, notadamente títulos ingleses que elevassem o gênero a um nível estético capaz de desmentir qualquer preconceito que se tenha diante dessas narrativas.

O poeta
De modo geral, este é o Borges contista. Entretanto, para compreendê-lo com o máximo de abrangência, é preciso abordar sua obra a partir de sua poesia. Quarenta anos depois de ter publicado seu volume de poemas Fervor de Buenos Aires, que é seu primeiro livro, admitiu ali se encontrar já prenunciada toda sua obra subseqüente; como se ele sempre retornasse àquele livro. O que o celebrizou foram seus contos e o mito do homem cego, sábio e solitário. Todavia, dada a freqüência com que repetia em entrevistas (até hoje, poucos escritores foram entrevistados tantas vezes quanto Borges) que se considerava essencialmente um poeta, é possível inferir que sua desconfiança em relação a sua fama de contista não era fruto apenas de mal disfarçada imodéstia. Era a constatação sincera de que suas principais reflexões e obsessões tomaram forma primeiro em versos.
Seus poemas, precisos e concisos sem serem duros ou excessivamente acentuados, são coisa estranhamente rara na produção poética dos últimos cem anos. Há autores que nos marcam mais pela beleza de determinado verso ou a brilhante adequação de uma palavra em certa descrição; Borges não é exatamente um desses autores. De fato, não foi um dos maiores poetas de um século povoado por Pound, Eliot, Auden, Ungaretti e Tolentino. Porém isso não impediu que fosse uma de suas maiores vozes: seus poemas, que em grande parte parecem variações e exercícios sensíveis sobre uns mesmos poucos temas, como o tempo e o suicídio, são portadores de uma voz que depois de ouvida é jamais esquecida. Ouçam o que nos diz sobre seu bisavô, o coronel Isidoro Suárez:
Dilató su valor sobre los Andes.
Contrastó montañas y ejércitos.
La audacia fue costumbre de su espada.
Impuso en la llanura de Junín
término venturoso a la batalla
y a las lanzas del Perú dio sangre española.
Escribió su censo de hazañas
en prosa rígida como clarines belísonos.
Eligió el honroso destierro.
Ahora es un poco de ceniza y de gloria.
Os verbos, nem sempre inauditos mas infalivelmente algo imaginosos e elevados, são escolhidos de modo que sejam os únicos aptos a naquele momento transmitirem a apreensão de certa experiência sensível. O que é óbvio em todo bom poeta. Entretanto, não em Borges, pois a ele o específico e irredutível podem por diversas vezes se repetir para sua monótona testemunha. (O único, em Borges, é passível de coincidência com o repetível.) Toda palavra significa e tende a significar ao máximo, o que pode ser prontamente ilustrado em quase todas as páginas do livro: o “poente de pé como um Arcanjo” que “tiranizou o caminho”; “o silêncio que habita os espelhos”; “a luz do dia de hoje” que “encurrala e apaga a voz macia dos antepassados”. É válida a observação de que sua melancolia pode provocar algum cansaço no leitor. Porém Borges, quando peca quanto a isso, o faz apenas por uma utilização amiúde abusiva de adjetivos, e não por se aproximar da farsa (a qualquer sentimento, em Borges, está vedado tomar parte da farsa ou do melodrama).
De outra ponta, impressiona como Fervor de Buenos Aires já contém os universos borgianos inclusive no que têm de excessivo, notadamente um barroquismo reconhecido até mesmo pelo autor como desnecessário. Mas com os anos Borges o abandonaria. Continuaria a carregar consigo somente a verdade de que “não haverá senão recordações” em sua saga dentro “do enigma do Tempo”, diante do “poente implacável em esplendores” de uma cegueira que todavia não o impediria de ser um dos poucos notívagos que “sonham o mundo”; um dos que “conservam, cinzenta e apenas esboçada, a imagem das ruas que definirão depois com os outros”.
O prazer de ser leitor
Jorge Luis Borges pertencia a uma estirpe de escritores hoje cada vez mais rara: a dos que reiteradamente nos fazem afirmar, para nós mesmos, o prazer da leitura. Por isso suas obras prescindem de introduções. Sua observação de que Shakespeare não precisou ler bibliografia shakespeariana para escrever suas peças; o conselho cotidiano para que seus alunos fossem direto às fontes; sua opinião de que a teoria literária é largamente dispensável; a lembrança de ter aprendido com facilidade a língua italiana através do gozo diário da leitura bilíngüe (inglês-italiano) da Divina comédia — Borges foi um dos maiores estímulos que um leitor poderia ter. Enquanto toda uma fauna de escritores elaborava seus livros a partir de uma suposta teoria genial da ficção (o nouveau romain, por exemplo) ou buscava mesclar vida e literatura de formas geralmente patéticas (Allen Ginsberg se masturbando enquanto lia um poema de William Blake), Borges nos relembrava o prazer ameno e habitual da experiência estética que é abrir um livro, da bem-vinda e conservadora segurança da leitura ininterrupta e displicente, da sabedoria que é se resguardar de todos os perigos vulgares e optar pelas aventuras do conforto, estas de natureza deliciosamente irresponsável — como a de Sherezade a desfiar suas histórias.
É digno de nota o fato de que a ficcionalização do ato da leitura e da figura do leitor foi muito de seu gosto. A maioria de seus contos se passa em primeira pessoa, com um Borges feito personagem de si mesmo. Em um dos ensaios constantes de Outras inquisições, chamado Magias parciais do Quixote, ele relembra alguns pontos da literatura em que o leitor, e o livro que se lê, são parte da ficção: na biblioteca de Dom Quixote, encontra-se um livro de Cervantes; no Hamlet, vê-se o príncipe assistindo a uma peça que encena sua própria tragédia. Para Borges, a possibilidade de vermos os personagens de uma obra como leitores, e leitores ainda do livro em que os lemos, é fabulosa, terrível, inescrupulosa. Nos faz ver que nós, leitores, talvez sejamos fictícios.
Seria estranho, em outro autor, que tão árduos engenhos da imaginação convivessem com sua completa inconclusão. Em Borges é natural. As obsessões e notas livrescas de uma página sempre se estendem a outras que as partilham em tons, extensões e por motivos variados. Sua obra se assemelha ao livro de areia que ele imaginou em um de seus contos, se assemelha aos incertos caminhos do monstruoso labirinto cujo habitante, Minotauro, é por ele relembrado como Astérion em O aleph (1949). Se a precisão dos relatos, a sobriedade e a elegância da escrita contribuíam para o rigor da arquitetura, sua memória, que era uma história da literatura inteira, não obedecia a critérios de novidade e particularidade na manipulação de seus elementos.
Eis por que em um século que se dedicou a cultivar o caos de maneiras até então inimaginadas Borges surge como artífice da ordem, porém de uma ordem talvez mais lúdica que todas as ruínas e estratagemas erigidos por um Joyce, por um Breton, por um Faulkner. A seu respeito, resta válido o que em 1945 escreveu sobre Paul Valéry, um ano após a morte do francês que, tal como ele, inventou-se através da própria obra: “preferiu sempre os lúcidos prazeres do pensamento e as secretas aventuras da ordem”.