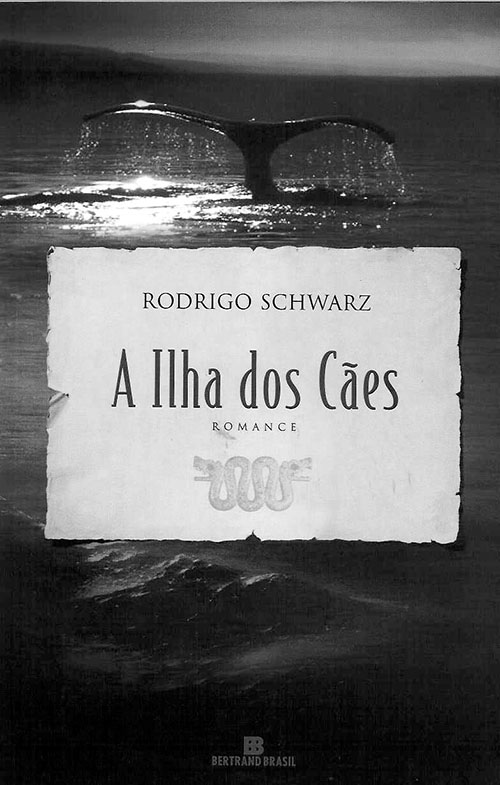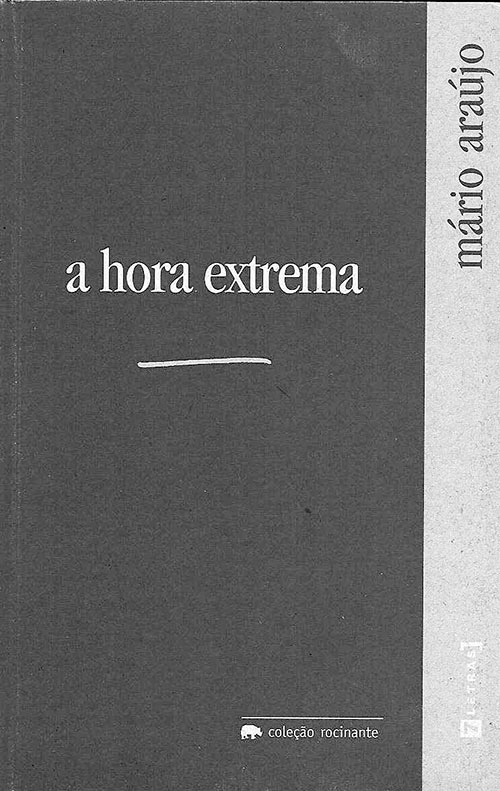O que leva uma pessoa em sã consciência a almejar uma carreira literária? Relatos das agruras pelas quais passa um escritor, seja ele novato ou veterano, sobejam tanto na vida real quanto na ficção e têm servido de argumento ao cinema, ao teatro e à própria literatura. Ainda assim, novos escritores estão sempre aportando no mercado, e numa velocidade nunca antes vista. A maioria vem lançada por editoras pequenas, sem grande poder de inserção midiática ou comercial, e não é raro uma edição ser bancada pelo próprio autor. Ou seja, o retorno financeiro não parece ser a motivação dos ficcionistas estreantes num país onde o consumo de literatura responde por cifras que cada vez mais nos envergonham perante o resto do mundo.
As dificuldades, contudo, não se restringem apenas à questão pecuniária. Elas surgem bem antes, desde o momento em que a idéia de um livro começa a tamborilar na cabeça do escritor. A busca da originalidade temática, quando todas as histórias parecem já ter sido inventadas e trazidas ao grande acervo da literatura universal, ou então da novidade formal, quando até mesmo livros com páginas em branco já foram concebidos na tentativa de se fazer algo realmente inovador. E, ainda que o debutante se convença de que a contribuição dele à literatura pode incluir a escolha de caminhos já abertos por seus antecessores — normalmente é isso o que de fato acontece —, ele vai sofrer até encontrar o melhor jeito de contar algo, a melhor frase. Ficará noites em claro pensando no final de um conto ou de um capítulo, na solução que dará a um personagem. Enfim, é dura a vida do escritor, e não há quem ainda se iluda com o falso glamour do ofício a partir de um ou outro exemplo excepcional. Todavia, novos candidatos continuam a pulular. Grande parte dessas novas safras não sobreviverá ao primeiro livro: tarde de autógrafos para os amigos e a família, nota no jornal local, quinze minutos de fama. Só uma pequena parcela vai vingar e prosperar, para gáudio e desfrute de um público que, embora constrangedoramente pequeno, anda sempre ávido de novidade.
Rodrigo Schwarz e Mário Araújo têm pouco em comum além do fato de terem lançado seus primeiros livros de ficção com diferença de semanas. E também pelos fortes indícios que nos dão de que não querem parar por aí: ambas as obras são sérias e sóbrias, que não compilam experiências adolescentes originárias da internet nem gravitam em torno do umbigo dos respectivos autores, situações muito comuns hoje em dia e que poderiam aniquilar na raiz qualquer pretensão literária mais sólida ou duradoura.
A Ilha dos Cães, romance do jovem catarinense Rodrigo Schwarz lançado pela Bertrand Brasil, é dos dois o projeto mais ambicioso. Enquanto o conto continua a ser o gênero preferido dos iniciantes — seduzindo-os com uma facilidade que já se provou, inúmeras vezes, inexistente —, Schwarz começa pelo romance, exercício que, antes de qualquer outro talento, exige fôlego. A maior ambição do autor, contudo, transcende este aspecto. A história é por si fascinante: Sir Richard Francis Burton, aventureiro inglês do século 19, erudito e poliglota, a quem se deve a primeira tradução ocidental do Kama Sutra e do Livro das mil e uma noites, é vítima de um naufrágio durante a viagem que o levaria, já designado para uma nova missão, do Brasil, onde atuava como diplomata, até Damasco, na Síria. Os únicos sobreviventes, Burton e um pescador brasileiro que perde a visão em decorrência do desastre, refugiam-se então numa minúscula ilha do Oceano Atlântico, sem qualquer perspectiva de serem resgatados. Enquanto seu companheiro passa o tempo esculpindo enigmáticos cães de madeira, Burton dedica-se a escrever um romance épico baseado na história das grandes civilizações pré-colombianas e no hipotético cenário de uma América jamais pisada por europeus.
O projeto de Burton traz desdobramentos metalingüísticos interessantes à obra de Schwarz. Um deles é o expediente já bastante explorado das duas histórias, uma narrada dentro da outra, com elementos análogos, entre elas, suficientes para justificar a opção por essa complexa estrutura. O autor vai além e estabelece um belo diálogo entre as duas tramas, cheio de convergências sutis que vão sendo desvendadas ao longo da narrativa e que levou o escritor Nei Duclós, numa resenha do livro sob o sugestivo título de A arte dos encaixes, a evocar um jogo de matrioscas russas — aquelas bonecas de madeira, idênticas na aparência mas de tamanhos distintos, que não param de sair umas de dentro das outras. Um segundo componente metalingüístico é o eterno conflito autoral apresentado aqui numa circunstância extrema: que estranha motivação leva Burton a escrever um romance que sabe de antemão que jamais será lido? A questão é antiga (uma variante pode ser encontrada inclusive nos parágrafos iniciais deste texto), mas Schwarz aposta na situação inusitada que vive seu personagem, dando prova de maturidade ao lançar mão de um recurso dos mais inteligentes: trata apenas de levantar a pergunta, deixando que o leitor encontre por si a resposta, e ainda não foi inventada uma fórmula que estimule mais a participação de quem está do outro lado.
Schwarz vale-se de uma linguagem absolutamente contemporânea, mas neutra o bastante para não comprometer em nenhum momento a verossimilhança histórica:
“Só que Burton não era um louco, apenas um homem morto. De que forma os últimos atos de um condenado podem ser submetidos a julgamento? Não seria possível cometer mais um pecado em pleno juízo final. E se era inútil tentar arrumar um pedaço de madeira que o permitisse ficar à deriva por dias em alto-mar antes de ser atirado de mãos vazias para longe do Polka Tulk, a tripulação inteira parecia estar condenada; não sobraria ninguém para testemunhar que morrera como um tolo.”
O exercício da concisão faz com que uma estrutura tão multifacetada como essa se comprima na exigüidade das pouco menos de 130 páginas que compõem o romance. Se por um lado a opção denota a preocupação do autor em ser objetivo — virtude que deve ser sempre exaltada —, por outro ela bloqueia o avanço na direção do aprofundamento psicológico de alguns personagens, em especial do atormentado Burton, o que enriqueceria sem sombra de dúvida a narrativa.
O curitibano Mário Araújo trabalha em sentido oposto. O território dele é o da minúcia, da conversa espichada, reflexo talvez de uma personalidade que escolheu a diplomacia como profissão. Gasta páginas e páginas discorrendo sobre insignificâncias das quais se ocupa a mente de um homem que vive sozinho no divertido Faça-se a luz, um dos dezesseis contos de A hora extrema, editado pela 7 Letras. Também esbanja ironia em Pendor, onde narra com toda a seriedade o revés de uma história conhecida, num clima notadamente kafkiano. O léxico é elegante, o ritmo, sempre muito tranqüilo: não há pressa nem aflição, muito menos vertiginosidade. Araújo é um artesão cuidadoso, daqueles que prezam a eufonia e a precisão vocabular e que, de quando em quando, surpreendem o leitor com conotações inspiradas. Como a que encontramos já no segundo parágrafo do conto que abre a coletânea e que lhe dá nome:
“Fica imóvel debaixo do cobertor escutando os sons que escapam da TV para além das fronteiras da sala. Quando esse enfim silencia, ele cola o ouvido na treva. No quarto ao lado, o bebê merece toda a atenção; no jardim, a lentidão inaudível das lesmas; na rua, nenhum carro. E assim, vigiando sem ver as coisas palpáveis, o menino acaba por adormecer. Quando acordar já será dia feito, e isto é tudo o que conhece dos humores da luz, do claro-escuro do mundo.”
O conto, talvez o melhor do volume, é também emblemático da concepção estética de Araújo. A história do garoto que quer a todo custo assistir à chegada da meia-noite — a tal hora extrema — mas sempre dorme antes de conseguir satisfazer a curiosidade e decifrar finalmente esse tão grande mistério, sintetiza o universo das coisas pequenas e movimentos minimalistas dos quais se ocupa o autor. Na orelha do livro, o escritor Luiz Ruffato afirma que Araújo é “filho da melhor tradição da literatura da miudeza” de “Anton Tchekhov, Katherine Mansfield, James Joyce”. É possível incluir Clarice Lispector nesse rol, e por outro viés: a narrativa de Araújo é intimista, na medida em que a ação principal se desenvolve sempre na cabeça do personagem, e o processo transformador tem origem numa epifania sempre extraída da banalidade.
Dois aspectos deverão merecer cuidado nas obras futuras. O primeiro deles diz respeito à temática: por mais brilhante que seja o enfoque dado pelo autor, a opção invariável pela trivialidade pode também levar ao enfadonho. Novidade — é bom que se lembre mais uma vez — é o que o leitor espera sempre encontrar. Por outro lado, alguns deslizes estilísticos — poucos, há que se reconhecer — destoam da elegância do texto: “Era uma dessas camas de estrutura tubular, compradas na Tok Stok (sic) a preço acessível, e que conferem um ar jovem e moderno ao ambiente.” Desnecessário dizer que estamos tratando aqui de literatura, o que torna inaceitável uma construção tão rasa como essa, exceto se o objetivo for o sarcasmo, mas não é o caso. E, mesmo que o exemplo tivesse vindo de uma peça publicitária, faltaria ainda acertar a grafia do nome da loja.
A Ilha dos Cães e A hora extrema respondem por duas boas estréias. Ambos os autores, além de terem lançado por casas editoriais importantes, demonstram talento e competência para ultrapassar a barreira fatídica do primeiro livro e se inscrever entre os que têm importância na literatura brasileira. Daqui para a frente, só depende deles.