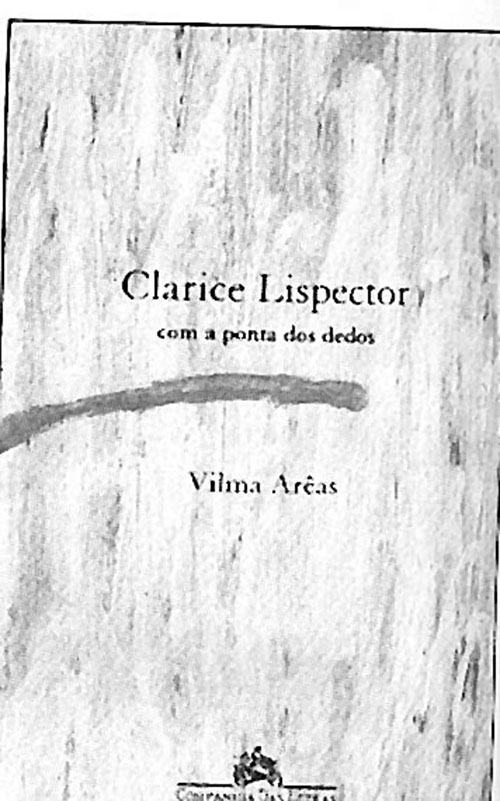A obra de Clarice Lispector, e em particular A paixão segundo G. H., seu romance mais radical, servem como uma chave para inspecionar os impasses da literatura brasileira de hoje. Literatura que, em geral, se divide entre dois movimentos antagônicos, mas igualmente limitantes.
De um lado, estão os escritores que apostam em uma volta ao naturalismo, um naturalismo atualizado pela linguagem do cinema, da televisão e da internet. Estes desejam fazer da literatura, só, uma máquina que lhes permita fotografar o mundo. De outro, aqueles autores que insistem no projeto esgotado da transgressão, dos jogos de linguagem, da experimentação vazia, certos de que a literatura — e a linguagem — constituem um mundo autônomo, que basta a si mesmo e só conduz, de volta, a si.
Duas posturas que, mesmo oferecendo soluções discrepantes, deixam escapar, da literatura, o melhor: os olhares inesperados que ela pode rasgar sobre a realidade, as tensões que pode produzir na delicada relação do homem com a palavra, as perspectivas que pode descortinar em um mundo marcado pela repetição.
Para os naturalistas, em um movimento de expansão que beira a obesidade, a linguagem é só um instrumento, impessoal, pragmático, “técnico”, a ser usado e, em seguida, descartado. É só um artifício, que leva ao que de fato interessa: a realidade. Um recurso, cujo valor se marca pela utilidade. Eles estão entre aqueles que, como disse a própria Clarice, tomam a linguagem como isca; uma vez dominado o objeto, acreditam, podemos jogar a palavra fora. Esquecem-se de que a palavra fica, para sempre, incorporada ao que se pega, que dela não nos livramos mais.
No outro extremo, os adeptos da transgressão tomam a linguagem como um artifício, mas apostam, ao contrário, em sua impotência, e escrevem para a ela se adaptar. E para jogar com suas formas. Daí retorcerem a linguagem sobre si mesma, em um movimento de contração e de fragmentação cada vez mais radical. Operam, assim, um retorno à própria palavra que se transforma, no fim, em uma prisão. Como os cultores da transgressão, Clarice Lispector conhecia a impotência da linguagem, sua inaptidão para chegar à coisa, sua incompatibilidade com o isso. Mas nem assim se contentou com os jogos formais, nem por isso desistiu de perseguir e circundar e desfiar a vida real.
Como os naturalistas, Clarice conservou a realidade como meta, mas sem esquecer que ela se apresenta sempre atravessada pela linguagem, que ela “é” também linguagem. Daí seu sonho de chegar a um terreno inacessível que fica “atrás de detrás do pensamento”. Isto é, livrar-se da linguagem e de seus artifícios para tocar o que ela chamava, como os freudianos, de “isso”, ou de “a coisa”. G. H. é o momento-chave nesse impasse, porque é neste livro, mais que em qualquer outro, que Clarice leva ao limite seu combate com a palavra. Um instrumento que, em vez de despertar familiaridade, lhe desperta desconfiança.
Oito anos antes, em 1956, ela publicou A maçã no escuro, romance que é contemporâneo de Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, e ao qual serve — podemos observar agora — como contraponto. Tanto Clarice como Rosa escreviam para dilatar as fronteiras da literatura. Só que, enquanto Rosa se embrenhava na selva das palavras, Clarice dela escapava. Dois anos depois do lançamento de G. H., Jorge Amado lançou Dona Flor e seus dois maridos e Carlos Drummond de Andrade, a primeira edição de sua Poesia completa. Dez anos depois, quando Clarice publicava outro de seus grandes livros, Água viva, João Cabral nos dava o Museu de tudo. É uma década crucial na história literária do século 20.
A trama, o “conteúdo” de A paixão segundo G. H. é simples e quase nenhum. Aproveitando que despediu uma empregada, uma mulher, nomeada só pelas iniciais G. H., decide fazer uma faxina no quarto de serviço. Lá, no negrume, depara com uma barata que se esquiva da porta do guarda-roupa. Num impulso, a mulher a espreme contra a porta. Depois, chocada com a própria violência, ela resolve provar a massa branca que escorre da armadura do inseto.
E isso, só isso, deu a Clarice Lispector um romance de duzentas páginas. Um livro que desarranja a ordem literária brasileira e que leva a literatura a suas fronteiras mais imprevistas. Depois de A paixão segundo G. H., já não se pode escrever com a mesma inocência. Depois dele, não é mais possível acreditar serenamente nem na potência reveladora da literatura, nem em sua impotência fundamental. O romance de Clarice nos obriga a repensar tudo, a voltar ao início.
Mas então, onde ficamos? G. H. é, até hoje, um livro mal compreendido, que alguns restringem a uma experiência intimista, outros a um exercício diletante de filosofia, e, os mais maldosos, a um relato “para moças”. Um livro que perturba a serenidade do leitor, porque tem no atordoamento sua matéria. G. H. não é um romance que pretenda expressar essa ou aquela idéia, essa ou aquela experiência, relatar essa ou aquela história. É um livro que ultrapassa a idéia de resultado, e que se constitui mais como uma pergunta. Perguntas elementares, que podiam ser sintetizadas, quem sabe, assim: — O que faço quando escrevo? — Onde me leva a palavra? — O que consigo pegar com ela?
Com o romance, Clarice busca o neutro, quer dizer, aquilo que está além da intervenção humana, aquela zona autônoma da vida que nem mesmo a linguagem pode alcançar. Seu projeto é quase suicida: ela usa a literatura para saltar para fora da literatura. “A vida se me é e eu não entendo o que digo”, diz a narradora. Romance que não cede às ilusões que cercam a figura do Escritor, visto, em geral, como alguém que sabe o quer, e o mais grave, como alguém que sabe o que diz. Livro que não cede às ilusões do Eu, preferindo se ater à região impessoal do Mim — aquela zona neutra, onde a palavra é dispensável, onde ela só atrapalha e esconde.
A escritora canadense Claire Varin nos lembra que, em A maçã no escuro, publicado oito anos antes, o personagem Martim, depois de cometer um crime, planeja escrever na prisão um romance. “Juro que no meu livro terei a coragem de deixar inexplicado o que é inexplicável”, Martim diz. É Claire quem nos chama a atenção, ainda, para as dificuldades que tem a crítica literária para incluir G. H. na categoria “romance”. No entanto, temos uma narradora, uma personagem em ação, G. H., e temos inclusive uma trama, ainda que frágil e mesmo decepcionante. Ainda assim: será que isso, ser ou não ser um “romance”, era algo que importava a Clarice?
Alfredo Bosi viu G. H. como um “romance de educação sentimental”, mas isso ainda é muito pouco. Quando quebra suas fronteiras pessoais e decide provar a barata morta, a personagem de Clarice não está só ultrapassando os estreitos limites do pessoal, mas discutindo a própria noção de pessoal. Não podemos esquecer que G. H. é uma narração, isto é, ele nos traz aquilo que a personagem consegue dizer a respeito do que vive. “(…) estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender”, o romance começa. É como procura, e não como revelação (há quem veja em G. H. uma espécie disfarçada de revelação religiosa…), é como uma pergunta sem resposta que o livro se oferece.
Trata também da impossibilidade dos escritores não só para chegarem à coisa em si, quer dizer, para tocarem o real; mas também para darem conta daquilo mesmo que os torna escritores, quer dizer, sua escrita. Mesmo os mais ousados narradores da literatura pós-moderna (pensemos em Enrique Vila-Matas, em Roberto Bolaño, em Carlos Cerca, em César Aira, em Ricardo Piglia), autores que conhecem a impotência da linguagem e que a enfrentam, nem mesmo neles há uma disposição para o abismo, há uma aceitação da palavra enquanto falha, como acontece com Clarice em seu G. H.
Com G. H., na verdade, Clarice se desloca de alguns pontos que viriam a demarcar, décadas depois, o território da literatura pós-moderna. Literatura crivada pelo pensamento, na qual autores dialogam com outros autores e livros com outros livros (o espanhol Enrique Vila-Matas dialogando com os “escritores do não” e também com aqueles que sofrem do “mal de Montano”; o argentino Ricardo Piglia fazendo da literatura uma forma dissimulada de crítica literária). Na qual autores incluem a impossibilidade em seu próprio projeto literário (o chileno Carlos Cerda, em O espírito das leis, livro escrito enquanto morria de câncer, incluindo a própria impossibilidade de concluir, a própria idéia de um fim abrupto na narrativa). Alguns autores se declaram anti-realistas” (o chileno Roberto Bolaño simulando máscaras, insuficientes, de uma autobiografia), outros trabalham o próprio fracasso (o espanhol Javier Cercas narrando seu esforço para escrever um livro que não consegue escrever, mas que enfim escreve).
Em Clarice, não. Por suspeitar do pensamento e mais ainda da cadeia de narrativas que constitui o mundo literário, ela prefere a meditação. Abre mão assim da arrogância do escritor e da suposição de poder evocatório que o cerca. “O perigo de meditar é o de sem querer começar a pensar, e pensar já não é meditar, pensar guia para um objetivo”, G. H. pensa. A meditação, ao contrário, é a impossibilidade de comunicação entre pensamentos diferentes, porque não se move para fora, mas para dentro. Abrindo um caminho diferente daquele que desaguou no pós-modernismo, para Clarice, escrever não é um projeto impossível, mas, sim, o encontro de uma nova moral, absolutamente humana, que prescinda da perfeição, da realização e da beleza. “Terei que dar com saudade adeus à beleza. Beleza me era um engodo suave, era o modo como eu, fraca e respeitosa, enfeitava a coisa”. Dá adeus, também, ao sucesso, à glória e, até mesmo, à identidade de escritora. Era só, ela pensava, uma mulher que escrevia, e isso não chega a ser uma identidade.
Ainda que reconhecendo a fragilidade da literatura, sua debilidade para dar conta do mundo, Clarice não faz disso uma impossibilidade, ou um argumento para a solidão. Ao contrário, é da tarefa impossível que ela tira a força de suas ficções. “Toda essa irrealidade, eu a vivia com um sentimento de irrealidade da realidade”, escreve. Tal sentimento de desrealização se dá porque, em suas mãos, a literatura é uma maneira de se reconectar com o corpo e com os sistemas autônomos que o regem. Não é uma arte, ou um status, ou uma identidade — é uma atitude.
“A barata não me via com os olhos, mas com o corpo”, G. H. diz. E, voltando-se para si, conclui: “O que nela é exposto é o que em mim eu escondo”. É no contato com a barata, é provando a gosma branca que dela escorre, que G. H. tem contato com o “neutro” — que ela supõe seja o demoníaco. De qualquer modo, é aquilo que vem antes do humano; não só que o antecede, mas que o impossibilita. Sem o corpo, ela nos leva a ver, não há literatura. Sem o “isso”, não há o sujeito que escreve e que se diz “escritor”. É desse vínculo doloroso e disforme que Clarice parte.
Mesmo lidando com a impossibilidade de atingir o “isso”, Clarice jamais se declararia uma anti-realista. “Quero o material das coisas”, ela escreve. “A humanidade está ensopada de humanização, como se fosse preciso; e essa falsa humanização impede o homem e impede a sua humanidade”, ela diz. É pelo mesmo motivo que G. H. nos propõe substituir a sensibilidade pela indiferença: “Teremos o que mais se assemelha a uma ‘atitude’ do que a uma idéia”. A propósito de Clarice, é útil pensar na distinção feita pelos psicanalistas entre realidade e real. Realidade, para eles, é a “realidade psíquica”, quer dizer, aquilo que no psiquismo do indivíduo apresenta uma coerência e uma resistência comparáveis à da realidade material. É uma construção, em que entram também a imaginação, o mundo simbólico e o inconsciente. Já o real é aquilo a que não se pode chegar, aquilo de que estamos separados para sempre. É o real que Clarice busca, e não encontra.
Como G. H., sua personagem, Clarice Lispector é uma escritora que desiste de esperar, para ficar com o que é. Ela conhece a insuficiência de seus conceitos de realidade, a dívida eterna em que permanece. Mas segue em frente, ainda que não compreenda o real, ainda que não o veja, ainda que sequer possa nomeá-lo. “Não se colocar em face da esperança não é a destruição do pedido!”, G. H. diz. “E não é abster-se da carência. Ah, é aumentá-la.” Sem esperança (os escritores hoje ou querem chegar ao real, ou querem dele escapar), sem projeto (os pós-modernos são cheios de projetos e de maquinações e de citações e de armaduras), Clarice fica com uma literatura que se atém àquele estreito vão (de acesso, mas também de impedimento) que a linguagem oferece. Não parte do que quer, mas do que tem. Diz G. H.: “Não é para nós que o leite da vaca brota, mas nós o bebemos”.
Esse corajoso movimento de Clarice Lispector em direção à fronteira opaca que separa a literatura do real, o seu espanto diante de algo que lhe escapa, mas que também é tudo o que tem, inaugura uma nova perspectiva em nossa literatura. Um olhar desesperançado, mas inquieto, que já não vê mais a literatura como um mundo estável, que basta a si mesmo, ou como o ofício do “escrever bem”, ou do “pensar bem”. Já não aceita que a literatura possa ser, só, um jogo intelectual e uma arte de especialistas, ou, ao contrário, um instrumento a usar e depois descartar. Clarice passa a encará-la como um projeto aberto, como algo sempre a construir. Com A paixão segundo G. H., Clarice Lispector ultrapassou os padrões literários de seu tempo e colocou sob suspeita as certezas a respeito da palavra. Ela poderia, se quisesse, repetir a frase de Nietzsche: “Falar é uma bela doidice: com ela o homem dança sobre todas as coisas”.