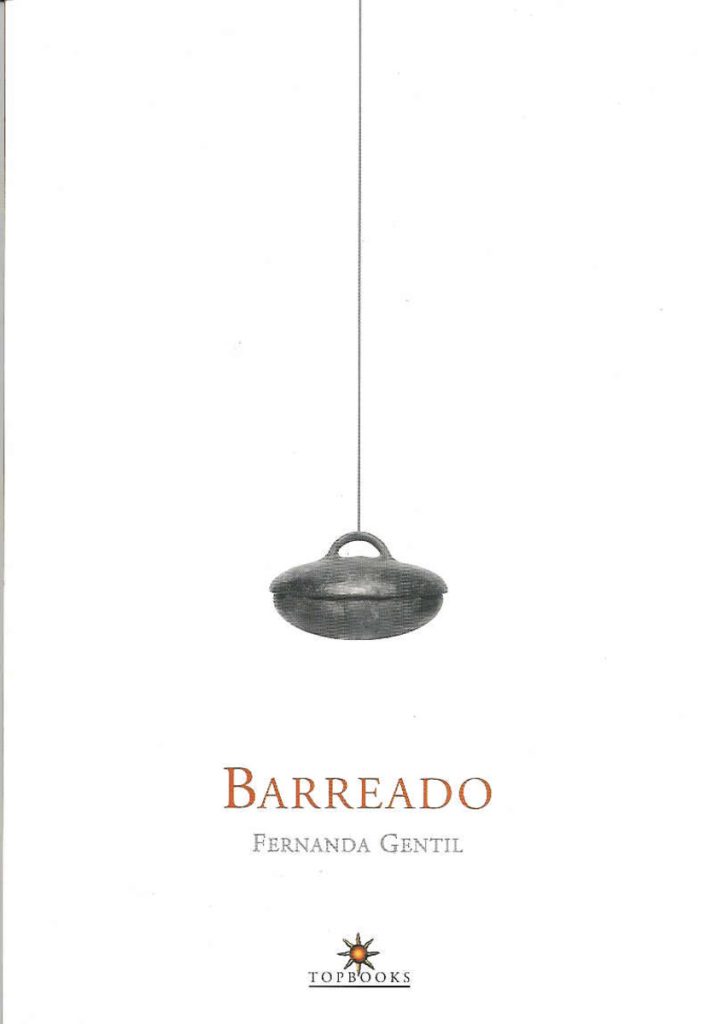Barreado, de Fernanda Gentil, e As pedras não morrem, de Miriam Mambrini, têm uma coisa em comum: bons títulos. Mas não se pode dizer o mesmo da consistência das histórias. A das pedras é mais fraca. Bem mais fraca — e olhe que o barreado não é grande coisa. Uma pena.
A capa bem cuidada e o título de As pedras não morrem prometem uma boa história. Miriam até parte de um bom começo: um garoto precisa de um computador, mas está sem dinheiro. Vai a um brechó e compra um velho XT, mais por simpatia pela tranqueira do que por seus “dotes”. Quando chega em casa, percebe que há um arquivo, ainda, no cacareco: “máscara”. O nome o intriga: que diabos de máscara será essa? É lógico que ele fuça para tentar descobrir. E descobre: é o diário de uma moçoila de vinte e poucos anos, que faz faculdade de Letras. Depois disso, o leitor — nós, esperando ansiosamente saber por que (e se) as pedras não morrem, afinal — passa por uma série de desabafos da guria e uma penca de coincidências com o rapaz. Tudo muito normal. Previsível.
Não estrago a leitura de ninguém se contar que o nome do arquivo é uma referência à máscara mortuária de Irene, a avó de Irene, a garota que escreve o diário. Irene neta nunca conheceu a Irene avó, que morreu em Dresden, Alemanha, depois de ser atropelada por uma bicicleta. “Havia mais alguma coisa me perturbando na máscara, além do significado imediato de ela evocar o grande espectro da morte. O rosto era conhecido. Aos poucos fui descobrindo por quê. Ela se parecia comigo.” (p. 37) Para que mais clichê que isso?
A estrutura do livro é até interessante. Intercala a vida sem graça de Gabriel, o moço que comprou o XT, com o diário sem sal de Irene neta. Mas a leitura segue monótona. Qualquer um sabe exatamente o que vai acontecer. Depois da clássica crise de identidade da Irene de hoje, que se identifica e se confunde com a de ontem, há um aceno ao oculto, ao mundo espiritual. Como era de se esperar. Um aceninho tão expressivo quanto o costumeiro balançar de mãos da rainha da Inglaterra.
As pedras entram na história porque a avó Irene colecionava. E Irene neta fará a mesma coisa. É claro. “[…] Guardei as pedras na caixa de madeira junto com as da vó Irene. Agora é tudo meu. Ou tudo dela, dá no mesmo.” (p. 97).
Na panela – O livro de Fernanda Gentil é um pouco melhor. Um pouco mais elaborado. Com uma linguagem mais interessante, mais cuidada. O problema é que, conhecedora do delicioso prato típico do litoral paranaense, achei que Barreado seria uma leitura densa, feita aos poucos, em fogo lento, demorado… e farta. Assim, como a receita que lhe inspirou o nome: a carne cuidadosamente cozida por 12 horas na panela de barro selada com farinha de mandioca… sem pressa, para ser apreciada ainda bem quente, com uma banana ou uma laranja como acompanhamento. Mas não é bem assim. É, a bem da verdade, uma releitura (palavra terrível, adorada pelos artistas de plantão) da clássica parábola do filho pródigo. Quem fez aula de catequese lembra, com certeza: o filho mais novo pega metade do dinheiro da herança do pai e sai pro mundo, deixando o irmão mais velho cuidando do pai. Em suas andanças por esse mundão de meu deus, come o pão que o capeta sovou. Por isso, volta com o rabo entre as pernas. É recebido com festa pelo progenitor. E com inveja pelo irmãozão, que passou a vida toda cuidando do velho e nunca recebeu um ‘obrigado’ como paga.
Fernanda Gentil usa até mesmo nomes bíblicos para contar a história, inspirada na parábola narrada por Jesus Cristo, assentada no evangelho de Lucas — que, aliás, é o nome do filho pródigo de Barreado. O irmão invejoso é Mateus. A mulher de Lucas é Maria. O pai é Pedro.
Mas, mesmo com uma história simples, “copiada” do novo testamento, Barreado tem seus encantos. É bem “amarradinha”, tem consistência — não a de um barreado tradicional feito pros lados de Morretes e Antonina, mas tem. Prende a atenção de quem lê. Nem que seja para saber o que vai ser de Mateus, depois da chegada de Lucas. Essa parábola, para mim, acaba com um grande ponto de interrogação: pelo que me lembro das aulas da irmã Jenny, a historieta acaba quando o pai explica ao mais velho que o caçula estava ‘morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado’. Uma explicação fraquinha. Mas há quem se satisfaça… Não é o caso de Fernanda Gentil.
As autoras — Miriam Mambrini e Fernanda Gentil são cariocas. A primeira formou-se em línguas neolatinas na PUC-RJ e lançou três livros: os de contos O baile das feias e Grandes peixes vorazes e o romance A outra metade. Fernanda formou-se em comunicação social na UFRJ e escreveu o livro de contos Língua de trapo.