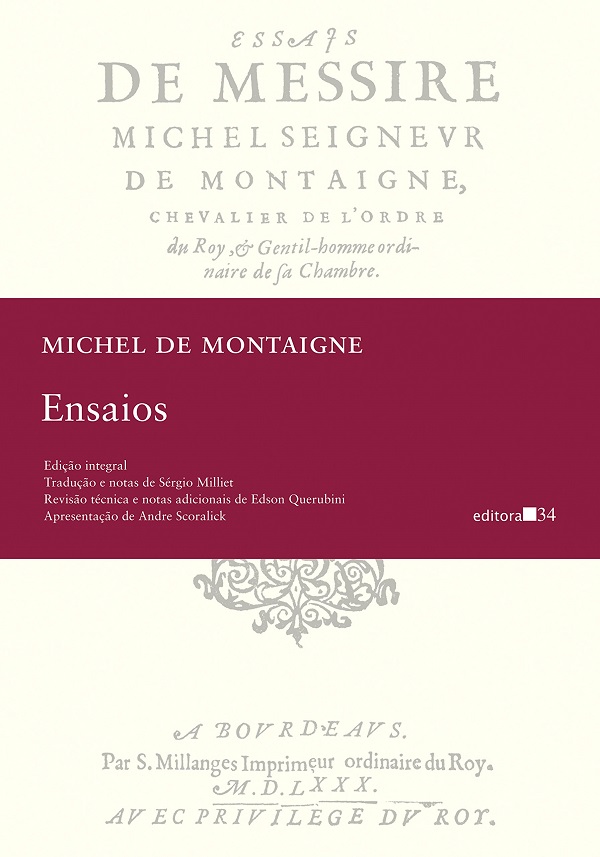You’re so fine, lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear
INXS, “Disappear”.
1.
No dia 28 de fevereiro de 1571, um homem de posses, exaurido de tudo e de todos, entrou na sua residência e mandou pintar a seguinte inscrição latina em uma das paredes da biblioteca, composta por mais de mil volumes: “No ano de Cristo de 1571, aos trinta e oito anos de idade, no último dia de fevereiro, aniversário de seu nascimento, Michel de Montaigne, há muito cansado da servidão do tribunal e dos empregos públicos, apesar de ainda íntegro, retirou-se para o seio das Musas, onde, calmamente e livre de toda preocupação, passará o pouco que resta da sua vida, da qual mais da metade já decorreu. Se o destino permitir, ele concluirá esta morada, este doce refúgio ancestral; e o dedicou a sua liberdade, tranquilidade e lazer”.
Esta data é um dos momentos mais importantes da história da humanidade. É o momento em que um único homem, sozinho, cria o modelo de como alguém deve se comportar naquilo que conhecemos hoje como “modernidade”. Ele faz (e, mais, responde) àquilo que o escritor francês Maurice Blanchot perguntaria alguns séculos depois: Como faremos para desaparecer? No caso, desaparecer não significa apenas sumir dos assuntos públicos. Significa, sobretudo, dar às costas para o mundo sem desprezá-lo; significa também vê-lo com novos olhos — os olhos de alguém que reconhece em si mesmo a verdadeira matéria de meditação para o futuro que está por vir.
Este desaparecimento em função de um futuro serviu também ao propósito de sobreviver a um presente que ninguém sabia se conseguiria permanecer. Na época de Montaigne, isto não parecia ser de grande valia para os outros. No ano em que ele decidiu manter a sua integridade a qualquer custo, a França onde morou e nasceu passava por uma terrível guerra civil religiosa. Os protestantes e os católicos não lutavam apenas para decidirem a respeito de quem tinha a fé mais pura ou de quem possuía a verdade dos fatos. Lutavam pela sobrevivência física. A sequência de massacres — entre eles, a famosa Noite de São Bartolomeu, ocorrida em 1572, um ano após Montaigne ter feito a sua inscrição —, de traições, de acordos assinados e não cumpridos, de reis envenenados e de usurpações, deixa claro que a constância não era a regra daqueles tempos. O acaso e o passageiro pareciam dominar tudo — e o que se vislumbrava eram apenas as ruínas dos lares onde poucos conseguiam se proteger.
Montaigne tinha todas as condições materiais para ficar acima desses destroços da História. Nascido em 1533, era filho de uma família abastada, com pretensões aristocráticas que seriam alcançadas em definitivo apenas com o descendente mais famoso. Possuía um castelo à sua disposição, com duas torres, e vários serviçais para quem ele era considerado o seu seigneur. Culto, literato, brincalhão, era ambicioso politicamente, mas sabia, graças aos estoicos que admirava nas suas leituras, que o poder não era tudo.
Por isso, sua filosofia, se havia alguma, era puramente acidental porque colocava a suspeita (algo muito diferente de dúvida) como um método primordial de ver as coisas deste mundo sempre na perspectiva da mudança e do transitório, na qual os costumes humanos têm sua tradição particular, de acordo com a observação precisa de Michael Oakeshott em The politics of faith and the politics of skepticism:
Para Montaigne, mais do que a dependência a Deus, é a obediência a ele que determina a recuperação de uma harmonia entre o ser humano e a sua relação com o mundo.
Montaigne não tem ilusões sobre o poder humano. O costume é soberano na vida humana; possui uma segunda natureza, e ele não é menos poderoso. E isto, longe de ser algo deplorável, é indispensável. Pois o homem é composto de contradições que, se ele conseguir aproveitar qualquer coerência em suas atividades ou qualquer tranquilidade entre seus colegas, precisará da ajuda de uma lei a ser obedecida. Mas a virtude de uma lei não é apenas que ela é “justa”, mas sim que é consentida. De fato, até mesmo pelos padrões normais, os costumes, como eles existem, e as leis, como são administradas, estão muito mais para serem “injustas” e certamente elas são nada além do que contingentes e locais: nós as obedecemos porque têm sua utilidade, e nada mais impositivo do que isso pode ser alegado a respeito delas. E tanto o empreendimento de fazer os acordos de uma sociedade facilita a perfeição humana, como o de impor um padrão compreensível de ação sobre o sujeito, são projetos que estão fora de sintonia com as condições da vida humana. Que sais-je [O que eu sei?]: o que estou tão certo a respeito que eu deveria direcionar toda a energia e todas as atividades da humanidade para obtê-la? E sacrificar a ordem modesta de uma sociedade para o bem da unidade moral ou uma “verdade” (religiosa ou secular) é sacrificar tudo o que tenho por uma quimera.
Se a primeira intenção de Montaigne foi desaparecer para não sacrificar as suas incertezas sobre como proceder diante da inevitável contingência do gênero humano, será que ele conseguiu o que pretendia? É provável que não, se quisermos seguir o seu procedimento à risca. Contudo, o pensamento de Montaigne é o da tentativa, jamais o da paralisia. E o modo como encontrou a aceitação das ruínas que estavam prestes a enterrá-lo nas loucuras da História foi escrever um dos testamentos mais evidentes do que a filosofia pode realizar quando tudo parece soçobrar — este monumento chamado Ensaios (relançado aqui na íntegra pela Editora 34 e com a clássica tradução de Sergio Milliet).
2.
Que sais-je? (O que eu sei?) é o famoso bordão que Montaigne faz questão de pontuar bem no meio do raciocínio de Apologia de Raymond Sebond, o mais longo e o mais importante dos textos que formam o corpus dos Ensaios. Na sua simplicidade concreta, ele também mostra toda uma visão de mundo: a de que não podemos saber o que realmente acontece ao nosso redor e, por isso, temos de baixar a nossa cabeça o tempo todo diante da maravilha (merveille) do cosmos. Motivado por um pedido de seu pai para traduzir o tratado teológico de Sebond, um pensador catalão que acreditava apenas em duas formas de conhecer o mundo — ou “baseando-se unicamente em razões humanas e naturais” ou por meio exclusivo da fé —, Montaigne quer refutar ambas as alternativas, ao mostrar que conhecemos a natureza pela graça de Deus, e nada mais. Porém, para chegar a este ponto, ele trilha um caminho inusitado: seu início se dá com a evidência de que a existência humana é uma mescla implacável de maravilha e terror, certeza e incerteza, corrupção e inocência.
Trata-se daquele fenômeno a qual me referi anteriormente em A poeira da glória como o pesadelo do paradoxo. Ele consiste em “uma conversão à realidade” que é “articulada por meio de antinomias que se acumulam numa sucessão de tensões, um mergulho na verdadeira natureza das coisas que, sob o aspecto meramente humano, dá a impressão duradoura de que a própria condição humana como um todo só será compreendido igual a uma fantasmagoria” — e o seu mero despertar disso se dará no processo pleno de se observar como, nas palavras de Montaigne, “um homem isolado, abandonado a si próprio, armado unicamente de graça e conhecimento de Deus, o que constitui sua honra e toda a sua força, e o fundamento de seu ser”, incapaz de explicar pelo seu “raciocínio em que consiste a grande superioridade que pretende ter sobre as demais criaturas”, sem nenhuma autorização para “pensar que o movimento admirável da abóbada celeste, a luz eterna dessas tochas girando majestosamente sobre sua cabeça, as flutuações comoventes do mar de horizontes infinitos, foram criados e continuem a existir unicamente para sua comodidade e serviço”, além de se esquecer completamente que há “algo mais ridículo do que [ser] essa miserável criatura, que nem sequer é dona de si mesma, [e] que está exposta a todos os desastres e se proclama senhora do universo”.
Para Montaigne, mais do que a dependência a Deus, é a obediência a ele que determina a recuperação de uma harmonia entre o ser humano e a sua relação com o mundo. Só por este motivo não se pode afirmar categoricamente que ele siga o pirronismo ou então classificá-lo como um relativista avant la lettre, como alguns do nosso “Departamento Francês de Ultramar da Rive Gauche au Tietê” imaginaram sem pudor. Dentro da sua percepção do que é o pesadelo do paradoxo no qual todos nós vivemos, a realidade ainda possui uma estrutura com uma hierarquia objetiva. Contudo, o grande problema é como a aceitamos e como a percebemos. Ela não é apenas maravilhosa e indecifrável, exceto pelo auxílio da luz divina; é também plena de mistério — e isto significa que a criatura é acossada por todos os lados, uma vítima “da inconstância, da irresolução, da incerteza, do luto, da superstição, da preocupação com o futuro, inclusive o de depois da morte, da ambição, da avareza, do ciúme, da inveja, dos apetites desregrados e insopitáveis, da guerra, da mentira, da deslealdade, da intriga, da curiosidade”. Neste ponto, estamos mais próximos dos animais, e talvez estes últimos tenham uma dignidade insuspeita que os torna superiores em comparação, já que Montaigne tem a plena certeza (o que é irônico neste caso, sem dúvida) de que “pagamos pois bem caro a tão decantada razão de que nos jactamos, e a faculdade de julgar e conhecer, se a alcançamos, é à custa do número infinito de paixões que nos assaltam sem cessar”.
Não à toa que o próprio Montaigne, como um bom ser humano, foi também vítima das suas paixões — a maior delas, talvez, o impressionante desejo de desaparecer a qualquer custo. É a consequência principal de quem contempla, sem nenhuma ilusão, o terror da existência, apesar da maravilha que nos circunda. Capturado nesta tensão erótica que estrutura o real — o metaxo descoberto por Platão e que depois Eric Voegelin traria para a nossa modernidade —, Michel de Montaigne não conseguiu ainda responder para si mesmo à pergunta que seria feita por Maurice Blanchot. Afinal, o mundo o chamaria novamente em 1581, dez anos depois da decisão de querer viver os últimos dias na biblioteca da sua torre, para exercer aquilo que todo filósofo, mesmo acidental, deve enfrentar: a impotência diante do fascínio do poder.
3.
John Kekes argumenta, em seu livro Enjoyment, que, ao retornar à vida pública como prefeito do vilarejo de Bordeaux, Montaigne desenvolveu uma estratégia para manter dentro de si a saudável suspeita pelo poder dos homens, mesmo praticando-o em sua plena função, pois ele prezava a sua independência acima de tudo. “Não faço nada sem alegria”, é o que dizia em uma de suas declarações mais célebres. Mesmo assim, realizou atividades que eram imposições comuns ao seu tempo. Além de ser o burgomestre de Bordeaux, foi chamado pelo rei da França para ser mediador entre os católicos e os protestantes. Eram vocações que entravam em conflito no seu íntimo — uma incompatibilidade apenas aparente (de acordo com os estudos de Philippe Desan na biografia recém-publicada Montaigne – A life), uma vez que até a própria atitude de desaparecer que marca os textos dos Ensaios seria também uma forma de praticar uma ambição política muito comum entre os homens da sua época.
Para Kekes, Montaigne participou na política porque sabia, como qualquer um nos nossos dias, que a política cria a moldura que torna a vida possível. Sua atividade política era uma parte do preço a ser pago para viver o seu desaparecimento em plenitude. É claro que ele reconhecia que a política era, em sua maioria, corrupta, mas era esta mesma corrupção que o levou a participar no teatro do mundo, em vez de ser uma desculpa para o recuo definitivo. Pois, ao Montaigne admitir que, quanto pior for o estado de coisas, torna-se mais urgente a necessidade de melhorá-lo, também sabe que a consciência dolorida de perceber o terror da existência não pode levar à desintegração do mundo onde vivemos. Mas ele não fez isso doando toda a sua pessoa; habilmente, praticou tal façanha com distanciamento, igual a um ator, criando um pequeno cômodo, uma arriére boutique onde seu ser interior tornou-se inacessível aos outros e onde o encontramos em sua verdadeira morada, em seu lar. Não se trata, como muitos pensam, da “poética da dissimulação” que, por exemplo, seria praticada à exaustão por essas plagas tupiniquins por um Machado de Assis — e sim algo similar à tríade “silêncio, exílio e astúcia”, defendida com unhas e dentes por aquele irlandês beberrão chamado James Joyce.
É assim, pois, que Montaigne resolve a tensão entre a vida privada e a vida pública. Sua independência é notável porque descobre, desse modo, a liberdade interior que sempre pretendeu para definir sua autonomia — e também sua meta última: a de desaparecer deste mundo, deixando claro à posteridade qual é o centro da sua alma e qual é a periferia das suas ações que nos ensinam a proteger o primeiro.
4.
Entretanto, apesar da distância imposta a si mesmo, a vida política exigiu seus custos a Montaigne. Entre 1588 e 1592, o ano do seu falecimento, ele retornou à sua torre, completamente destruído em sua saúde, sem deixar de perceber que a ruína da França refletiu-se na ruína dos textos que elaborou, textos baseados nas ruínas de outros grandes escritores do passado, ruínas que, sob a forma de pedras nos rins, causavam dores excruciantes na ruína que se tornou o seu corpo, antes tão cheio de vitalidade. Mesmo com a ajuda da jovem Marie de Gourmay na redação derradeira dos seus Ensaios, mesmo com o prestígio político intacto, agora nada disso adiantava porque, afinal de contas, Michel de Montaigne teve de decidir como lidar finalmente com a próxima ruína: a da morte.
Neste ponto, fica nítida a verdadeira revolução provocada pelos Ensaios na consciência moderna. Segundo Erich Auerbach, é um livro que trata com “espantosa concretude” da morte do seu próprio autor, pois ele a pressente e a aguarda desde a primeira linha em que começou a escrevê-lo, desde o momento em que decidiu gravar o seu desaparecimento naquela inscrição latina feita em 28 de fevereiro de 1571. Agora, ele será a vítima (ou o experimento, dependendo do ponto de vista) da ruína fatal do último acaso: o seu próprio fim. Mas faz isso, por incrível que pareça, com uma alegria indescritível. Aceita o fim como parte inevitável da vida que viveu sob a sombra do pesadelo do paradoxo. Os três tomos definitivos do seu livro registram todo esse processo, no qual ele percebe, depois de tantos anos, que “não há ciência mais árdua do que a de saber viver naturalmente; e a mais terrível das moléstias é o desprezo pela vida”. No descer da cortina, os Ensaios são a resposta definitiva de Michel de Montaigne à pergunta de Blanchot. Eles são o registro do seu próprio desaparecimento, o abandono final diante da própria morte — de resto, a tentativa final de todos nós, a que sempre nos orienta no percurso das nossas mentes náufragas, incapazes de aceitar a corrente natural dos mares. E esta é a única certeza que temos.