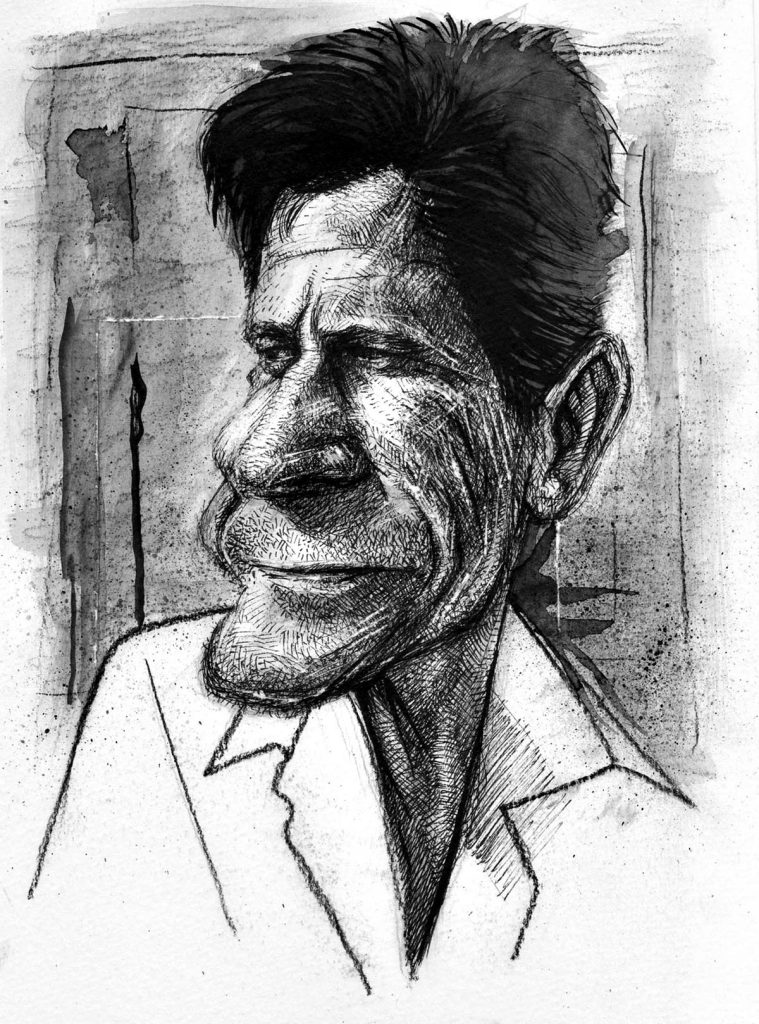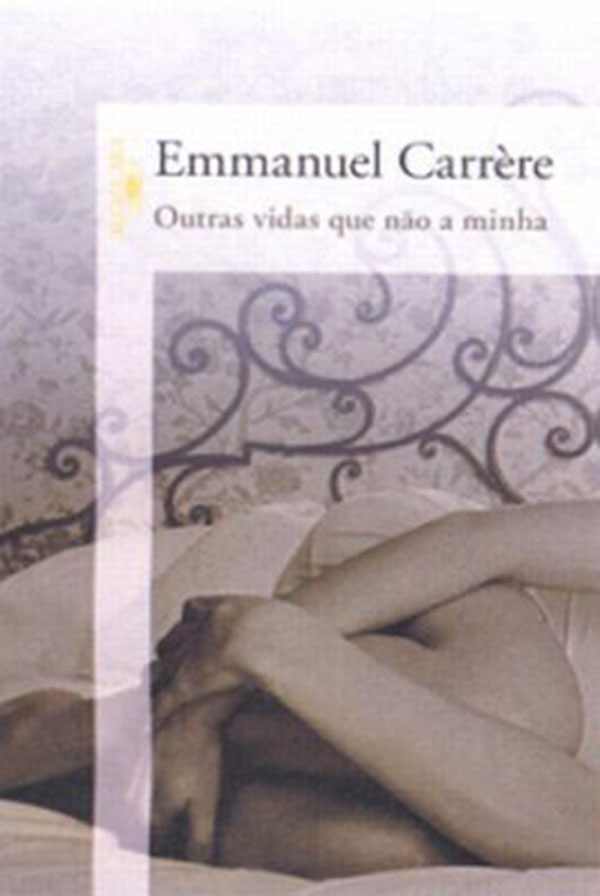O título de um dos mais recentes romances do escritor francês Emmanuel Carrère pode muito bem indicar uma chave importante para a compreensão de um dos aspectos cruciais que norteiam seus modos de narrar. Com efeito: Outras vidas que não a minha nos orienta a uma leitura voltada ao universo alheio, em que os “outros” eleitos pela câmera do autor (que é também roteirista, tendo duas de suas obras adaptadas para o cinema) recebem todas as luzes. A princípio, esse fato não constituiria, por si só, nada de original, uma vez que a arte de “outrar-se”, a capacidade de perceber, por meio de todos os sentidos, quem está ao redor, diante da impossibilidade de se criar qualquer núcleo identitário, a não ser por meio da experiência da alteridade, pela perspectiva de que jamais estamos sós e de que o “outro” também, em alguma medida, nos habita, sempre foi decantada em prosa e verso.
Nesse sentido, há algo na dicção que Carrère confere a seus textos, que nos remete a algumas obras-primas do cinema, como por exemplo, Retratos da vida (de Claude Lelouch, 1981), Babel (de Alejando Iñárritu, 2006), nas quais um amplo mosaico de situações faz com que uma vida vá tocando outras ou A vida dos outros (dirigido por Von Donnesmarck, 2007), em que um frio e calculista agente da Stasi — polícia secreta da Alemanha Oriental — vai se deixar modificar radicalmente pela vida de um escritor, a quem fora incumbido de inspecionar e delatar.
Em qualquer dos casos é, de fato, “a vida dos outros” o que fascina. Mas a proposta de Carrère não se esgota aí. “A vida dos outros” que o atrai tende necessariamente, de modo obsessivo, a enfatizar que a matéria-prima em que seu olhar de ficcionista pretende incidir não é apenas o da aproximação exagerada da lente que, ávida por sugar o que está acontecendo ao redor, exagera e aumenta o foco, agigantando o universo alheio, quase a fazer com que quem está por trás da câmera desapareça. É eleger o outro, privilegiando a própria perspectiva, com a plena consciência de que esse que está, para além de mim, passa a existir apenas a partir do momento em que meu olhar, minha atenção, meus ouvidos e todos os meus sentidos se curvam para capturá-lo e revelá-lo. Mas para mantê-lo no centro das atenções é preciso criar o distanciamento do retratista. Daí, talvez, se explique o porquê da necessidade de se reiterar que, embora haja um narrador disposto a contar as vidas alheias, jamais pode se deixar de lado o fato de que só evitando misturar-se a elas e, em boa medida, optando por filtrar os acontecimentos que lhes sucedem, de modo preciso e objetivo, o narrador se livra das amarras da pieguice e do melodrama, quase inevitáveis quando o eu que narra passa a se imiscuir na problemática existencial que o circunda, a ponto de ser tragado por ela.
Narrador-retratista
Emmanuel Carrère pretende, nesse sentido, ser um narrador-retratista, subserviente aos detalhes minuciosos do que as vidas alheias lhe suscitam, com plena consciência de que o risco de “outrar-se”, em termos de criação ficcional, comportaria inevitavelmente o de “perder-se”. E ele não quer correr esse risco. Daí o porquê, de antemão, asseverar: tratam-se de “outras vidas que não a minha”.
Assim, num primeiro momento, temos a apresentação de um homem maduro (o narrador anônimo, num possível viés de autoficção) que viaja com a mulher Hélène e os filhos para o Sri Lanka em férias exóticas. E fica muito claro que o casal, em crise, pensava em separação. Mas, analogamente ao que ocorre no romance O céu que nos protege de Paul Bowles, em que no deserto, a ameaça de morte do marido faz com que a mulher redescubra, em meio a uma crise relacional, sua capacidade de amar, também o casal de Carrère renascerá, após o terrível cataclismo que tem lugar no Sudeste Asiático, em dezembro de 2004. A tragédia concreta pela qual têm que passar faz com que relativizem os seus próprios problemas pessoais, as suas vidas privadas, quando se dão conta de que há outras vidas em risco e sua perspectiva se desloca do minúsculo universo egocêntrico para a amplidão da dor das perdas alheias. A catástrofe, a chamada onda, de modo imprevisível e terrificante, arrebata milhares de vítimas, deixando um número absurdo de mortos e feridos. A força descritiva assume toda sua potência, quando se curva ao que acontecera com Philippe, um dos sobreviventes:
Foi então que a onda chegou. Um segundo antes o mar estava liso, um segundo depois era uma parede tão alta quanto um arranha-céu e que se abatia sobre ele. Pensou, no lapso de um relâmpago, que ia morrer e que não teria tempo de sofrer. Afundou, carregado e embolado durante um tempo que lhe pareceu interminável no ventre imenso da onda, depois reemergiu de barriga para cima. Passou como um surfista por cima das casas, por cima das árvores, por cima da estrada. Em seguida, a onda partiu em sentido inverso, aspirando-o para o mar aberto. Percebeu que investia contra paredes desintegradas contra as quais ia se esmigalhar e teve o reflexo de se agarrar a um coqueiro, que largou, depois a outro, que teria igualmente largado se alguma coisa dura, um pedaço de cerca, não o houvesse imobilizado e imprensado contra o tronco. À sua volta passavam a toda a velocidade móveis, animais, pessoas, vigas, blocos de cimento. Fechou os olhos esperando ser moído por um daqueles enormes destroços e os manteve fechados até que o mugido monstruoso da correnteza se acalmasse e ele ouvisse outra coisa, gritos de homens e mulheres feridos, e compreendesse que o mundo não chegara ao fim, que ele estava vivo, que o verdadeiro pesadelo estava começando.
Os que não sucumbem ao maremoto, então, pronunciarão a palavra “onda”, balbuciando-a, logo após o trauma, talvez de modo análogo à palavra “avião”, que se propagou em 11 de setembro de 2001, em Manhattam.
Tal como um repórter atento, que surpreendentemente tem sua vida preservada, o narrador se investe do poder daquele que, estando no olho do furacão e diante das gigantescas dimensões do acidente e suas funestas conseqüências, toma por empréstimo a voz dos que sobreviveram e, a partir do distanciamento obtido pelo exercício objetivo do narrar, documenta, registra, testemunha, em minúcias, o ocorrido. Comportando-se mais como um espectador, que assiste — protegido pela tela — às avalanches, terremotos, carnificinas provocadas pelo terror, em todas as dimensões que ele assume, sem permitir que os vestígios lamacentos e aniquiladores da onda lhe embacem a visão. Desse modo, não deixa que as vozes trêmulas e traumatizadas pelas perdas comprometam a sua, que precisa ser límpida, para ser digna de narrar à altura aquela dor e sofrimento.
Tendência testemunhal
Importa observar que há uma escolha por esse narrar distanciado, que busca o tom da objetividade, de uma certa transparência no contar, que não cede à postura do narrador dissimulado, cheio de artimanhas simbólicas e alegóricas, tão presente em muitas das obras da pós-modernidade. No máximo, estaremos, num ou noutro momento, diante de páginas dedicadas a arroubos ensaísticos, recorrentes na ficção contemporânea. De todo modo, a consciência do narrador, nesse romance, privilegia os relatos e transcreve-os de modo a não perdê-los, como se a memória do horror dependesse dessa objetividade para assegurar que aquilo ocorreu de fato e daquela maneira. Esse procedimento pode ser alinhado à tendência testemunhal da literatura do segundo pós-guerra, particularmente às obras que se voltam aos episódios relacionados ao inferno do holocausto nos campos de concentração nazistas ou às que visam retratar os terríveis abusos e abjetas torturas sofridas pelos prisioneiros em regimes de exceção como os infinitos gulags ou guantânamos, travestidos em suas mais diversas formas e dispersos pelo mundo das atrocidades.
Como se estivesse completamente atônito, diante do ocorrido, o narrador respira fundo — ele é o que a onda não atingiu e o que pode contar — tentando se desvencilhar das primeiras paralisantes impressões, num procedimento que não tem nada de frio ou duro — como uma primeira leitura poderia nos levar a pensar. Objetiva é sua passada, para que atinja o rumo certeiro onde pretende chegar. Sabe que, contando minuciosa e distanciadamente a dor alheia, pode revelá-la a ponto de fazer com que os leitores se “movam com ela”, tão ou mais comovidos do que se o narrador a ela se misturasse, permitindo que esta lhe tirasse o fôlego, fazendo com que sua narrativa soçobrasse com a onda.
Alívio e culpa
Há uma série de vidas devastadas pela catástrofe e os depoimentos dos que perderam seus entes queridos ou dos que ainda não sabem seu paradeiro, na expectativa ansiosa de que apareçam a qualquer momento, merecem a chance de ser transcritos. A onda se avoluma e cria círculos concêntricos que reverberam, extrapolam qualquer limite. De maneira análoga, também como as reverberações da onda, uma vida vai tocando a outra, todos estão juntos nessa dor ambígua de sobreviver, que implica necessariamente uma dupla sensação de alívio e culpa: o alívio de não ter sucumbido e a culpa pelos que se foram.
Mesmo que todos passem a formar em uníssono um só “bloco de dor”, há sempre a comparação e o contraste inevitável e paradoxal dos que foram poupados da tragédia e dos que, por mero acaso, ficaram incólumes. Nesse sentido, uma das descrições mais pontuais é a que flagra o sofrimento de Delphine, a mãe que perdera a única filha ainda pequena, em contraponto à cena em que Hélène, a mulher do narrador, acaricia o filho vivo, a quem a onda não atingira:
No fim desse jantar era tarde, Rodrigue extenuado de cansaço deslizou para o colo de Hélène. Como o bebezinho que ainda era, aconchegou a cabeça no seu ombro e ela lhe acariciou longamente os cabelos. Afagou-o, tranqüilizou-o: estou aqui. Depois se levantou para levá-lo para a cama. Enquanto ambos se afastavam no jardim, Delphine os seguia com os olhos. Em que pensava? Que sua filhinha, que ela embalava e ainda protegia quatro noites atrás, que nunca mais a embalaria e protegeria? Que nunca mais se sentaria em sua cama para ler uma história para ela dormir? Que nunca mais arrumaria os bichos de pelúcia em volta dela? Até o fim de sua vida, os bichos de pelúcia, os móbiles, os estribilhos das caixas de música iam dilacerar seu coração. Como é possível que essa mulher abrace seu filho vivo enquanto minha filhinha está toda fria e nunca mais falará nem se mexerá? Como não odiá-los, a ela e seu rebento? Como não rezar: meu Deus, fala um milagre, devolva meu filho, confisque o dela, faça com que ela sofra como eu sofri e que eu fique como ela tristíssima dessa tristeza confortável e opulenta que muito a propósito ajuda a melhor desfrutar de sua sorte?
Assim é que, por mais solidários que se mostrem, por mais comovidos com a dor alheia, aqueles a quem a onda não atingiu nunca poderão sentir na pele o grau de dilaceramento que assola a vida desses sobreviventes, golpeados profundamente, que por mais próximos que estejam daqueles, continuam tão distantes e tão sós: a distância era imensa, o abismo que a separava de nós impossível de atravessar…
Do câncer
A outra onda de que trata o autor ao longo da narrativa é a da tragédia do câncer que acomete sua cunhada Juliette e as conseqüências da triste perda, especialmente para as três filhas que ficam órfãs ainda pequenas. A estas, ao final do livro, o narrador dedica o romance, crente de que o discurso, a recapitulação da história da mãe, narrada por aqueles que a acompanharam durante a dura travessia e documentada por ele, possam significar algum tipo de redenção. A importância dessa tentativa de exorcizar a dor e, de certa forma, compartilhá-la (no exercício de comungá-la com o outro) também se aplica aos doentes de câncer. Interessante lembrar o trecho em que o narrador — nessa passagem, essencialmente ensaística — retoma, num viés intertextual, um trecho de O livro de Pierre, uma reflexão de Pierre Cazenave, renomado psicanalista francês, que padeceu de um câncer fatal antes que seu livro fosse publicado:
“Quando fui informado do meu câncer”, diz ele, “compreendi que sempre o tivera. Era minha identidade”. Psicanalista e canceroso, virou psicanalista de cancerosos, partindo da intuição, pessoal e íntima, mas comprovada com a maioria de seus pacientes, de que “o pior dos sofrimentos é o que não podemos partilhar”. E o doente canceroso, o mais das vezes, sente duplamente esse sofrimento. Duplamente porque, doente, não pode partilhar com seu círculo a angústia que sente, e porque a esse sofrimento subjaz outro, mais antigo, datando da infância e que tampouco jamais foi partilhado nem visto por ninguém. Ora, isto é o pior para alguém: nunca ter sido visto, nunca ter sido reconhecido.
No fundo, a proposta de Carrère insiste na força do discurso, da elaboração por meio do contar e de testemunhar para não esquecer e, assim fazendo, elaborar o luto, livrando-se dos fantasmas do inconsciente que, em situações traumáticas, quando não encarados, podem aflorar de um momento a outro, gerando situações de desequilíbrio físico e psíquico, fobias, psicoses e loucura.
A propósito, é uma frase de Céline, citada pelo narrador, que parece ser um fio capaz de alinhavar as demais obras de Carrère num só bordado, ainda que guardadas as devidas distâncias temáticas e procedimentais: “O pior defeito em tudo é esquecer, e principalmente o que o fez morrer”.
Truman Capote
Se em Outras vidas que não a minha, a obsessão por narrar a dor alheia se transmuta na necessidade de documentar, com
um retratismo impecável, o que a priori seria inenarrável, desafiando a premissa de que é impossível narrar o horror, em O adversário (2007) o viés da reportagem, da objetividade documental toca, de perto, o da função do jornalista, à la Truman Capote. Com efeito, no Washington Post Book World ter-se-ia afirmado quando da publicação do livro: “É impossível parar de ler O adversário. A versão do século 21 para A sangue frio, de Truman Capote”.
Jean-Claude Romand, em 1993, matou a mulher, os dois filhos e os pais, ateando fogo à própria casa, antes da chegada dos bombeiros. Emmanuel Carrère conseguiu que esse perigoso psicopata lhe contasse a própria história. A partir dos relatos de Romand, criou uma narrativa que também trata “da vida dos outros”, mas dessa vez perscrutando o que poderia ter desencadeado tamanha monstruosidade. E a resposta jaz no inconsciente, repleto de fantasmas, muitas vezes mortos desde a infância, habitando sorrateiramente a psique, até que de repente, de improviso, se libertam e invadem a rotina de vidas aparentemente normais e sob controle.
Melhor dizendo, quanto mais se esquecer ou se tentar reprimir ou não nomear o que nos “fez morrer”, em algum momento de nossas vidas, estaremos muito mais sujeitos a que essas águas obscuras, durante bom período represadas, arrebentem as portas dos diques e venham à tona, impetuosas e avassaladoras.
Ondas do inconsciente
As ondas de que ele trata agora não são mais as exteriores, as causadas por agentes externos, como a que atingiu milhares de vítimas no Sri Lanka, ou o câncer que aniquilou Juliette, devastando as vidas a seu redor. Tanto em O adversário, como nas novelas O bigode e Colônia de férias, as ondas que destruirão as vidas de seus protagonistas provêm do inconsciente, do movimento de águas que irrompem de repente com a força monstruosa das psicoses e alucinações, capazes de levar a crimes abomináveis — como no primeiro caso — assim como à loucura e ao aniquilamento nos demais.
Pelo que se capta dos relatos de Romand, aos quais os psiquiatras forenses teriam tido acesso, por exemplo, tratava-se de um menino cuja infância fora tranqüila, parecendo calmo e inteligente. Mas, não tendo suportado o peso da reprovação no segundo ano da Faculdade de Medicina de Lyon, abandona os estudos e cria uma outra vida, uma farsa, em que consegue trapacear a todos durante dezoito anos, fingindo ser um importante médico da Organização Mundial da Saúde. Chama atenção, logo no início de seu relato:
Admirava no pai o fato de nunca deixar transparecer suas emoções, e se esforçava por imitá-lo. Tudo deveria ir bem, sempre. Sem isso sua mãe iria muito mal, por qualquer briguinha, qualquer aborrecimento infantil. Melhor seria esconder essas coisas.
A lembrança de que podia contar apenas com um cachorro como confidente é assim descrita:
“Lembrar esse cachorro despertou-me segredos de minha infância, segredos pesados de carregar… Nesse tempo eu não mentia, mas não confiava nunca minhas emoções mais fundas a não ser a meu cachorro… Eu não tinha mais ninguém a quem confiar minhas confidências, e o que eu confidenciava era isto: essa angústia, essa tristeza…”
Um dia esse cachorro desapareceu. O menino, pelo menos é o que conta o adulto, imaginou que seu pai o tinha matado com a carabina. Seja porque ele estivesse doente e o pai quisesse poupar ao menino a dor de vê-lo agonizante, seja porque ele tivesse cometido um ato tão grave que a execução capital seria a única pena possível. Uma última hipótese é que o pai tenha dito a verdade, que o cão realmente tenha desaparecido, mas me parece que o menino jamais considerou essa possibilidade, de tal forma a prática da mentira piedosa era natural nessa família, na qual a regra era não mentir nunca.
Nomear o horror
O que Carrère aponta como traço relevante ao longo desse romance-reportagem volta à premissa básica de que o que se esquece ou escamoteia, seja falseando a realidade, seja gerando ambíguas mensagens na infância, pode causar desequilíbrios na vida adulta, pois se soterrou “o que fez morrer”, não se deu nome ao horror, quando seria preciso fazê-lo.
Nessa mesma dimensão, de modo análogo, temos, por exemplo, como tema recorrente o que é revelado no filme O príncipe das marés (de Barbra Streisand, 1991), em que os desajustes do protagonista e de sua irmã passam pela exigência feita pela mãe, para que nunca falassem sobre o episódio de violência e abuso sexual de que tinham sido vítimas na infância. É uma revelação a toda prova contra a chamada “retórica do silêncio” que, numa perspectiva complexa e psicanalítica, pode ser fator determinante de traumas.
A mesma tônica volta a aparecer em O bigode e A colônia de férias, porém os respectivos embriões dos traumas, que desorientarão os protagonistas, estão subentendidos e tangenciam, subliminarmente, a linha muito sutil entre sonho, inconsciente e realidade. Aqui, diversamente do que se percebe na postura objetiva do narrador em Outras vidas que não a minha e O adversário, por exemplo, a voz que narra compromete-se com as vidas que passa a narrar e, embora se trate de uma narrativa em terceira pessoa, já não há a objetividade necessária daquelas obras, em que a urgência do retrato era fundamental.
Humor pirandelliano
Assim, em O bigode, estaremos diante de uma situação banal, em que um homem, numa manhã qualquer, decide tirar o bigode que usava havia anos. Mas antes de levar a efeito a própria vontade, pergunta à mulher o que ela acharia daquilo, apenas para se assegurar de uma opinião muito importante para ele. A crise se instaura quando, após ter raspado o bigode, recebe de Agnès apenas, e de forma naturalmente chocante, total indiferença, o que o faz até pensar que se tratava de um trote, um complô, armado contra ele, pela própria esposa:
Por que ela fingia não ter reparado em nada? Para responder com outra surpresa à que ele lhe aprontara? Mas, justamente, era isso o espantoso: ela não parecera nem um pouco surpresa, sequer por um instante, o tempo de recobrar-se, de compor uma fisionomia natural. Encarara-a fixamente no momento em que ela, guardando o disco na capa, olhava para ele: nenhum franzir de sobrancelha, nenhuma expressão fugaz, nada, como se ela tivesse tido todo o tempo do mundo para se preparar para o espetáculo que a esperava. Claro, era possível sustentar que ele a prevenira, ela mesma dissera, rindo que não era má idéia. Mas tratava-se evidentemente de uma frase ao léu, de uma falsa resposta ao que era, em seu juízo, igualmente uma falsa pergunta. Impossível imaginar que o levara a sério, que fizera as compras a ruminar: ele está raspando o bigode, quando o encontrar, preciso agir como se nada houvesse acontecido. Por outro lado, o sangue-frio demonstrado por ela ainda menos crível no caso de não estar esperando por aquilo. De toda forma, pensou, tiro-lhe o chapéu. Golpe de mestre.
O tom despretensioso e até jocoso de uma situação corriqueira nos induz a antever um tipo de leveza e humor, capaz de conduzir o leitor a um universo que, à primeira vista, parece isento de gravidade. Nesse sentido, não há como não lembrar do personagem Vitangelo Moscarda de Um, nenhum e cem mil de Pirandello, cuja crise de identidade — que o acabará levando, ao final, à total desintegração do eu — tem início com um comentário aparentemente inofensivo da mulher sobre um defeito de seu nariz.
Tal como o nariz de Vitangelo, também o bigode do protagonista anônimo de Carrère assumirá ao longo da narrativa a força simbólica e inconsciente, tão poderosa e aniquiladora como a das ondas que tudo arrastam.
Temos a sutileza de um texto muito bem construído, em que a lâmina precisa da navalha que apara o bigode também mantém o leitor preso às ambigüidades e dúvidas de quem transita do riso ao horror, conotativamente suspenso por esse mesmo “fio da navalha”.
Das obsessões
A grande maestria do autor evidencia-se, então, nessa capacidade de, num só fôlego, conduzir o leitor do cômico ao trágico, numa visada humorística pirandelliana, que centra os desconcertos e angústias do viver nos reflexos dos espelhos existenciais que, inevitavelmente, representam, em síntese, o modo como os outros nos vêem e nos percebem. Melhor dizendo, o olhar do outro interfere e, às vezes, determina e condiciona o modo como o indivíduo, diante do jogo de espelhos que é a vida, se vê.
O bigode trata dessa necessidade obsessiva de descobrir, nos outros, o espelho mais fidedigno da própria identidade, o que faz com que venham à tona as dilacerações do eu, percebido, julgado e, no limite, constituído pela radical experiência da alteridade.
A crise vai se intensificando a ponto de se tornar insustentável. As idéias obsessivas, circulares do narrador, giram ao redor de um único aparentemente banal problema: o do factual — o bigode que ele teria raspado — e o da percepção dos outros (não mais apenas a da mulher), que lhe mostram total indiferença:
Sentia-se triste como uma criança que, durante um almoço de família em tributo ao seu prêmio de excelência, gostaria que a conversa incidisse apenas sobre esse acontecimento, sofrendo porque os adultos, após parabenizá-la, não voltam ao assunto incessantemente, falam de outra coisa, esquecem-na.
Se nos romances Outras vidas que não a minha e O adversário o narrador opta por se distanciar para melhor tratar da dor alheia, buscando dessa forma nomear o horror, aqui a estratégia dos modos de narrar é completamente diversa. A voz que narra adere à obsessão do protagonista para evidenciar o quanto uma situação corriqueira, refém das armadilhas da psique e do olhar espectral do outro (que se reflete incisivo no indivíduo), pode fazer aflorar os fantasmas inconscientes, que geram as psicoses e a loucura.
De toda forma, as ondas e as suas reverberações, os círculos que se propagam ao seu redor, atingem as vítimas das catástrofes reais, como as do maremoto do Sri Lanka, as do câncer que devastam o doente e seus afetos e também as que se desencadeiam a partir de situações aparentemente inócuas, mas que gestam nas águas silenciosas e obscuras do inconsciente verdadeiras avalanches, capazes de aniquilar o ser.