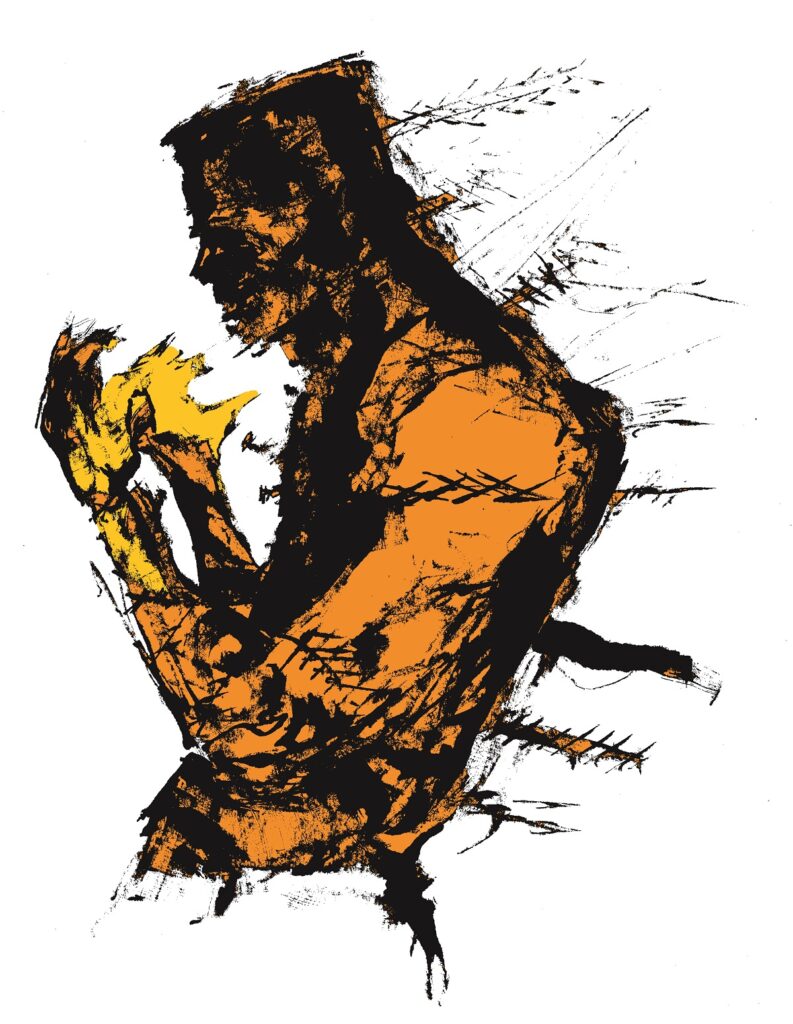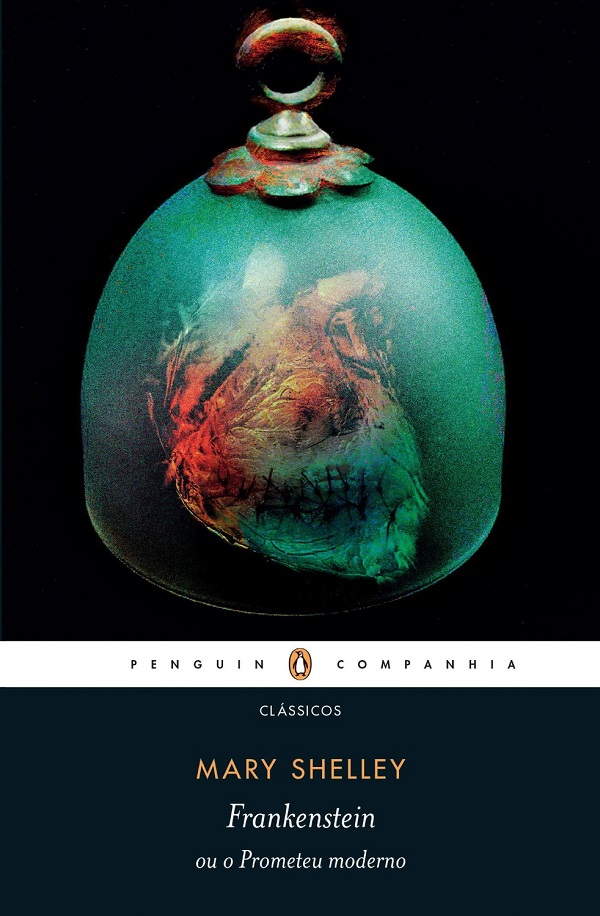Assim como Mary Shelley, eu também tenho mãe feminista. O raciocínio sobre literatura feminina, a seguir, é originalmente dela, mas é daquelas coisas que a gente concorda tanto que um dia acorda achando que é seu. Tenho (também) problemas com o conceito de literatura feminina ou qualquer divisão feita a partir de quem escreve e não de quem lê. Explico. Vamos, por um momento, seguir o raciocínio que embasa este tipo de divisão, o de que a visão de mundo de uma mulher é diferente da de um homem (e é). Certo. A visão de mundo de uma mulher que vive na zona rural é diferente da que vive em um grande centro. A visão de mundo de uma mulher de meia-idade que vive em São Paulo é diferente da jovem que habita a mesma cidade. A visão de mundo de uma mulher de meia-idade que vive em São Paulo e é descendente de imigrantes italianos é diferente da que é descendente de imigrantes russos. E por aí vai. Até que chegaremos no indivíduo. Então, se cada autor é único e dono de uma visão de mundo singular, a quem interessa essa divisão dos autores por gênero, raça ou sexualidade? Ao mercado, à publicidade. Só que é este mesmo mercado e esta mesma publicidade que propaga o machismo. Esta divisão é, portanto, um cercadinho de isolamento.
E por quê, Carolina, você está nos torrando a paciência com isso? É porque eu vou falar aqui de dois livros. Drácula, escrito por um homem, e Frankenstein, escrito por uma mulher. E vou defender o ponto de vista de que o Drácula é machista e Frankenstein, feminista. Só que eu não acho que isso seja apenas pelo gênero do autor, mas pela biografia de cada um e, também, pelo contexto social.
Mary Shelley é considerada a primeira autora de ficção científica (avant la lettre, uma vez que o termo veio só com Hugo Gernsback, em 1926). Foi ela que “inaugurou” o gênero literário. Muito lindo. Só que eu me lembro das mulheres indo para a literatura infantil por ser o único espaço que os homens abriam, afinal, criança é assunto feminino. Então, o fato de ela ter inaugurado a ficção científica é detentor de mérito, é óbvio, mas tem sua glória maior em Shelley abrindo espaço a fórceps em um mercado dominado por homens. Frankenstein é também considerado o primeiro romance gótico-psicológico (repita aqui o raciocínio anterior).
Victor Frankenstein, cientista, criador do “monstro”, é quem está em perigo, justamente por negar a sua criação, por não aceitar o filho. Sim, é claro que Shelley sabia que se fosse uma mulher negando a sua criação, o romance não seria crível. Ainda assim, repare: um homem cria uma vida; a nega; como se não tivesse qualquer responsabilidade sobre sua cria, a considera uma ameaça; é perseguido por isso e morre. Quantos pais negam filhos com algum handicap, como paralisia, com Síndrome de Down, surdez ou qualquer outra condição que exclua esta criança da “norma” (que não, é claro que não são monstros, presta atenção no que é importante aqui, por favor)? Aliás, não precisa nem pensar nesta parcela específica das crianças. Qualquer criança. Segundo o Instituto Data Popular, em pesquisa de 2015, o Brasil tem 67 milhões de mães, sendo 31% solteiras. São 20 milhões de mães solteiras. Eu vou repetir: são 20 milhões de mães solteiras. Acho difícil de acreditar que todas estas mulheres optaram por isso.
Como todo bom autor, Shelley buscou em sua experiência de vida dados, cenas, emoções ao escrever. Só podemos escrever aquilo que conhecemos. E para conhecer é preciso viver.
O mocinho
Temos, então, de um lado, Frankenstein, cientista atormentado que deixa a família e a noiva esperando por meses e meses, isolado em seu experimento. Do outro, Drácula, onde o mocinho também se ausenta, perseguindo o Mal. Só tem um detalhe: Frankenstein não tem mocinho. Algumas vítimas, é verdade, mas não tem mocinho. Então, a ausência masculina não é considerada uma aventura para o Bem. É, inclusive criticada e necessita de justificativas constantes. Pois bem. Esta ausência prolongada é uma possibilidade que também não existe para a mulher. Da mulher é esperado que dê atenção à sua família, que trabalhe, que cuide de todos, de si, dos filhos, que estude e cozinhe o jantar e, claro, tudo isso com uma aparência impecável e um sorriso no rosto. Então, se em Drácula a ausência do mocinho Jonathan é glorificada e em Frankenstein é criticada, o primeiro é machista e o segundo feminista.
Em fevereiro deste ano, duas turistas argentinas foram assassinadas no Equador. A imprensa noticiou o crime com o adendo de que as moças viajavam “sozinhas”. No entanto, elas não estavam sozinhas, estavam apenas sem a companhia de um homem. Isso, ressaltando, em 2016. Quando Frankenstein morre não era por estar viajando sozinho. É pela ira de sua cria abandonada. Cria esta, que só queria o quê? Uma mulher. Uma noiva. Então me acompanha: homem se ausenta; cria uma vida e a abandona; morre por isso. E, por ser homem, sua morte é sentida não como “justa” mas como único encerramento possível. Se fosse uma mulher a se ausentar de sua família ou, pior ainda, abandonar sua cria, a sua morte seria entendida como uma reação natural a seus atos. O personagem, portanto, é verossímil por ser homem. E, então, Shelley não o coloca como o mocinho, mas como vítima. Ela inverte o jogo. Neste assunto, Chico Buarque acerta em cheio com Mulheres de Atenas: Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas: geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas, vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas, serenas.

Mary Shelley (1797-1851) perdeu sua mãe quando tinha dez dias de vida. Sua mãe, Mary Wollstonecraft, era feminista e é a autora de A vindication on the rights of woman (1792). Aproveitando a deixa, a Boitempo acaba de lançar Reivindicação dos direitos das mulheres em uma edição comentada. Junto com sua meia-irmã, Fanny, foi criada pelo pai, um iluminista que deu às filhas uma educação bastante avançada para a época. Em 1814, envolve-se com um homem casado, Percy Shelley, de quem engravida. Percy então tem um caso com Claire Clarimont e a engravida. Mary, que acreditava no amor livre, passa a viver com o marido e Claire Clarimont. Poliamor no início do século 19. Em 1816, Mary então recebe algumas cartas de Fanny narrando uma vida infeliz. Sua última carta, em outubro, foi tão preocupante que fez com que Percy saísse à sua procura. Fanny se suicidou. Dois meses depois, a esposa de Percy Shelley, Harriet, também se mata, afogada no lago Serpentine. A família de Harriet tenta impedir que Percy obtivesse a guarda dos filhos e, sob os conselhos de seus advogados, Percy e Mary se casam, numa tentativa de influenciar a questão. Depois do nascimento da filha de Clarimont, os quatro se mudam para um prédio sobre o Tâmisa. Passam um verão em Genebra com Lord Byron, onde Mary começa a escrever Frankenstein. Ela tinha, então, 18 anos. O casal perdeu três filhos, mas o quarto filho, Percy Florence, sobrevive. Em 1822, Percy Shelley morre afogado durante uma tempestade na Baía de La Spezia. Em 1824, já viúva, Mary vai viver com Jane Williams no norte de Londres. Em 1827, Mary ajudou a amiga Isabel Rodrigues e sua amante, Mary Diana Dods (que escrevia sob o nome de David Lyndsay), a embarcar para uma vida a dois na França como “homem” e mulher. Foi Mary Shelley quem conseguiu os passaportes falsos para o casal que, então, mudou-se para Paris.
E eu resumi a vida de Mary Shelley. Procure, tem ainda mais passagens movimentadas. E você aí achando que o início do século 19 e a Era Vitoriana eram mais conservadores que o Brasil de 2016 e sua bancada evangélica, né? Ahá.
Como todo bom autor, Shelley buscou em sua experiência de vida dados, cenas, emoções ao escrever. Só podemos escrever aquilo que conhecemos. E para conhecer é preciso viver.
Shelley perdeu três filhos. O primeiro personagem a ser assassinado é o menino William, irmão mais novo de Victor, que morre afogado em um lago. Mais adiante, Henri Clerval, amigo de Frankenstein, morre afogado no mar. Ambos não por acidente e sim como primeira vítima do “monstro”. Voltando à biografia de Shelley, Harriet, a ex-mulher de Percy, se mata por afogamento em um lago. Percy morre em um acidente, também afogado, em uma baía (mar). Esse negócio de morte por afogamento era um tanto traumático para Shelley.
E o que faz Frankenstein? Ou melhor, o que desfaz Frankenstein? A morte.
Descobri como e por que a vida é gerada. Mais impressionante ainda: tornei-me capaz de dar vida à matéria inanimada — de transformar a morte em vida.
Dito isso tudo, o que eu mais gosto em Frankenstein é que quem é a donzela em perigo é o homem. Frankenstein, entretanto, não é tão feminista quanto eu gostaria que fosse. As personagens femininas são passivas e se deixam destruir pelas consequências do egocentrismo de Victor.
Shelley perverte os personagens clássicos. Até mesmo os da mitologia. Tal qual um Narciso às avessas, o “monstro” quase não se reconhece em um espelho d’água e demora a se convencer de sua aparência.
No original em inglês tem o subtítulo Modern Prometheus, que é uma citação direta. Prometeu, lembrando, é um titã que roubou o fogo de Héstia e deu aos mortais. Zeus, que era um cara muito centralizador e ciumento, achou que os mortais poderiam ficar poderosos demais e, como punição, amarrou o Prometeu em uma rocha enquanto uma águia comia todo dia o seu fígado que crescia novamente no dia seguinte. Ou seja, aquilo que está morto (o fígado) volta à vida. O ciclo vida — dor (morte) — vida é o real tormento e sofrimento do mito.
Frankenstein foi publicado em 1818. Drácula, em 1897.

Frankenstein, entretanto, não é tão feminista quanto eu gostaria que fosse. As personagens femininas são passivas e se deixam destruir pelas consequências do egocentrismo de Victor.
Estereótipos
Aí chegamos em Drácula. O conde, assustador, amedrontador, mata pessoas, controla suas mentes, ó, mas que vilão poderoso. E viril! Tem várias esposas e ainda quer mais. Nossa, que homem, né não? Para facilitar a compreensão, Bram Stoker representa as mulheres quase como estereótipos. Ou seja, as mulheres são imagens fixas e imutáveis do que se espera delas.
Temos, basicamente, três estereótipos. Mina é a bonita, casta, fiel e a boa moça. Trabalha, conhece um ofício e seu maior desejo é ser útil ao futuro marido. Mina, a boa moça, é a única que consegue um “final feliz”, que merece ser salva. Lucy é a desviante, aquela que seduz, que flerta e, portanto, recebe o castigo que merece. Lucy é uma lição de moral para as moças de sua época. Comportem-se, meninas, ou acabarão infectadas e mortas. E depois, as esposas do Drácula, os monstros, aquelas que desviam o pobre e inocente Jonathan de seu caminho de homem de família. Ele não tem culpa alguma de sua infidelidade, responsabilidade, claro, das vampiras que o seduziram, coitadinho. Quase sereias. Mais que isso: conseguem se reproduzir sem o homem. Ou seja, Stoker tem medo do homem se tornar obsoleto.
Vamos contextualizar isso. Bram Stoker escreve Drácula na Inglaterra no mesmo ano em que foi fundada a União Nacional da Sociedade do Sufrágio Feminino. Mulheres votando? Isso sim é um romance de terror. Os cartazes contrários ao voto feminino da época mostram homens apanhando, crianças abandonadas por suas mães, etc. O que mais me chama a atenção são os cartazes de pais cuidando de seus filhos como sendo algo terrível. Os antissufragistas tinham receio que as mulheres fossem “sugar” tudo deles, pobres homens. Em uma época em que já tínhamos Frankenstein (Mary Shelley, 1818), O estranho caso do doutor Jekill e do Sr. Hyde (Robert Louis Stevenson, 1886), O horla (Guy de Maupassant, 1887), A coisa maldita (Ambrose Bierce, 1893) e A ilha do dr. Moreau (H. G. Wells, 1896), o único terror possível é, realmente, a mulher votar. Então, ao demonizar as mulheres que são diferentes de Mina, Stoker tenta, no melhor estilo hollywoodiano, usar da ficção para preservar os privilégios do opressor e tirar o mérito do movimento do oprimido.
No capítulo 8, Mina diz em seu diário: “Acho que teríamos chocado a ‘Nova Mulher’ com nosso apetite”. A nota de rodapé diz que a “Nova Mulher” era a rejeição dos papéis tradicionais. Era muito mais do que isso. A “Nova Mulher” queria votar.
Stoker tinha, aparentemente, algumas questões sérias com sexualidade. Ele começa a escrever Drácula um mês depois que Oscar Wilde foi preso por sodomia. Wilde era seu amigo e rival (tinha pedido a esposa de Stoker em casamento). Eles eram amigos de mais de 20 anos. Quando Wilde é preso, Stoker apaga o nome do amigo de todos os seus trabalhos. Era como se nunca tivessem se conhecido. E ainda por cima substitui as lacunas deixadas por seu nome apagado com termos como degenerado. Talia Schaffer, em A Wilde desire took me: the homoerotic history of Dracula, defende que Drácula inteiro explora a ansiedade e medo de um homem enrustido durante o julgamento de Wilde. Ela não está sozinha nesta linha analítica. Coming out of the coffin, de Kaya Genç, também coloca Stoker dentro do armário. O que, curiosamente, nos faz perceber que as versões televisivas recentes de vampiros talvez não estejam assim tão fora da curva.
Abraham “Bram” Stoker (1847-1912) não teve uma vida tão rica e interessante quanto Mary Shelley. Stoker recebeu uma educação formal, terminou o mestrado em 1875 e publicou seu primeiro ensaio aos 16 anos. Em 1878 casou-se com Florence Balcombe. O casal mudou-se para Londres, onde conseguiu um emprego que durou 27 anos na Companhia Teatral Irving Lyceum. Teve um filho, viajou, integrou a equipe literária do Daily Telegraph e teve trabalho praticamente em toda sua vida. Faleceu sem dinheiro por longos anos de tratamento contra a sífilis.
Medo da ciência
Frankenstein, assim como seu sucessor A ilha do dr. Moreau, por sua vez, também expõe o medo de sua época. O medo do poder da ciência. São, ambos, uma crítica à falta de balizamento ético da ciência. Este é um receio que voltou à moda agora com células tronco, clonagem, etc.
O temor pela falta de limites da ciência que vemos em Frankenstein não se repete em Drácula. Pelo contrário, Van Helsing é sábio e conhecedor de criminologia, hipnose, medicina, química, geologia. Também usa de hóstias crucifixo, água benta e outras coisas do sobrenatural. É o herói, o salvador, que usa tudo que pode para combater o monstro. Os poderes de Drácula são sobrenaturais, míticos, mas não pertencem à ciência. Aliás, cabe aqui a lembrança que Drácula é um velho decrépito do lado do Mal. Bem longe dos sedutores jovens vampiros da televisão.
No começo do texto, falei de contexto social. Esta questão da ciência é importante aqui. Estamos no começo (Frankenstein) ou no final (Drácula) do século 19. O que está acontecendo na Europa? Ciência! Conhecimento! Método científico! Temos Charles Darwin, Elizabeth Blackwell, Emmy Noether, Gregor Johann Mendel, Henri La Fontaine, John Dalton, Louis Pasteur, Marie Curie, Max Karl Ernst, Ludwig Planck, Nikola Tesla, Paul Otlet, Sir Richard Owen, William Thomson, entre muitos outros.
É interessante a observação de que tanto Moreau quanto Frankenstein não submetem seus experimentos ao rigor da Academia e mantém (tentam manter) seus descobrimentos escondidos. Ambos não são mocinhos. São protagonistas, mas não há o maniqueísmo Bem-Mal. O recado é claro: não são “cientistas” de acordo com a própria ciência. O cientista é a aberração. Shelley mostra esta ciência empírica como algo menor e, portanto, uma crítica à personalidade de Frankenstein. Como diz um meme de internet que vi outro dia: “Conhecimento é saber que Frankenstein não é o monstro; sabedoria é saber que Frankenstein é o monstro.” Já Drácula, quase 80 anos depois, entende a ciência como uma parte cotidiana da vida: o método científico não é apresentado como uma novidade ou algo questionável, é apresentado como única possibilidade de investigação.
Não precisamos dar um salto muito grande para perceber que tanto em Frankenstein quanto em Drácula, a ciência é um personagem. Em Drácula aparece já absorvido pela narrativa, como o método que permeia a narrativa. Em Frankenstein, é um dos personagens principais e aparece com duas faces, a da própria criação da vida e a do método de aprendizado, por observação, do “monstro”. Frankenstein representa a transição entre o filósofo natural e o moderno cientista metódico. Ao mesmo tempo em que usa de uma “não-academia” em sua ciência, utiliza-se do método científico. O “monstro” também representa uma passagem em sintonia com o seu tempo, o da aprendizagem centrada no professor a uma centrada no aluno. Ou seja, de Rousseau a Waldorf. O “monstro” aprende sozinho a partir de pequenos estímulos. Então, Shelley percebeu o zeitgeist da pedagogia com uns cem anos de antecedência.
A respeito do sobrenatural, precisamos lembrar que o materialismo iniciado no século anterior levou à noção de que o mágico e o sobrenatural eram apenas manifestações naturais ainda incompreendidas. O que, claro, nos leva a Karl Marx, também do mesmo período. Falando em Marx, é interessante lembrar que o vilão Drácula é rico enquanto o mocinho Jonathan é trabalhador (classe média, talvez, mas trabalhador).

Ao demonizar as mulheres que são diferentes de Mina, Stoker tenta, no melhor estilo hollywoodiano, usar da ficção para preservar os privilégios do opressor e tirar o mérito do movimento do oprimido.
Século agitado
Espero tê-lo convencido, caro leitor, de que o século 19 (que, vamos combinar, termina em 1914) foi bem agitado. E do lado de cá do balcão, no campo das humanas, temos Anton Tchekhov, Charles Dickens, Claude Monet, Eadweard Muybridge, Édouard Manet, Fiódor Dostoiévski, Georges Méliès, Gustav Klimt, Gustave Flaubert, Henri de Toulouse-Lautrec, Herman Melville, Leon Tolstói, Mark Twain, Oscar Wilde, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, etc.
Foi um século de muita produção intelectual, científica, artística. O ambiente era propício para questionamentos. Considerando que o final do século 19 foi marcado, principalmente, por um sujeito chamado Sigmund Freud, o fato do Drácula ser cruel, sádico e imerso em uma visão maniqueísta — ao contrário da criação de Frankenstein — causa um certo estranhamento. Mais acrônico ainda é o desejo e a sexualidade em Drácula estarem do lado do vilão.
De uma certa maneira, Drácula repete a estrutura narrativa de Chapeuzinho Vermelho: o vilão (lobo mau; criatura) que ataca uma mulher menos desejável (vovó; Lucy) com o objetivo de pegar a menina inocente (Chapeuzinho; Mina) e que, no final é salva pelo caçador (de lobos ou de vampiros, tanto faz). Chapeuzinho Vermelho teve sua primeira publicação no final do século 17 por Charles Perrault, mas a versão mais conhecida é a de 1857, dos Irmãos Grimm, por sua vez também uma revisão da edição dos Grimm de 1812. Drácula é de 1897, quarenta anos depois da versão mais popular do conto de fadas.
Drácula e os contos de fada possuem em comum o objetivo — explícito nos contos de fada e implícito em Drácula — de assustar as jovens (da corte, da burguesia, etc.) de forma a seguirem as normas sociais vigentes. Aquela que transgride é morta. A que se comporta é salva. Ou, ainda, aquela que quer votar é uma ameaça e deve ser eliminada pelo homem mítico, viril, poderoso e “possuidor” de muitas mulheres.
Existem, é claro, pequenas delícias. Na página 256 da edição da Zahar, por exemplo, lemos este trecho:
Ouvimos sua exclamação de espanto e saímos em silêncio. Por sorte, conseguimos tomar um fiacre perto do Spaniards e voltamos para o centro da cidade.
A edição é comentada e, em uma das ótimas notas de rodapé, descobrimos que Spaniards é uma hospedaria e pub que existe até hoje e que foi frequentada por nomes como Lord Byron, John Keats e, Charles Dickens que, por sinal, também cita a Spaniards Inn em seu livro As aventuras do Sr. Pickwik (1836).
O final feliz de Drácula é o Bem vencendo o Mal, quando uma Mina vampirizada e prestes a se tornar um demônio é salva e volta a ser angelical. Os agentes do final feliz são os homens bons, justos, honestos, do lado da ciência. Em Frankenstein, o agente do final feliz é o monstro que, por sua vez, mata aquele que está do lado da “ciência”, encerrando então a série de assassinatos e libertando a população civil (“não-monstro”) de um destino cruel.
Tanto um livro quanto outro possuem ainda muito mais nuances e camadas possíveis de leitura. Apresentei aqui uma possibilidade de interpretação. Não é a única.