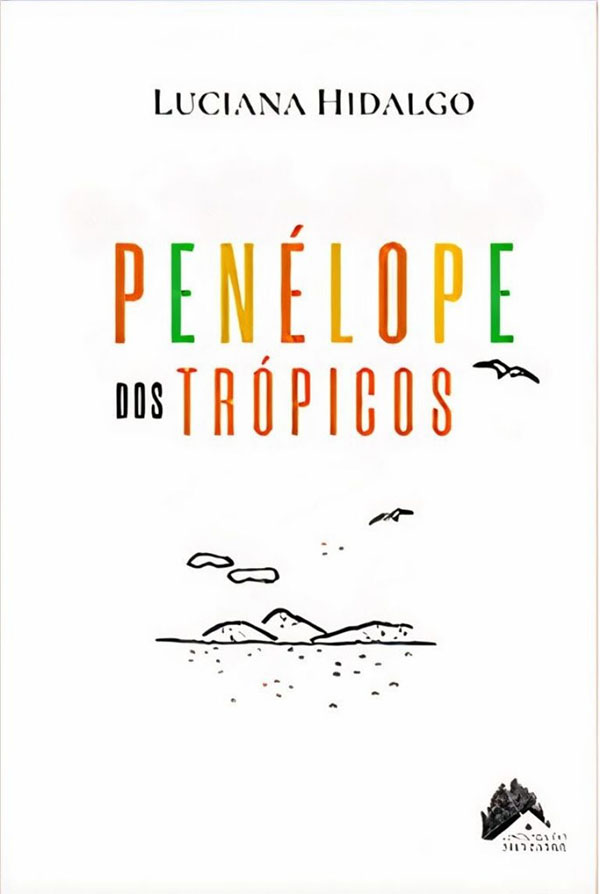Penélope é nome conhecido. Clássico a tal ponto que chega a ser natural que carregue algumas expectativas. A mulher que por anos enganou pretendentes-invasores conforme esperava o retorno de Ulisses é um símbolo vasto. Dependendo de quem enxerga, ela representa a astúcia, a fidelidade, a resiliência, a paciência; pessoalmente, acima de tudo, vejo em Penélope símbolo de esperança e confiança inabaláveis. Tentei não deixar que essa visão moldasse expectativas para a leitura de Penélope nos trópicos — mas acabou não sendo necessário. Essas são duas das principais características da personagem criada por Luciana Hidalgo. Contudo, existe uma grande diferença entre a Penélope odisseica e a brasileira: enquanto a primeira aguardava o retorno de seu marido, depositando suas esperanças em um homem e nos deuses, a segunda age em prol de dias melhores e tem a esperança de que seja possível superar o clima político atual — e deposita sua esperança nos deuses.
A presença dos deuses — especialmente Ποσειδῶν (de Poseidon), deus padroeiro de Penélope, cujo papel no romance acaba sendo maior que se suspeita — é só uma das inúmeras referências à Grécia antiga, seus filósofos, poemas e ideais, incutidos na cabeça de uma Penélope criança por seus pais hiperintelectualizados. Importante dizer, isso não é feito com peso. As descrições de Hidalgo frequentemente têm beleza incomum, a leitura é quase sempre leve e a escrita, mesmo quando pesa nas referências, tende a ser brincalhona — em alguns casos, até demais.
O primeiro incômodo com esse ponto veio quando, num espaço de cinco linhas, descobri que o personagem Teco tinha um irmão gêmeo chamado Tico, e que esse irmão havia morrido tragicamente num acidente com a mãe dos dois, quando eram crianças. A dissonância de tom não me pareceu bem-vinda aqui, mistura tão flagrante piada boba e morte trágica. Embora com menos intensidade, isso volta a acontecer ao longo do romance, e talvez derive do caminho desafiador escolhido por Hidalgo, que parece fazer o possível para contar de maneira engraçada e leve acontecimentos desagradáveis e trágicos. Embora essa mistura nem sempre funcione, o fato de que na maior parte do romance ela consiga fazê-lo com sucesso já é um feito. E isso não significa, claro, que em momento algum a autora fuja do tom divertido. O curto capítulo chamado Tauromaquia, por exemplo, retrata a repressão policial violenta a um protesto pacífico para contestar a eleição de Bolsonaro. Não há nada de engraçadinho aqui — embora o uso da palavra “contestar” seja um tanto infeliz por indicar que as manifestações buscavam derrubar o resultado democrático, e Hidalgo nunca mencione o nome de Bolsonaro, talvez para dar mais longevidade ao romance.
A participação de Penélope no episódio em questão, em que um policial a atinge com grande quantidade de spray de pimenta a curtíssima distância, deixando-a cambalear tateando seu caminho em meio à multidão que apanha e foge dos policiais, gera um vídeo viral, transformando-a num símbolo de luta, que de repente se vê vítima de ameaças de neonazistas e fascistas, de desrespeito dos próprios vizinhos e ataques à biblioteca onde trabalha. Tudo isso, curiosamente, não parece ter peso tão grande para Penélope. A leveza da personagem tem total coerência com a do texto que narra sua história, e seu modo de tipificar as pessoas se encaixa perfeitamente bem aos interessantes personagens tipo que a circundam, cada um resumo de tantas pessoas que encontramos a nosso redor hoje em dia — o intelectual depressivo e incapaz de ação, o militar neoliberal e fascista, o jovem rico leitor de Marx e militante de esquerda, os corpos de academia que caminham pelas praias. Todos representados. Só existe um grupo de pessoas cuja representação me pareceu deixar um tanto a desejar.
Presença x agência
O último capítulo de Penélope nos trópicos começa com um trecho que me parece bastante esclarecedor:
Nada nesse mundão-de-meu-zeus é mais comovente do acompanhar humanos cumprindo seus Destinos […] Para os deuses, acocorados nos píncaros dos mundos, é uma diversão observá-los, desde que a uma distância higienicamente segura.
O trecho acima me remeteu a outro momento, bem mais próximo do início do livro, quando Penélope comenta sobre a maneira como ela e Teco “assistiam”, num sentido só da palavra, aos moradores da favela que viam do alto do prédio onde moravam. Nesse trecho, além de despejar uma gênese um tanto apressada e descuidada do tráfico nos morros, a narração coloca Penélope na mesma posição do deus que a protege. A favela, para Penélope, é obsessão, tema de sua monografia, algo a que ela assiste o tempo todo — embora nunca visite ou sequer interaja com qualquer morador de lá. É, basicamente, um objeto de caridades imaginárias.
Infelizmente, o que chama a atenção como ponto fraco do livro é uma espécie de elitismo intelectual. Existem, aqui e ali, alguns personagens humildes, de origem pobre, sem muito estudo ou leitura, mas a fala deles nunca é relevante. O único personagem pobre que tem qualquer agência dentro do livro é Severino, clara referência a João Cabral, que numa noite de fúria com o emprego miserável e insalubre, que o obriga a viver em cômodo subterrâneo na garagem do prédio onde Penélope mora, arrebenta o carro de diversos moradores e foge. Detalhe: Severino faz isso depois de aprender com uma caridosa moradora a ler, além de algo de filosofia, deixando escrita na parede a frase “Penso, logo existo”, famosa afirmação de Descartes. O acontecimento, imagino, foi pensado como demonstração do poder emancipatório e revolucionário da educação, mas me soou quase como reforço desse elitismo intelectual que se mostra, em vários momentos, nas entrelinhas do romance.
Concordo, sem dúvida alguma, que leitura e a educação têm sim relevância e capacidade de impulsionar ações ou mudar destinos; e não acho, como tantos, que a literatura e o estudo dos clássicos, sejam literários ou filosóficos, não têm nada a acrescentar à nossa compreensão do mundo ou a auxiliar em nossa tomada de decisões práticas — pensasse assim, não escreveria resenhas literárias. Mas o romance de Hidalgo hipervaloriza essas ideias. Penélope, em certo momento, afirma que uma das coisas que levam pessoas a fazerem barbaridades é “aquela mediocridadezinha básica”, o que, ao que o livro parece indicar, se refere à inferioridade intelectual. Sua proposta de manifestação é uma em que todos levam um livro e leem o que quiserem em voz alta, numa cacofonia sem direção. Penélope nunca inclui ou considera em seus planos e ideias as maiores vítimas da desigualdade e da repressão contra as quais ela deseja se manifestar, a não ser como motivos abstratos de seus feitos, sem ação ou palavra, vítimas do ativismo dessa personagem que se deseja mitológica. A manifestação que citei acima é exemplo disso, à medida que chama a atenção para a importância da leitura, mas o faz de modo que impede qualquer analfabeto de participar dessa mesma luta.
Antes de concluir, peço que não leiam o trecho acima e entendam que o livro é culpado do maior elitismo já visto. Talvez, no ato de selecionar trechos para exemplificar meu entendimento da obra, eu passe a impressão de que esse problema é maior do que de fato é, e, embora seja relevante, especialmente considerando tema e contexto, o que você lê acima são algumas palavras e acontecimentos que se espalham ao longo de centenas de páginas. É uma questão importante, mas não é a única. O livro vale muito a pena, e acerta nas críticas que faz ao fascismo, ao neoliberalismo e à repressão policial.
No fim, fico com a sensação de uma obra com críticas fortes e necessárias, por vezes, infelizmente, acompanhadas de uma visão afim à do filantropo que doa milhões para um país que passa fome — mas quer supervisionar e decidir pelos habitantes como esse dinheiro deve ser investido, questionando a capacidade de pessoas “menos esclarecidas” de entender e agir da melhor maneira para sanar a própria necessidade.