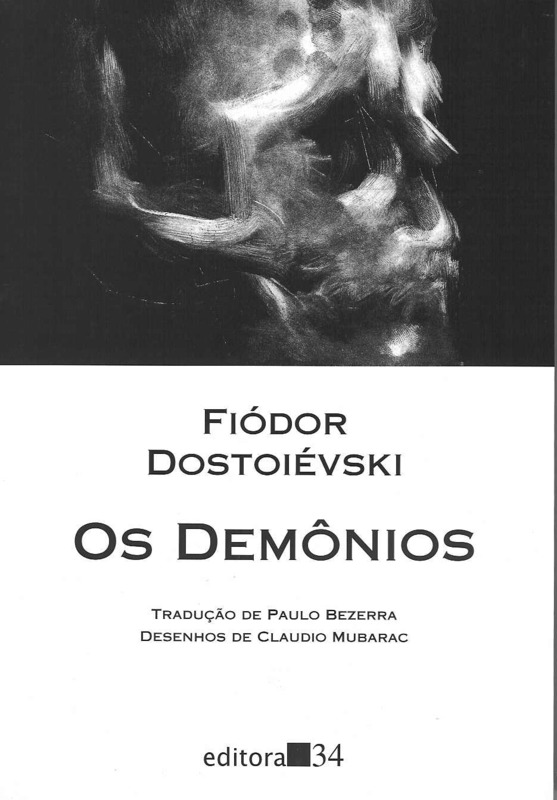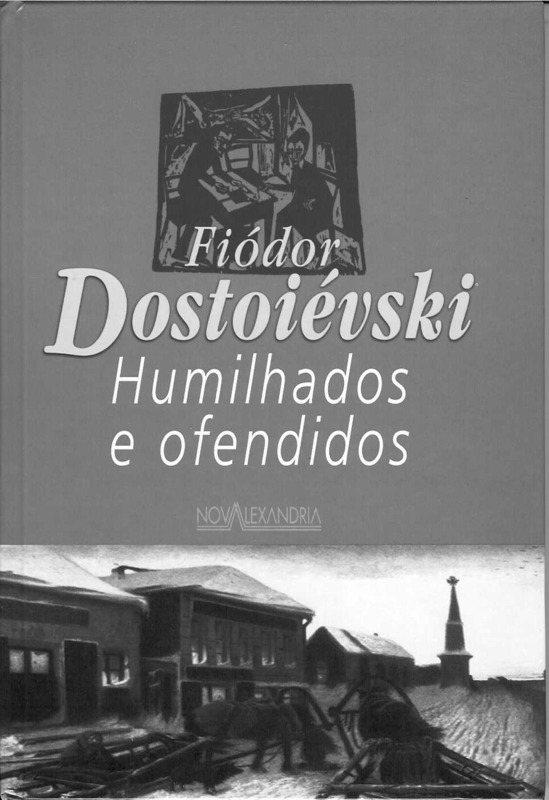Em Crime e castigo[i], romance de 1866, Fiódor M. Dostoiévski (1821-1881) cria um dos tipos mais inesquecíveis de sua galeria de retratos — o estudante Raskólnikov, que, numa água-furtada e em condições de miséria quase absoluta, tenta erguer-se às alturas do super-homem de Nietzsche. Revolucionário radical, desejoso de reorganizar a sociedade injusta, ele descrê da existência de Deus; em suas lucubrações, raciocina que “se Deus não existe, então tudo é permitido”. Para se testar, mata uma anciã usurária que nunca lhe fez mal, mas, no seu entender, é uma pessoa inútil. Esse tema do indivíduo a mais, do homem excedente, do homem supérfluo, à margem do movimento revolucionário então em marcha, é tema constante no ficcionismo russo do século 19. Foi discutido por Turguêniev, por Tchékhov e outros autores, e Dostoiévski, como um dos integrantes da “escola natural” (não significa naturalismo), que teve no crítico Vissarión Bielínski[ii] (1811-1848) o seu maior ideólogo, também se fez ouvir a respeito.
Temas e temáticas da literatura vão e voltam por refletirem a realidade, que avança e retrocede, como que às cegas. Romancistas russos condenaram o homem excedente, há quase dois séculos, e hoje, nas madrugadas frias de São Paulo, justiceiros anônimos matam mendigos. Aos parasitas sociais de ontem correspondem hoje os excluídos. Exterminá-los, como forma de assepsia, é um recurso em crescendo, por enquanto dissimulado nas grandes cidades e explícito em guerras como as do Afeganistão e Iraque. Nesse andor, os detentores do poder econômico e militar acabarão por institucionalizar a faxina.
Diferente seria, no entanto, o rumo, a conclusão do pensamento de Dostoiévski, e isso porque ele estava preocupado acima de tudo com a natureza íntima, com a essência do homem, e não propriamente com o seu engajamento político. Embora na mocidade tivesse participado de um grupo de extremistas, o que lhe valeu prisão, processo judicial sumário, simulação de fuzilamento e deportação para a Sibéria, onde conviveu com muitos tipos de criminosos, incluindo agentes terroristas empenhados em detonar o tzarismo, Dostoiévski sempre se sentiu atraído pela possibilidade cristã de redenção por via do sofrimento. Nele se destaca o escritor de fundo moral, empenhado em recomendar a salvação das almas como tentativa de implantar novo pacto social. Joseph Conrad também pensou assim, Tolstói buscou a purificação no misticismo — por isso são criadores modernos, atuais. Tiveram a grandeza — grandeza da arte, bem entendido — de mexer nas fezes que recobrem o coração humano.
Uma vez que a prática do bem não traz compensação divina, o homem estaria livre para fazer o mal, pensou Raskólnikov. Acaso não dizia o filósofo que “Deus não criou o homem. O homem é quem criou Deus”? O ponto de partida da tragédia pessoal de Raskólnikov está na perda da fé, como, de resto, ocorre no mundo contemporâneo. O personagem dostoievskiano veio a ser redimido, sintomaticamente, por uma prostituta, Sônia, dada a leituras do Evangelho. Em cena de um extremismo que raia o delírio, ele cai aos pés da sua redentora — e com esse gesto, adverte o romancista, também se prosterna “diante do sofrimento da humanidade.” Isso na ficção. Na vida real, quem redimirá os pecadores — aqueles que, não propriamente por vontade sua, foram desiludidos quanto à Divindade e ao destino imortal do homem?
Cena assemelhada se repete em Os Irmãos Karamázov, quando conflitos de família são levados ao julgamento de um homem santo, o padre Zósima, que se ajoelha não diante do pai corrupto e empulhador, que será assassinado por um dos quatro filhos, mas diante de quem, vítima do sofrimento, irá purgar mais, por si mesmo e por todos eles — o sensual Dimítri.
Este será, na ficção de Dostoiévski, um dos motivos capitais: a culpa e a expiação. Em penitenciária na Sibéria, o ficcionista colheu a substância de Recordações da casa dos mortos, reportagem artística com teor científico sobre a perversão instintiva em certos homens. Jogador compulsivo, habituado a perder grandes somas em mesas de jogo, ele próprio sente a necessidade de se vergastar: roja-se aos pés da mulher, que havia empenhado até o anel de casamento para fornecer-lhe dinheiro, procura seu desafeto Turguêniev, na Alemanha, para ser humilhado. Oscila no grande ficcionista russo um pêndulo barroco: ou este sobe, sublimando-se, ou se arrasta na vilania. O grande crítico Bielínski, que se mostrara simpático para com o livro de estréia de Dostoiévski, Pobre gente, condena o pesado traço barroco em novela posterior, A senhoria.
Outra vertente dostoievskiana será o dinheiro — um algoz permanente. Como Balzac, Dostoiévski viveu atolado em dívidas. Gastava por conta. Chegou a tomar adiantamento sobre uma possível segunda edição de O idiota, que ainda não havia concluído, para sobreviver e ir à roleta no estrangeiro. Dinheiro é para ele anjo e demônio. Em The secret agent[iii], romance de Joseph Conrad publicado em 1920, e que abriu caminho a Graham Greene, conversam dois personagens anarquistas. Um deles considera “o futuro tão certo quanto o passado — escravidão, feudalismo, individualismo, coletivismo”. Seu interlocutor pergunta: “Sabe o que eu diria das atuais condições econômicas? Diria que são canibalísticas. Isso mesmo! Alimentam sua ganância na carne trêmula e no sangue quente do povo — nada mais, nada menos”. A conclusão a tirar-se do texto conradiano é que o capitalismo exacerbado engendrou a organização social reinante contra a qual investem agora, com bombas, os anarquistas e terroristas. The secret agent, mais uma preocupante fábula de fundo moral das muitas escritas por Conrad, originou-se de um episódio real, a tentativa de explodir o Observatório de Greenwich, em 15 de fevereiro de 1894 — ato que destroça quem o executa e provoca o suicídio de sua irmã. O terrorismo na Europa, fica claro, é mais antigo do que o atentado na estação ferroviária de Atocha, Espanha, e do que a invasão por separatistas tchetchenos de uma escola na Rússia atual, com o sacrifício de mais de 300 pessoas, na sua maioria crianças, quando os soldados de Vladimir Putin forçaram o resgate.
Conrad, a exemplo de Dostoiévski, sofreu uma experiência política funesta, à sombra do tzarismo. Com a mãe Ewa, acompanhou o pai Apollo Korzniowski ao exílio, quando abortou em 1863 a insurreição pela libertação da Polônia e sua unidade territorial. O futuro romancista ficou órfão de mãe aos sete anos, e de pai aos onze. Fazer política em regimes autocráticos, que não admitiam contestação, envolvia riscos de destruição pessoal e familiar, conforme lembra Frederick R. Karl a propósito de Conrad[iv]. The secret agent, ambientado em Londres e enraizado em episódio concreto de atentado anarquista, conclui ironicamente que “o público já não reage a assassinatos, perdeu o gosto pela arte, habituou-se ao terrorismo. Reage apenas a uma grande destruição sem objetivo”. Palavras que antecipam certamente a banalização do sofrimento coletivo, a banalização do medo. Este, de tão presente, já se torna familiar a todos nós nestes nossos dias. Restaria, nesse caso, a suficiente eloqüência de um Armagedon atômico? Amargurado com as desigualdades dos sistemas políticos, Conrad quer agarrar-se a alguma crença, a algum vislumbre de satisfação pessoal, nem que limitado a um estoicismo moral difícil de ser transposto ao plano coletivo, já que a Democracia representativa falha na proposta do pacto social, e o Estado hipertrofiado tende a impor a plutocracia. Em suma, a mesma visão dostoievskiana da corrupção fundamental do indivíduo e das instituições.
Ambos os romancistas, Dostoiévski e Conrad, acolhem mais adiante Franz Kafka. São eles os profetas do medo e os visionários de uma descrença que atiça a revolta dos excluídos.
Essa revolta resulta em parte da escravização ao dinheiro, da competição gerada pelo dinheiro. Há em O idiota, romance de 1869, uma cena inesquecível, dessas que mexem pela vida inteira com emoções primordiais. O príncipe Míchkin, sempre a se debater entre a simplicidade chã dos idiotas e os rasgos carismáticos da santidade, entra na disputa pelo amor de Nastássia Filípovna. Estão todos reunidos em casa desta, no capítulo 16, final da Primeira Parte, quando entra o impetuoso e desvairado Rogójin com os seus comparsas. Acaba de obter por empréstimo cem mil rublos e entrega o dinheiro a Nastássia: é dela, em troca de uma noite de amor. Inflamada, sentindo-se à venda, em leilão público, Nastássia arremessa o pacote de dinheiro às chamas da lareira e humilha Gânia, um dos seus pretendentes, instando-o a resgatá-lo com as mãos. As labaredas envolvem os cem mil rublos, os convivas entreolham-se, aturdidos e atônitos. Uns entram em agonia. Gânia tem uma síncope. O maço de cédulas vem a ser retirado pela própria Nastássia. Afinal, não se queima dinheiro inutilmente, por simples capricho. A soberana pecúnia exige vassalagem. Nastássia parte com Rogójin, perseguidos por Míchkin. Os dois inimigos apaixonados velarão, em lágrimas, no final desse estonteante romance folhetinesco, em que monstruosidades e santidades se alternam, o corpo da bela e ambígua Nastássia assassinada pelo brutal Rogójin.
Aos chamados “romances políticos” conradianos — entre eles Heart of darkness e Nostromo — corresponderiam, em Dostoiévski, Crime e castigo, Recordações da casa dos mortos e Os demônios. O russo “meditava… na corrupção política e espiritual do Ocidente”, mas não propõe alternativa, o seu pensamento se satisfaz em formular uma paródia da via-crúcis cristã. Seu modelo, mais difuso que a “religião” pregada por Tolstói, jamais se transforma em ação, ao contrário da política de resistência passiva de Gandhi. É mera forma de estar-no-mundo, um mundo conturbado, é simples atitude. Aliás, na sua curta apresentação de Aliekséi Fiódorovitch, o Aliócha de Os irmãos Karamázov, o romancista duvida seja ele “um grande homem” merecedor, por conseguinte, da etiqueta de “herói” — ainda que herói de texto ficcional —, e contemporiza: “Seria estranho, em nossa época, exigir clareza das pessoas”. Aliócha é de fato estranho: tem um doce temperamento de monge. Escapa ao que Aldous Huxley chamou “norma central da humanidade”, à qual poderíamos acrescentar agora o dado novo da perda da crença. Aliócha demonstra fé robusta. Em que, mais precisamente? Talvez na bondade. Costuma se transformar em anteparo nos entrechoques das pessoas. Atua como saco de pancadas, vence por imposição da sua misericórdia. Mas nem sempre a misericórdia abranda sentimentos contaminados pela barbárie — aquelas irrupções de barbárie que estremecem de quando em quando o tecido social da Rússia, como a lembrar-lhe as raízes tribais, as nômades etnias eurasianas, os tempos de tzares cruéis. Há consciências falidas, há impiedades irreversíveis.
Retratos impressionantes, personagens que são metáforas vivas, que parecem resumir teses complexas. Dostoiévski há de ter posto neles os espasmos mais evidentes da sua epilepsia, um desequilíbrio nervoso que o fazia derramar-se, numa incontinência verbal e num desequilíbrio formal de gênio en état de rêve — um sonho angustiado, um pesadelo. A ambigüidade lateja nas entrelinhas. Quem, de fato, será esse estranho Míchkin, parente espiritual de Aliócha? Um grande homem ou um imbecil? Talvez nem o próprio Dostoiévski soubesse ao certo. Na resignada coragem com que enfrenta as tentações do mal e se salva, ou se imola, Míchkin parece uma paródia de Jesus Cristo: leva um tapa e ri; depois se entristece ao descobrir o remorso do agressor. Um dos maiores exegetas de Dostoiévski, Romano Guardini, ressalta naquele personagem a bondade suprema, o amor desinteressado. “Nele, é o Cristo quem se manifesta”, assegura Guardini.
O romancista russo opõe a “religião do sofrimento” ao eslavismo radical. Assim age em Os demônios, onde retoma esboços e idéias de Crime e castigo e Recordações da casa dos mortos, para não mencionar sua experiência pessoal como ativista político. Um dos personagens, Kirilov, é uma projeção de Raskólnikov, um daqueles “demônios incuráveis” a que se referiu Otto Maria Carpeaux[v]. Mais que qualquer outro romance dostoievskiano, Os demônios tem aquele movimento pendular, maniqueísta, entre o ateísmo, que produz homens infernais “num inferno terrestre”, e o antídoto da santidade — se não alcançada, pelo menos buscada e desejada com todas as cordas da alma. Em Dostoiévski o centro da gravidade estará sempre num dos extremos, ele vivia essa dualidade, tinha dentro de si um duplo, a novela O Sósia relata a perda da identidade e a sua busca infrutífera. Dostoiévski queria muito escrever um romance sobre a perda da fé, condenando o ateísmo, mas o projeto falhou por já estar exposto em toda a sua obra, por meio de enredos e personagens que se repetem ou se completam. Ivan Karamázov, com o seu socialismo ateu, com a sua inata subversão de pensamento, também é um demônio que instila na mente de um dos irmãos a decisão de cometer o parricídio.
A dualidade passa do campo psicológico ao campo político, mais precisamente religioso, neste opondo ocidentalismo e eslavofilia. De um lado, os intelectuais que desejavam modernizar a Rússia por via da europeização. De outro, os que pregavam o retorno aos valores históricos, típicos, da velha Rússia, como forma de dar-lhe uma espécie de força carismática, brotada do seu eu profundo, do seu misticismo galvanizador. Os personagens “bons” de Dostoiévski, que são os Alióchas, as Sônias, as Aglaias, os Míchkin, contribuem pela prática da bondade para que se consume a missão divina, messiânica, da Rússia, que seria a de regenerar o Ocidente. Nessa falange de guerreiros do bem entram os humilhados e ofendidos do romance homônimo, de 1861, em que um dos personagens, Ivan Petróvitch, foi identificado como sósia do próprio autor, e onde toda a carga da corrupção humana empenhada em disseminar o mal deriva de um aristocrata.
Turguêniev era do partido ocidentalista, Dostoiéviski se alistava com os eslavófilos. Houve entre os dois escritores um antagonismo feroz derivado de seus posicionamentos estéticos e políticos. Pierre Pascal, admirador francês de Dostoiévski, observa, a propósito desse engajamento, que os personagens inclinados à bondade no ficcionismo dostoievskiano significam o retorno à ortodoxia, aos traços psicossociais do povo russo — isso que constitui o cerne da “escola natural”, ou seja, nacionalista, emanada de Gogol e tantas vezes enunciada por seu grande epígono, o crítico Bielínski. Para este, “tudo que é vivo é o resultado de uma luta”, e essa luta ressalta na literatura russa, que, a seu ver, “se distingue pelo violento antagonismo de seus fenômenos”. O realismo será “o método mais poderoso de conhecimento e representação da realidade objetiva”, mas, segundo tal dialética, Dostoiévski teria assento nessa escola literária? Se Dostoiévski desprezava nos seus romances a descrição de paisagens, a caracterização de ambientes, o levantamento criterioso da moldura “sociológica” dos personagens, que incluiria forçosamente seus meios de vida, e, em troca, insistia numa realidade interior, psicológica, como se os personagens fossem psiquismos ambulantes, como filiá-lo então à “escola natural”? Mas essa corrente de pensamento literário não tinha ainda, ao tempo de Bielínski e com Bielínski, o radicalismo estreito do “realismo socialista” pós-revolucionário. Havia que considerar “o caráter inconsciente da criação”, de que participavam tanto o escritor quanto o leitor. Na concepção de Kant, a criação, ainda que “indeterminada”, não dispensaria um objetivo, que adviria da “substância” espiritual do povo. Ela poderá ascender, assim, à “tribuna social” sem prejuízo do seu pathos, e contribuir para que fosse forjado o “caráter nacional”. O pathos, para Bielínski, é “uma paixão viva”, é a “inspiração central” da obra literária, tocada pela “individualidade” do autor, ou seja, o seu ponto de vista. No “realismo” de Dostoiévski predominava a paisagem intima, com os conflitos de consciência e as naturais inquirições de quem se sente atônito, desajustado e oprimido. O cenário pode estar incompleto ou nu, os protagonistas talvez careçam de uma caracterização externa, mas exprimem uma “verdade” que vem do meio e é reconhecida de imediato como legítima. Os protagonistas dostoievskianos representam, mais que individualidades inspiradas pelo meio social, idéias, angústias, buscas. E, por terem esse teor “coletivo”, são forças em movimento, trazidas a um debate existencial de origem popular, nativa. Questionado quanto ao caráter supra-real de suas ficções, Dostoiévski considerou bem real o que outros viam de fantástico e excêntrico em sua obra: “Sou um realista da alma humana”, disse ele. Uma pergunta se impõe: se Bielínski tivesse vivido mais, a tempo de alcançar as obras-primas de Dostoiévski, qual a sua reação a esse realismo psicológico? O grande crítico elogiou com ressalvas o romance Pobre gente, no qual encontrou “compaixão pelo homem.” No entanto, romances como O idiota e Humilhados e ofendidos, folhetinescos à maneira do Eugène Sue de O judeu errante e Os mistérios de Paris, são lidos “com a respiração em suspenso”, como disse Otto Maria Carpeaux. Antes de tudo, são romances-folhetim de um gênio; suas metáforas, longe de parecer pétalas ao vento, parecem arrancadas da carne viva dos mais simples anseios, frustrações e tormentos humanos. Talvez esse realismo se possa explicar da seguinte maneira: transformar o ficcional no possível seria, para nós, uma redenção na qual, enquanto dura a magia do romance, acreditamos piamente. Esta é a realidade da arte, mais poderosa que a realidade da vida — e nós a deduzimos de uma observação de Carpeaux, um mestre da crítica.
Dostoiévski foi guiado por uma intuição que Agrippino Grieco chamou de “cegueira sublime”[vi]. Se fica a dever quanto à missão messiânica da Rússia (Bielínski previu, em artigo de 1840, que a Rússia de um século depois seria “um país democrático, progressista, à testa da humanidade esclarecida”), o inferno do mundo contemporâneo reproduz os seus pesadelos — os mesmos, resultantes da perda da crença, que levaram o bondoso Míchkin à total idiotia.
Notas
[i] Citações extraídas das Obras Completas de Dostoiévski, editadas pela Livraria José Olympio Editora.
[ii] V. Bielínski, Essais critiques. Les Editions du Progrès, U.R.S.S., 1976.
[iii] Joseph Conrad, The Secret Agent, A Signet Classic (Penguin), U.S.A, 1983.
[iv] Introdução a The Secret Agent.
[v] , “Dostoiévski no Mundo dos Karamázov”, introdução a Os Irmãos Karamázov.
[vi] Introdução a O Ladrão Honrado (Várias Histórias).